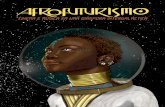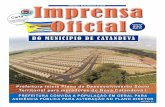Alonso Angel Are Sen Ha
-
Upload
anonymous-i8yclfad -
Category
Documents
-
view
217 -
download
1
description
Transcript of Alonso Angel Are Sen Ha

Resenhas
Ângela Alonso, Idéias em movimento: a geração1870 na crise do Brasil Império. São Paulo, Paz eTerra, 2002, 392 pp.
João Ehlert Maia
Doutorando em Sociologia no Iuperj
Como tratar de forma original um tema tão fami-
liar à imaginação intelectual brasileira como esse, o
da famosa “geração 1870”? Como apreender o sen-
tido dessa geração, que abriga nomes tão díspares
quanto Joaquim Nabuco, Alberto Salles, Sílvio
Romero, Lopes Trovão, entre tantos outros? Como
interpretar sociologicamente um conjunto que reúne
liberais, republicanos, positivistas e federalistas, to-
dos às voltas com Spencer, Comte e Darwin? Uma
alternativa seria seguir o padrão que parece lenta-
mente se impor nas áreas de estudos voltadas para o
chamado “pensamento social brasileiro”: o tratamen-
to monográfico de autores e obras, recurso que per-
mitiria maior precisão conceitual e interpretativa
diante das generalizações esquemáticas. Essa alter-
nativa, que já rendeu excelentes pesquisas e ainda
pode render outras, não é a seguida por Ângela
Alonso em Idéias em movimento: a geração 1870 na
crise do Brasil Império.
É interessante apontar, inicialmente, as opções
rejeitadas na pesquisa, por indicarem quais cami-
nhos novos a autora deseja trilhar. De saída, Alonso
descarta uma das mais tradicionais abordagens, que
classifica os personagens em função de suas filiações
intelectual-doutrinárias. Essa recusa não é gratui-
ta. De acordo com a autora, isso seria conferir ao
mundo intelectual do período (Segundo Reinado)
uma autonomia e uma complexidade inverossímeis.
Como falar de escolas intelectuais num cenário em
que política e letras se misturavam de forma tão
provocadora? Ademais, assumir filiações e prefe-
rências como índice seguro de classificação signi-
ficaria atribuir peso excessivo às próprias inter-
pretações dos atores do período, como se a visão
que os mesmos construíram a respeito de suas tra-
jetórias já esgotasse o processo de pesquisa socio-
lógica. A opção por uma abordagem que buscasse
correspondência direta entre ideologia e grupos

Resenhas
Tempo Social – USP328
sociais (como “cientificismo = expressão de seto-
res médios emergentes”) também é afastada, dada
a pluralidade de atores que compunham essa ge-
ração – setores médios, por certo, mas também grupos
tradicionais decadentes. Ora, então onde estaria o
sentido do protesto coletivo que sacudiu o Impé-
rio e propiciou uma explosão de “idéias novas”? O
argumento da autora é cristalino, e trabalhado exaus-
tivamente ao longo do livro: a geração de 1870 deve
ser compreendida a partir de um marco analítico
que destaque a experiência compartilhada de seus
membros. Com esse movimento, a autora busca evitar
a clássica dualidade que opõe cultura e prática social,
problema que assola qualquer estudo sobre idéias
e intelectuais. Assim, o trânsito intelectual entre Europa
e Brasil não é tratado como um processo autôno-
mo infenso ao jogo social “nacional”, como se ao
analista restasse apenas a tarefa de determinar o maior
ou menor grau de “imitação” presente nesse trânsi-
to. Mas, ao mesmo tempo, as idéias não são deduzidas
aprioristicamente a partir da localização cartográfica
dos grupos na estrutura de classes. As “idéias no-
vas”, nos diz a autora, são ferramentas, mobiliza-
das seletivamente a partir dos critérios que orga-
nizavam a luta política na crise do Segundo Rei-
nado. Estão em movimento.
Alonso busca numa literatura mais comumente
associada a outros campos de pesquisa o instru-
mental necessário para confeccionar um enquadra-
mento singular para seu objeto. Assim, autores como
Tilly, Swindler e Tarrow são mobilizados para a
compreensão de um movimento que, na perspectiva
da autora, nunca teria sido propriamente “intelec-
tual”, mas antes uma ação coletiva animada por
um profundo desejo de intervenção política. O que
unificaria os diversos membros da famosa geração
seria uma coleção de críticas novas ao status quo
imperial e saquarema, críticas essas assentadas em
uma experiência comum de marginalização polí-
tica, e não a filiação doutrinária ou a pertença a
esta ou aquela classe social.
Ao longo do texto, Alonso trabalha com um “tri-
pé” conceitual que a auxilia a encaminhar o argu-
mento principal. Comunidade de experiência, repertó-
rio e estrutura de oportunidades políticas formam o ar-
cabouço a partir do qual a autora interpreta a ação
coletiva da geração e o sentido prático-político que
orientaria esse “movimento social”. De uma certa
forma, os capítulos centrais estão estruturados justa-
mente em torno de cada um desses conceitos, o que
facilita a exposição da hipótese e o acompanhamento
do raciocínio desenvolvido.
No primeiro capítulo, a autora apresenta o regi-
me imperial, seus valores, práticas e modus operandi.
Demonstrando habilidade para lidar com a biblio-
grafia consagrada ao tema e combiná-la com clássi-
cos sobre a formação social brasileira (e aqui o re-
curso principal é ao ensaio de Florestan sobre a re-
volução burguesa no Brasil), Alonso delineia o que
considera serem os eixos principais na legitimação
do status quo saquarema: o indianismo romântico, o
liberalismo estamental e o catolicismo hierárquico.
Todos esses elementos teriam alimentado a energia
intelectual envolvida nas disputas que acirraram a
crise no Segundo Reinado, momento em que os
conservadores se viram obrigados a um exercício
constante de racionalização em torno dos funda-
mentos da ordem ameaçada. O segundo capítulo,
possivelmente o mais ricamente documentado, in-
vestiga os diferentes grupos que compunham a ge-
ração de 1870 (liberais republicanos, novos liberais,
positivistas abolicionistas, federalistas positivistas do
Rio Grande do Sul e federalistas científicos de São
Paulo) e destaca a experiência comum de margina-
lização política. Essa marginalização, é claro, seria
relativa, e diria respeito antes ao esgotamento de
possibilidades de realização profissional e intelec-
tual dentro dos limites estreitos da ordem imperial
do que a uma efetiva posição de subordinação so-
cial dentro dessa mesma ordem. Manejando rica pes-
quisa empírica, a autora mostra como integrantes
destacados da geração tiveram aspirações e projetos

329junho 2004
Resenhas
de ascensão emperrados pelo imobilismo da má-
quina saquarema, incapaz de dar conta da dinâmica
moderna que se gestava no Brasil no período. O uso
da categoria “marginalização” é decerto afrouxado,
o que permite incluir nessa situação nomes tradi-
cionais com proeminência parlamentar, como Joa-
quim Nabuco. Esse capítulo talvez seja o mais rele-
vante para o encaminhamento do argumento, na
medida em que busca caracterizar sociologicamen-
te a geração de 1870 sem obscurecer sua evidente
heterogeneidade interna. Alonso não hesita em mos-
trar como o elo de solidariedade entre seus inte-
grantes era algo frágil, já que construído não em
torno de identificações profissionais ou intelectuais,
mas por uma situação histórica contingente.
O capítulo 3 é o mais intrincado do livro. Como
já foi dito, a abordagem da autora é centrada no
tratamento político de um movimento em geral visto
como puramente “intelectual”. Mas como a absor-
ção das idéias que movimentavam a Europa na se-
gunda metade do século XIX por parte dos mem-
bros da geração é uma parte central da investigação
do movimento de protesto, é imprescindível abrir a
literatura produzida por esses personagens. É preci-
so, diz a autora, compreender seu repertório, ou seja, a
gramática intelectual mobilizada pelos agentes na
formação de um movimento coletivo.
Nas extensas análises que faz de obras seminais
dos principais autores envolvidos, Alonso demons-
tra segurança e conhecimento dos debates que en-
volviam positivistas, darwinistas, “cientificistas”,
abolicionistas, liberais ou combinações entre esses
elementos. O critério de interpretação que usa é
condizente com sua linha argumentativa: esses es-
critos devem ser compreendidos como peças pro-
duzidas pela absorção política de idéias européias,
ou seja, como obras que visariam a atacar funda-
mentos da ordem imperial saquarema, e não avan-
çar no campo da teoria política. Com esse procedi-
mento, a autora afasta-se novamente de abordagens
tradicionais que enxergam nos membros da geração
de 1870 “intelectuais” envolvidos em polêmicas
doutrinárias. Contudo, o próprio desenvolvimento
do capítulo suscita outras leituras do problema. Ao
abrir a literatura examinada, Alonso pontua discus-
sões ricas, que certamente revelariam novos ângulos
de análise para os interessados no tratamento her-
menêutico desses textos. O debate entre america-
nismo e iberismo, por exemplo, ganha sutilezas e
contornos inesperados na interpretação da autora,
que apenas pincela um possivelmente produtivo di-
álogo com os escritos de Werneck Vianna a respeito
do tema. Como sua linha interpretativa rejeita aná-
lises mais próximas ao universo da História das Idéias
e dedica-se a um tratamento sociológico amplo de
toda uma geração, Alonso nesse capítulo termina por
apresentar inúmeras análises interessantes e criativas
que infelizmente não podem ser mais aprofundadas.
O capítulo 4 e a conclusão do livro arrematam
de forma precisa o argumento. Após trabalhar a co-
munidade de experiência e o repertório, Alonso finaliza
seu tripé conceitual analisando a estrutura de opor-
tunidades que se teria gestado no período e forne-
cido uma gama de recursos organizacionais para os
membros da geração. A conjugação de urbanização,
desenvolvimento econômico e maior complexida-
de do tecido social imperial teria possibilitado aos
personagens pesquisados espaços novos de mobili-
zação que escapavam ao estrangulamento vivido no
sistema partidário. Assim, o olhar de Alonso volta-se
para os comícios, os novos jornais e os manifestos
que se multiplicavam e teriam possibilitado a arti-
culação de um movimento heterogêneo que com-
partilhava como princípio identitário apenas um
antagonista. Na interpretação da autora, a geração
de 1870 é indissociável do surgimento de um “proto-
espaço público”, na medida em que sua própria
experiência de marginalização e o aprofundamento
do capitalismo no país (com a conseqüente intro-
dução de novos personagens e tipos sociais) teriam
forçado a abertura de novos lugares sociais para o
fazer político. O esgarçamento da dinâmica Partido

Resenhas
Tempo Social – USP330
Liberal/Partido Conservador e a cisão dentro da
própria elite imperial seriam outros componentes
desse processo de alargamento da vida pública. Ao
final, a caracterização dessa ampla coalizão é feita
pela autora com o recurso ao conceito de “refor-
mismo”. Diante da heterogeneidade interna da ge-
ração e das inúmeras tensões que terminaram por
minar uma unidade que por si só já seria precária,
Alonso opta por unificar conceitualmente os diver-
sos matizes de rebeldia sob a égide do combate ao
imobilismo imperial – ao fim e ao cabo, único prin-
cípio que permitiria a agregação da diversidade.
Curiosamente, volta-se aqui a uma matriz operató-
ria clássica da política “à brasileira”, como bem per-
cebe a autora: a moderação – que no registro de
Alonso possui contornos negativos, sendo associada
ao elitismo que caracterizaria o processo histórico
nacional. Certamente se poderia cotejar esse fecho
com notações mais positivas desse “traço” nacional,
em especial aquelas que, centradas no conceito
gramsciano de revolução passiva, buscam uma in-
terpretação do Brasil que escape à dicotomia “re-
forma versus revolução”.
O percurso feito por Alonso ao longo do livro é
decerto instigante e original. Pode-se questionar a
centralidade conferida pela autora ao tema da margi-
nalização política como critério sociológico de com-
preensão do objeto e sua utilização “alargada”, mas
não a densidade da pesquisa que sustenta essa tese e
a coerência argumentativa que a encaminha. O ris-
co de compactar de forma excessiva a heterogenei-
dade da geração de 1870 é assumido e enfrentado
sem que o rigor da abordagem escolhida seja ate-
nuado, o que faz com que esse trabalho seja exem-
plar no campo da metodologia disciplinar. Ao final,
o resultado que se lê em Idéias em movimento: a gera-
ção 1870 na crise do Brasil Império não é apenas posi-
tivo pelo que está apresentado no argumento prin-
cipal, que por si só já garante um lugar de relevo
para esta obra, mas também pelas sugestões e trilhas
de pesquisa abertas pela autora em um tema já tão
visitado pelas nossas ciências sociais. Cabe ao leitor
interessado o desafio de seguir essas trilhas e mobi-
lizar de forma criativa esse trabalho de Ângela Alonso.
Enio Passiani, Na trilha do Jeca: Monteiro Lobatoe a formação do campo literário no Brasil. Bauru,Edusc, 2003, 276 pp.
Flávio MouraProfessor de Teoria do Jornalismo na Facamp
e editor da revista Novos Estudos, do Cebrap.
Comemorações do aniversário de São Paulo e mi-
nisséries globais à parte, o momento é de revisão das
idéias estabelecidas sobre o modernismo. Desde o
final dos anos de 1990, vêm sendo publicados di-
versos trabalhos que tratam de atenuar o caráter trans-
formador do movimento e compreendê-lo a partir
de um ponto de vista mais distanciado que o dos
críticos responsáveis pela supervalorização de seu le-
gado. Trabalhos como o de Tadeu Chiarelli, Annate-
resa Fabris e Sergio Miceli, entre os de vários outros
autores, têm se ocupado de identificar os elementos
conservadores que lhe serviram de base, de relativizar
algumas de suas conquistas estéticas, de entendê-lo
mais como continuidade do que como ruptura e de
desmontar seus pressupostos à luz do projeto de li-
derança empreendido por seus artistas de maior des-
taque e pelos críticos mais ligados a eles.
Em boa medida, Na trilha do Jeca, trabalho de
mestrado do sociólogo Enio Passiani publicado no
fim de 2003, pode ser aproximado a essa linhagem.
A proposta é entender, a partir do exame da obra de
Monteiro Lobato e de sua atuação editorial, como
ele passou a ocupar posição hegemônica no campo
literário brasileiro nas duas primeiras décadas do
século XX – e como sua perda de influência nos
anos seguintes se liga à ascensão do grupo moder-
nista. “Os modernistas fizeram de Lobato o símbolo
maior de um passado que devia ser enterado; por-

331junho 2004
Resenhas
tanto, matá-lo (e junto com ele toda uma geração
de escritores) significava declarar finalmente a vitó-
ria modernista”, afirma Passiani nas primeiras pági-
nas de seu livro.
A morte simbólica de Lobato a que o autor se
refere, decretada por Mário de Andrade em 1926
num artigo publicado no jornal carioca A Manhã,
é um dos episódios de que se vale para mostrar como
o embate direto com os líderes do modernismo con-
tribuiu para que ele fosse excluído do grupo e, como
tal, impedido de colher os frutos simbólicos que essa
associação poderia trazer. A partir de uma análise so-
ciológica desse processo, Passiani procura elucidar os
motivos que levaram a crítica ortodoxa a enxergar
Lobato como contista medíocre e autor regionalista
de pouco calibre, ainda que pudesse considerá-lo um
grande autor infantil. Ao mesmo tempo, trata de re-
constituir a posição social do pré-modernismo no
bojo da história cultural do país, visto que a própria
acepção de “pré-modernismo” não pode ser enten-
dida fora do contexto da luta simbólica empreendi-
da no interior do campo literário.
O livro divide-se em quatro capítulos. No pri-
meiro, “As peças do quebra-cabeça”, o autor busca
demonstrar como o confronto travado contra os
modernistas se deu mais em razão das semelhanças
que das diferenças existentes entre os dois lados. Preo-
cupado em desvelar um Brasil “real”, para além das
idealizações românticas, defensor de uma literatura
engajada nos problemas do país, de uma linguagem
literária coloquial e direta, pródiga em neologismos,
inserida numa pesquisa estética séria, Lobato se te-
ria ocupado de um projeto literário em muitos as-
pectos semelhante ao de autores modernistas, que
por isso viam nele um obstáculo à possibilidade de
se instituírem como os renovadores por excelência
da arte brasileira. “Os modernistas se auto-repre-
sentavam como uma ruptura radical em relação ao
passado literário nacional e a presença de Lobato,
sua obra, denunciava que não havia uma ruptura
drástica, mas, ao contrário, uma certa continuidade
no processo histórico de formação de nossa litera-
tura”, lembra o autor.
Adiante nesse primeiro capítulo, o maior do li-
vro, Passiani faz rápida leitura da obra de críticos
ligados ao movimento, entre eles Sérgio Buarque de
Holanda, Mário da Silva Britto e Antonio Candido,
e empenha-se em mostrar como foram aos poucos
construindo um discurso que instituía o modernis-
mo como o momento supremo de ruptura com o
passado. O corolário dessa construção teria sido a pró-
pria definição do momento literário que sucede o
realismo-naturalismo e antecede a Semana de Arte
Moderna de 1922 como “pré-modernismo”, rótu-
lo sugestivo de que nesse período estava em jogo
apenas uma preparação para os movimentos da ge-
ração seguinte. “Ao contrário do que a pena mo-
dernista mostra”, escreve o autor, “o período ante-
rior também constitui um momento de ruptura com
os moldes poéticos preconizados pela estética art
noveau, e representou a primeira tentativa de se co-
nhecer o país a fundo por meio de uma nova lin-
guagem: a narrativa literária, pela primeira vez na
história da literatura brasileira, se mostrou explicita-
mente como uma ferramenta para o conhecimento
das condições ‘reais’ do país”.
No capítulo seguinte, “Na trilha do Jeca”, Passiani
refaz a trajetória de Lobato e os caminhos que per-
correu para penetrar no ambiente intelectual da
época, do ingresso na Faculdade de Direito do Lar-
go São Francisco aos primeiros artigos em O Estado
de S. Paulo, veículo fundamental para a divulgação
de seu nome no país. “O artista e seu projeto cria-
dor” e “Crise à vista” são os capítulos que fecham a
argumentação. O primeiro deles, único a trazer aná-
lise de texto propriamente dita, apresenta uma lei-
tura de Urupês e de Cidades mortas, os mais impor-
tantes entre os primeiros livros de Lobato, contra-
pondo-os à atividade do escritor como editor, crucial
para entender sua inserção no campo literário. O
último capítulo aponta como, a partir de 1925, com
a falência de sua casa editora, o fracasso de seu ro-

Resenhas
Tempo Social – USP332
mance O presidente negro, publicado no ano seguinte,
e a ascensão do modernismo, sua influência no cam-
po intelectual se reduz drasticamente.
Torna-se mais simples entender essa montagem
argumentativa se levarmos em consideração que a
principal referência teórica do autor é Pierre Bour-
dieu. Mais especificamente, a noção de campo for-
mulada pelo sociólogo francês. De modo simplifi-
cado ao extremo, é possível entendê-la como um
sistema inclusivo de relações e posições predetermi-
nadas que abrangem, à maneira dos postos disponí-
veis no mercado de trabalho, classes de agentes pro-
vidos de propriedades de um tipo determinado. A
cada uma dessas posições estariam associadas toma-
das de posição estéticas ou ideológicas. Dessa ma-
neira, a tentativa de traçar o modo como as catego-
rias em questão puderam ter acesso a essas posições,
como faz Passiani nesse trabalho, é o ponto de par-
tida para uma análise que pretenda dar conta do
problema. Essa abordagem envolve ao menos três
aspectos fundamentais: em primeiro lugar, a posição
do artista na estrutura da classe dirigente; em segun-
do, a concorrência interna em busca de legitimida-
de cultural; e, em terceiro, as disposições socialmen-
te constituídas do agente. Segundo a formulação de
Bourdieu, a essas disposições corresponde a idéia de
habitus, entendida como princípio gerador e unifi-
cador do conjunto de práticas e ideologias caracte-
rísticas de um grupo determinado.
A familiaridade de Passiani com o conceito e a
preocupação em delineá-lo em seus menores mati-
zes é perceptível ao longo de todo o trabalho. Veja-
se, por exemplo, a relação de Lobato com a Acade-
mia Brasileira de Letras. Em 1919, por sugestão de
amigos, o escritor começa a aventar a hipótese de
candidatar-se à ABL. De início, contudo, mostra-se
refratário à idéia, alegando que não tinha “feitio
acadêmico”. Nesse ponto, Passiani demonstra em
pormenores como era possível sustentar essa afir-
mação. Na época, Lobato era o autor de maior des-
taque no campo literário brasileiro, capaz de insti-
tuir ele próprio critérios de legitimação intelectual
a partir dos autores que escolhia para publicar por
sua editora. Adepto de uma escrita que se queria
próxima da linguagem popular, e portanto incom-
patível com as “gramatiquices” dos acadêmicos, Lo-
bato tinha cacife para tirar proveito da opção de
posar de independente no campo. A partir de 1925,
contudo, quando sua editora vai à falência, os escri-
tores modernistas assumem a dianteira e seus livros
deixam de emplacar, o escritor tenta uma vaga na
Academia, o que se mostra uma maneira de recupe-
rar parte dos bens simbólicos perdidos e garantir
sua sobrevivência no campo.
A equação que se propõe para o problema é
engenhosa: como esnobara a academia nos anos an-
teriores e não foi eleito para o posto, o escritor acaba
enveredando para a literatura infantil. Praticamen-
te o inventor do gênero no país e ainda hoje sem
rival à altura, Lobato teria visto nessa prática um
modo de explorar um nicho ainda virgem, a par-
tir do qual poderia reconstruir a carreira e gran-
jear prestígio como criador. Apresentado com as
devidas ressalvas – a escolha não seria uma estra-
tégia consciente do escritor, mas um tipo de in-
tuição decorrente do habitus literário internalizado
a partir da experiência no campo –, esse tipo de
formulação exemplifica a boa mão do sociólogo para
associar as tomadas de posição às disputas que se
travam no interior do campo. É nessa mesma chave
que se pode ler a associação entre a posição social
do escritor, herdeiro de uma família de fazendei-
ros decadentes do vale do Paraíba, e o espaço de
que dispunha no jornal O Estado de S. Paulo, ge-
rido por uma família que defendia interesses se-
melhantes. Ou a relação entre o discurso feito por
Ruy Barbosa em 1919, em que o jurista baiano
elogiava Urupês, e o sucesso comercial estrondoso
obtido pelo livro, de resto beneficiado pelo fato
de Lobato ter sido seu próprio editor.
Alguns desajustes, no entanto, ficam visíveis na
caracterização da “força revolucionária” da obra

333junho 2004
Resenhas
lobatiana. No terceiro capítulo, em que procura dar
base a essa visão a partir da leitura dos textos, por ve-
zes Passiani recorre a qualificações do tipo “lingua-
gem exata”, “texto enxuto”, “texto que leva o leitor
à reflexão”, as quais sugerem certo desequilíbrio en-
tre a visada sociológica e a literária, além de uma de-
fesa talvez exacerbada de seu objeto de análise. Essa
mesma defesa aparece nos trechos em que analisa o
confronto entre Lobato e Anita Malfatti, deflagrado
pelo conhecido artigo “Paranóia ou mistificação?”,
de 1917. Com base no trabalho de Tadeu Chiarelli,
Passiani lembra que Lobato não era um crítico ama-
dor, mas um dos mais talhados analistas de artes plás-
ticas de sua época, e que a reação dos modernistas a
esse artigo só adquiriu grande proporção em razão
da importância que atribuíam ao criador do Jeca
Tatu. Mas não discute, por exemplo, o possível pre-
conceito contra os imigrantes que poderia animar a
invectiva de Lobato, hipótese que Sergio Miceli le-
vanta em seu Nacional estrangeiro e que, num estudo
detalhado e bem fundamentado como o de Passiani,
mereceria atenção pormenorizada.
Note-se, ainda, que a publicação do livro do so-
ciólogo envolve um paradoxo curioso: o trabalho
ganhou o prêmio de melhor dissertação de mestrado
no concurso CNPq-Anpocs de 2002. O selo da pre-
miação é impresso de modo ostensivo na capa do
livro, assim como, no prefácio, são reiteradas as refe-
rências ao trabalho de fôlego do jovem sociólogo,
que “anuncia um projeto de vida intelectual de en-
vergadura” e “ultrapassa as expectativas firmadas”. É
como se, no limite, a chancela da instância de consa-
gração representasse ao mesmo tempo uma reco-
mendação e uma ressalva. Como se estivéssemos
diante de um trabalho excepcional para o início de
carreira, e não simplesmente de uma ótima pesquisa.
Feitas as contas, é disso que se trata: de um livro
de primeira linha, mais uma fonte da qual não pode-
rão fugir os estudiosos de Lobato e do modernismo.
Ismail Xavier, O olhar e a cena: melodrama,Hollywood, cinema novo, Nelson Rodrigues. SãoPaulo, Cosac & Naify, 2003, 384 pp.
Sergio Mota
Professor do Departamento de Comunicação Social
da PUC-Rio
Há quem acredite que o cinema pode ser um lugar
de revelação, de acesso a uma verdade por outros
meios inatingível. Dentro do projeto de revelação
do mundo para o olhar, toda leitura de imagem é
produção de um ponto de vista. É quase impossível
conceber uma cultura submetida ao olhar em que a
visão não detenha prioridade. Por exemplo, ao ele-
ger a visibilidade como proposta para este milênio,
Italo Calvino afirma que não se pode correr o risco
de perder “a capacidade de pôr em foco visões de
olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de
um alinhamento de caracteres alfabéticos negros
sobre uma página branca, de pensar por imagens”.
Para o escritor italiano, a experiência contemporânea
é pressionada por um acúmulo de imagens sucessivas
que não conseguem se sustentar por si mesmas, di-
luindo-se antes de adquirir consistência na memó-
ria daquele que vê. O que confere à visibilidade
estatura de proposta é, justamente, a capacidade de
ser um meio transparente, através do qual a realida-
de se apresenta à compreensão. Sem contar que, quan-
do Calvino elege a visibilidade como um valor lite-
rário a ser preservado, não a situa no campo da vi-
são, mas no da imaginação.
Vive-se hoje um mundo dominado de todos os
lados pelas imagens, e esse excesso impõe novos re-
pertórios visuais, ao lado de uma idéia recorrente
que afirma que tal saturação imagética contribui para
uma “falha” no aprendizado do ver. Assim, a questão
que se desenha é: de que forma a cena do mundo
pode ser codificada diante de uma multiplicação
infinita de imagens? No que diz respeito ao olhar, é
possível alguma pedagogia que auxilie na apreensão

Resenhas
Tempo Social – USP334
desse mundo saturado, em que tudo se dá ou se põe
a ver? Os teóricos pós-modernos revelam que a su-
perabundância induz a um estado de desorientação
no qual a percepção não se preocupa se as imagens
reproduzem ou não o mundo, na discrepância entre
imagens e realidades, olhar e cena, entre significan-
tes e significados. Convertidos em meros produtos
de entretenimento, os signos podem deixar de apon-
tar para um mundo de diferenças e de novas possi-
bilidades e criar a simples vertigem da representa-
ção, para espectadores reais e virtuais (ver, nesse sen-
tido, o livro Paisagens urbanas, de Nelson Brissac
Peixoto).
A importância que a imagem e a visualidade
vêm assumindo na epistemé moderna e a existência
de um alhures do espetáculo são investigações de O
olhar e a cena, de Ismail Xavier. Com o olhar arguto
que lhe é peculiar, o crítico arregimenta temas e fil-
mes basilares da cinematografia mundial e nacional,
a fim de demonstrar os liames que sustentam as rela-
ções entre a estrutura do drama, o lugar da cena e o
papel do espectador no cinema diante da oferta de-
senfreada de imagens. Em um primeiro momento, a
sondagem teórica de Xavier passa, obrigatoriamen-
te, pela delimitação do lugar do melodrama teatral
no cinema que nascia com o século XX. Resultado
imediato de uma época marcada pela inconstância e
por precários índices de estabilidade (o século
XVIII), a estrutura melodramática apresentou ao es-
pectador a inversão desse estado de coisas. No lugar
de uma instabilidade permanente a reboque do de-
senvolvimento capitalista, um universo codificado,
sem riscos, facilmente reconhecido e estruturado
com rigidez, dentro de valores que se opunham na
simplificação de duas instâncias: o bem e o mal. Nes-
sa rígida estrutura encontra-se, portanto, uma tam-
bém rígida dualidade (dicotômica, na visão de
Xavier) e uma irremediável oposição na qual não há
possibilidade de conciliação por parte dos persona-
gens. Em sua pesquisa, o crítico reconhece que tais
experiências estabelecem um jogo com uma cons-
trução ilusionista de impacto visual, cuja conse-
qüência imediata provoca no herói melodramático
estados emocionais reveladores que jamais se alojam
no meio do caminho, em pontos intermediários. É
justamente o melodrama o responsável por fornecer
a esse espectador desorientado pelos níveis de acele-
ração advindos da Revolução Industrial uma espécie
de cartilha da moralidade (um mundo que ainda
tem espaço para reconciliações, conforme afirmou o
crítico em outra ocasião).
Nessa delimitação das relações entre melodrama
e cinema, Xavier reconhece que o melodrama, após
a Revolução Francesa e durante o século XIX, fun-
cionou como uma espécie de motor que impulsio-
nou as origens do cinema (e, mais tarde, da televi-
são), alimentando-o de enredos rocambolescos, de
sentimentalismos e moralismos centrados no inevi-
tável maniqueísmo, representados por atores que ti-
nham na grandiloqüência e no exagero da forma
sua principal marca. Dentro dessa perspectiva, o li-
vro de Ismail Xavier não deixa de ser uma historio-
grafia de um certo tipo de olhar que encontra no
naturalismo engendrado pela cena burguesa do sé-
culo XVIII uma aceitação tácita da ilusão. Nesse tipo
de drama, a cena se revela um lugar de autonomia
que não dá conta do olhar que o espectador, em
outra instância, lança sobre ela. Reproduzir na cena
o mundo tal como ele se apresenta é tarefa ensinada
pelo Iluminismo. Nesse sentido, a cena ganha auto-
nomia pela naturalidade que sua representação en-
cerra e deve ser um espaço discreto, sem o uso de
aparentes artifícios e gestos que prejudiquem tal acei-
tação incondicional.
Nesse percurso crítico, é o cinema clássico o her-
deiro do lugar ocupado pelo espectador, principal-
mente pelo fato de que o dispositivo cinematográfi-
co inaugura um deslocamento importante em rela-
ção à estrutura teatral. Com o cinema, a imagem que
ocupa o lugar do espectador revela um espaço que se
organiza à revelia dele, dentro de uma dimensão ter-
ceirizada (porque externa) engendrada pelo olhar

335junho 2004
Resenhas
da câmera. O que se revela diante desse olhar, princi-
palmente em relação aos dispositivos de representa-
ção, é um mundo que apresenta um retrato fiel da
realidade, mais que uma instância de “naturalismo”,
encenado como tal, para garantir a identificação do
espectador com a cena descrita que se amalgama
com a vida. Como resultado imediato, olhar do es-
pectador e olhar da câmera são faces da mesma moe-
da e parceiros nessa astúcia da representação. “A pro-
jeção da imagem na tela consolidou a descontinui-
dade que separa o terreno da performance e o espaço
onde se encontra o espectador, condição para que a
cena se dê como uma imagem do mundo que, deli-
mitada e emoldurada, não apenas dele se destaca mas,
em potência, o representa”, define o crítico, na tenta-
tiva de compreender a logística dessa nova forma de
representação arregimentada pelo cinema.
Essa estratégia da construção da cena como
imago mundi ou como microcosmo privilegiado,
para fins de ilusionismo (algo como afirmar que o
espectador faz parte da cena e com ela se confunde
ou identifica), é habilmente demonstrada por Xavier,
que disseca esses dispositivos de representação em
dois momentos modelares, representados por D. W.
Griffith (clássico do cinema norte-americano em
formação), que se serviu em excesso do modelo me-
lodramático, e Alfred Hitchcock, que superou ironi-
camente tal estrutura, utilizando artimanhas meta-
lingüísticas, para revelar uma outra logística do espe-
táculo (nesse sentido, valem o livro as análises de dois
filmes do diretor inglês, Vertigo e, principalmente, Ja-
nela indiscreta).
Em um segundo momento, Ismail Xavier volta-
se para a produção nacional, a fim de discutir estraté-
gias de atualização da matriz melodramática nas mi-
nisséries de Gilberto Braga (Anos dourados e Anos re-
beldes). Interessa ao crítico, nesse momento, revelar os
possíveis liames entre as formas do melodrama (e a
persistência de tal modelo) e o realismo, e também
demonstrar, por outro lado, de que forma a televisão
foi o agente que procurou constituir um certo senso
comum pós-freudiano no Brasil, que passa a legiti-
mar novas estratégias morais de inspiração humanis-
ta. Xavier, em uma leitura precisa, identifica os es-
quemas melodramáticos de tais objetos e revela de
que maneira, principalmente em Anos dourados, apa-
rece uma certa modernização que conserva a estru-
tura do melodrama clássico, o que responde, por um
viés conciliatório, à crise do modelo patriarcal.
Apesar de ser uma coletânea de textos publica-
dos em ocasiões distintas, impressiona o fato de o li-
vro não cometer, em nenhum momento, o pecado
irreparável da falta de conjunto, comum nesses casos.
A mudança da transitoriedade de textos dispersos
para a durabilidade do livro é relevante para se anali-
sar até que ponto uma reunião de ensaios pode per-
der o foco e a objetividade. Não é o caso de O olhar e
a cena, dono de uma unidade evidente que enfeixa
seus artigos e se ramifica por suportes teóricos dife-
renciados: uma reflexão a respeito dos desdobra-
mentos do melodrama em diferentes canais de re-
presentação, uma tentativa de colocar em xeque “os
problemas enfrentados na crítica dos filmes cuja in-
terpretação se enriquece a partir do cotejo com for-
mas da encenação teatral herdadas pelo cinema” e,
principalmente, um estudo da maneira, na saturação
de imagens da indústria cultural e do produto de
massa, como os filmes analisados sobrepujaram (ou
ratificaram) o viés ilusionista do cinema e das artes.
Esse esqueleto teórico de um pensamento críti-
co irrefutável encontra sua apoteose na leitura que
Xavier faz da obra de Nelson Rodrigues, o que ocu-
pa boa parte do livro e um módulo inteiro (“O ci-
nema novo lê Nelson Rodrigues”). O crítico exa-
mina as adaptações cinematográficas do autor de A
falecida sob a perspectiva da transformação do país
nos últimos quarenta anos, o que faz, pelo menos
desse capítulo, uma reflexão de referência no campo
dos estudos sobre esse autor. No cinema brasileiro,
nunca houve um escritor que tenha inspirado tan-
tos filmes como Nelson (cerca de vinte longas), en-
tre 1952 e 1999. Como já havia feito com as produ-

Resenhas
Tempo Social – USP336
ções anteriores, Xavier reconhece os elementos
melodramáticos de tal dramaturgia e a forma com
que o cinema se apoderou desse repertório de cri-
ses, que não permite retorno aos padrões nem dá
espaço para reconciliações, consoante revela o críti-
co nas leituras que realiza, entre outras, dos filmes
Boca de ouro (1962), de Nelson Pereira dos Santos, e
A falecida (1964), de Leon Hirszman, que procura-
ram solucionar tensões entre a necessidade de cons-
trução realista e os textos de que partiram. Com a
intenção de fazer um balanço dessa produção cine-
matográfica, a análise reconhece que o momento
mais produtivo desse conjunto de adaptações se deu
quando houve uma clara intenção, na escolha de
tom e gênero, de, por meio dos filmes, radiografar o
Brasil e produzir um extrato de diagnósticos que
revelam, principalmente nas obras adaptadas por
Arnaldo Jabor, as contradições do processo de mo-
dernização, com ares tragicômicos e alegóricos.
Na verdade, reconhecer o lugar que ocupa o es-
pectador em relação à cena que se disponibiliza é,
de certa forma, dentro de uma perspectiva históri-
co-social e estética, entender a natureza específica
da experiência audiovisual como interface espaço-
temporal, em que se entrechocam o tempo das nar-
rativas, a linguagem de imagens visuais e o sujeito
projetado nesse jogo, que não é apenas o sujeito do
discurso fílmico, recurso interno do texto como re-
lação de enunciação. É, também, corpo social e his-
toricamente em processo. Como afirma o próprio
crítico: “Para existir em sociedade, em especial no
império do marketing e da competição, precisamos
criar a cena, estar disponíveis diante de um olhar
que nos toma como objeto, nos oferecer como es-
petáculo, cumprindo os protocolos de sua geome-
tria e de seu desempenho. Há variadas formas dessa
geometria e de seus componentes, lugares específi-
cos de manifestação que se mesclam ao mundo prá-
tico e se expandem sem fronteiras claras no dia-a-
dia, no núcleo familiar, nos confrontos em socieda-
de, em tudo que a crítica cultural já observou sobre
o poder, o erotismo e a sedução, na esfera pública e
na vida privada”.
Ruy Coelho, Tempo de Clima. São Paulo, Pers-pectiva, 2002, 142 pp.
Fernando Antonio Pinheiro Filho
Doutor em sociologia pela USP, professor
da USP e da FESPSP
Primeira navegação
A reunião dos escritos publicados por Ruy Coelho
na revista Clima entre 1941 e 1944, ora editados em
livro, dá ensejo não só à apreciação direta de seus
achados e eventuais deslizes na atividade crítica, como
permite também, de um viés mais sociológico, acom-
panhar o valor expressivo dos textos como marcos
dos posicionamentos do autor no interior do grupo
de redatores da revista, desse grupo no campo da
crítica de arte que pretendia reconfigurar e da in-
fluência de tal episódio no direcionamento das car-
reiras intelectuais dos envolvidos. Nos limites desta
resenha, pretende-se alinhavar os últimos aspectos
mencionados, buscando atribuir à obra de estréia
seu peso específico no desenrolar da trajetória do
autor.
Na divisão do trabalho intelectual entre o gru-
po de jovens alunos da Faculdade de Filosofia da
USP que funda a revista em 1941, Ruy Coelho é
aquele que não tem uma função específica: para fi-
car no núcleo central, lembremos que Antonio Can-
dido trata de literatura, Paulo Emílio Salles Gomes
de cinema, Décio de Almeida Prado de teatro; a Ruy,
o mais jovem, coube o papel do curinga (conforme
a expressão assumida pelo próprio) que, além desses
temas, cuida ainda de erigir uma teoria da crítica,
ligada em sua visão à filosofia e à estética, e via de
regra articulada com a análise substantiva das obras.
É talvez essa ausência de uma determinação mais
específica, correlata à busca de um caminho pessoal,

337junho 2004
Resenhas
que dá a ver como se faz o entranhamento da socia-
bilidade vivida no texto.
Sob esse aspecto, o longo ensaio sobre a obra de
Proust que abre o volume (publicado no primeiro
número de Clima, em maio de 1941) interessa so-
bretudo pelas escolhas de filiação que ora revela, ora
deixa entrever. Precisamente, refiro-me aqui à recu-
sa do pensamento de Bergson como baliza de com-
preensão do romance proustiano, contra a vertente
que vê na recriação do real pelo pensamento como
condição de sua realidade, sugerida no Em busca do
tempo perdido, a realização literária da identificação
entre realidade da consciência e experiência da du-
ração preconizada pelo filósofo. Na análise de Coe-
lho, tal visão é preterida em favor do racionalismo
dos discípulos de Kant,cuja concepção de conheci-
mento estaria mais próxima de Proust. Vale assinalar
que tal corrente, conhecida como neo-criticismo
francês, serve de base filosófica à sociologia de Dur-
kheim, que não por acaso argumenta sobre a natu-
reza social do tempo e vê na crítica à orientação es-
pacializante da inteligência que impediria a apreen-
são do real como duração uma clara deriva de Bergson
em direção ao irracionalismo. Ou seja, nesse movi-
mento, o jovem aluno de ciências sociais acena si-
lenciosamente para a escola francesa de sociologia e
reivindica sua adesão a um racionalismo que pon-
tua todos os textos do livro, e que para além da es-
colha teórica sanciona a adoção de um tom elevado
no estilo como marca de competência, mas retendo
a ambigüidade de filiação disciplinar na ausência de
menção e de uso do aparato sociológico de crítica.
Procedimento semelhante é usado no artigo de
junho de 1942 (número10 de Clima), “Introdução
ao método crítico”, plataforma de trabalho ancora-
da na dupla recusa dos estilos científico e impressio-
nista de crítica. Ao último, assimilado imediatamen-
te à produção da geração modernista (cujo nome
emblemático é o de Mário de Andrade, citado como
exemplo), Coelho reprova a excessiva projeção da
interioridade do crítico, nublando a objetividade do
juízo. Quanto ao primeiro, a sugestão é não mais de
acúmulo, mas de ausência de subjetividade que dis-
solveria a obra ao reduzi-la à configuração social de
origem. A solução, segundo o autor inspirada em
Hegel (que, de resto, é a referência teórica mais pre-
sente no livro) e em Sartre, consiste em encontrar o
ponto de vista do autor para, pondo-se assim na obra,
apreender seu movimento imanente e revelar sua
essência – como a revelação da essência é tradicio-
nalmente tarefa da filosofia, o novo método, que há
de superar todos os outros, é batizado de crítica filo-
sófica. Claramente, tal construção teórica correspon-
de à necessidade de fundação de um novo lugar no
campo intelectual, eqüidistante da cultura artístico-
literária dos criadores e da cultura científica da
objetivação plena da obra; entre a herança crítica
modernista e os limites do rigor acadêmico. Nesse
sentido, o artigo de Ruy Coelho procura contribuir
para realizar o que enuncia, consolidando o projeto
coletivo de que se fez porta-voz.
A polivalência de Coelho (ao longo dos artigos
o leitor encontra ainda textos sobre música, cine-
ma, política) funciona então no registro da não-
especialização adequada às formulações mais abran-
gentes, que no nível expressivo resolve-se no ma-
nejo de um efeito de erudição obtido por meio de
recursos como o controle de uma linguagem esté-
tica inespecífica mas dúctil. Por exemplo, neste trecho
que se refere a um romance: “A palheta do autor
acha-se singularmente enriquecida nesta obra. Aban-
donou o claro-escuro em que era mestre. Seu es-
tilo se coloriu de várias cambiantes novas pela ne-
cessidade de descrição do mundo exterior em seus
aspectos pitorescos” (p. 56). Ou ainda no comen-
tário sobre a relação entre música e pintura no
filme Fantasia de Disney.
A consideração da música brasileira revela outro
mecanismo tendendo ao mesmo efeito, que consiste
em desqualificar esteticamente a tradição popular,
no texto intitulado “Uma voz na platéia”, em cujo
final o autor se escusa do petulante de sua atitude

Resenhas
Tempo Social – USP338
pela intenção de interpretar os desejos da platéia – é
sua a voz que fala em nome dos que se calam. Nou-
tro lance, sua voz volta-se à fustigação de outro ícone
da geração anterior, Oswald de Andrade, cujo ro-
mance Os condenados é impiedosamente desqualifi-
cado, não sem algum espírito de cálculo, conforme
deixa entrever no último parágrafo do texto: “Não se
doa Oswald com as críticas, talvez severas em exces-
so. Achei meu dever de moço exprimir a opinião
sincera acerca desse livro de mocidade” (p. 81).
Ou seja, o arsenal crítico do jovem que julga é
comparativamente superior ao arsenal literário do
jovem criador objeto de sua crítica, o que antecipa a
consagração daquele mediando-a com a posterior
consagração deste. Note-se que, nesse e nos outros
escritos reunidos, Coelho faz uso de demonstrações
explícitas de erudição como constantes remissões a
uma ampla gama de autores consagrados e citações
no original em diversas línguas, o que reforça a le-
gitimação do que diz.
Sem dúvida é a competência intelectual do au-
tor que garante o êxito da empreitada. De fato, a
revista serviu de veículo institucional de expressão
para os novos críticos, que por meio dela ingressam
na crítica cultural em órgãos da grande imprensa,
suscitam a admiração de nomes como Sérgio Milliet
e Vinicius de Morais, e logram viabilizar suas carrei-
ras. Mas a ambivalência da posição construída fará
com que sua estabilização dependa em maior ou
menor grau do ingresso como professor na mesma
universidade em que todos se conheceram como
alunos, deslocando para o interior do campo acadê-
mico o embate vivido anteriormente, mas agora sem
a mesma unidade. O fato de Ruy Coelho integrar-
se tardiamente à Faculdade de Filosofia, em 1953,
após formação como antropólogo nos Estados Uni-
dos, num período de oito anos que começa imedia-
tamente após o final da revista em 1945, ganha nova
luz diante da experiência do jovem curinga que o
livro permite acompanhar.
Sandra Jacqueline Stoll, Espiritismo à brasileira.São Paulo, Edusp/Orion, 2004, 296 pp.
Yvonne MaggieProfessora titular de Antropologia da UFRJ
Espiritismo à brasileira começa com um fascinante re-
lato da presença de Francisco Cândido Xavier, o
famoso médium Chico Xavier, no programa Pinga
Fogo da TV Tupi em 1971, em um evento inédito e
ao vivo: a transmissão de uma sessão mediúnica.
Coincidentemente, esse foi o mesmo ano em que o
exu Seu Sete da Lira, incorporado na médium dona
Cacilda, incendiou a cidade do Rio de Janeiro com
sua aparição espetacular, também ao vivo, nos pro-
gramas de Chacrinha e de Flávio Cavalcanti.
O livro dedica-se a entender a reinterpretação
que se fez no Brasil do espiritismo francês de Allan
Kardec. Seus escritos, e os de outros autores euro-
peus espíritas na segunda metade do século XIX,
venderam quase tantas cópias quanto A origem das
espécies de Darwin.
Mas enquanto na Europa a doutrina de Allan
Kardec minguou, no Brasil se manteve muito viva.
Stoll aborda o espiritismo em terras brasileiras por
meio da análise da vida de Chico Xavier, falecido
em 2002, e, como contraponto, do estudo da traje-
tória de outro seguidor do espiritismo de inspira-
ção kardecista tupiniquim ainda atuante, Luiz An-
tonio Gaspareto. A autora argumenta que cada um
desses personagens incorpora uma das duas verten-
tes, ou versões, brasileiras da doutrina kardecista. De
um lado, o santo que se afasta do mundo e que, como
todos se lembram, era uma figura quase sem corpo
apesar de sempre ter se apresentado com enorme
cuidado pessoal, com os cabelos bem penteados es-
condendo a calvície. De outro, o santo que se imis-
cui nas coisas do mundo e se apresenta com beleza
como que pós-moderna, com brincos na orelha e
músculos à mostra. As fotos da edição cuidadosa
mostram claramente esses dois tipos com caracterís-

339junho 2004
Resenhas
ticas físicas e representações corporais de santidade
contrastantes.
Segundo Sandra Jacqueline Stoll, Chico Xavier
afastou-se do cientificismo da doutrina de Kardec
ao se aproximar do catolicismo com seu “discurso
das virtudes” e da noção de santidade cristã. Na ar-
gumentação da autora, essa transformação foi uma
das razões do sucesso do espiritismo de inspiração
kardecista no Brasil. A vida de Chico Xavier é um
exemplo de vida monástica, pois o médium renun-
ciou à sexualidade e aos bens materiais. Personifi-
cou assim um tipo ideal de espírita que representou
esse ethos religioso. Chico Xavier gozou de enorme
fama nacional e não há cidadão brasileiro que não
se lembre de sua figura emblemática. Psicografava
cartas de vítimas de assassinatos, peças que foram
incorporadas a processos criminais. Também psico-
grafou poemas de Augusto dos Anjos e Alphonsus
de Guimaraens (alguns reproduzidos no livro), en-
tre outros, e escritos de Humberto de Campos, a
ponto de sua viúva ter movido um processo por
plágio contra o médium e a Federação Espírita. Um
amigo meu, poeta e descendente de um dos escri-
tores psicografados por Chico Xavier, comentou
laconicamente: “Se é verdade que os poetas depois
da morte continuaram fazendo poesia, eles piora-
ram muito!”.
A crítica a essa versão de santidade é construída
por meio da figura contrária de Gaspareto. Visto
como dissidente pelos seguidores de Allan Kardec, o
médium pinta quadros em sessões alucinadas nas quais
incorpora Picasso, Monet e Toulouse-Lautrec, entre
outros tantos. (Não há notícia de processo de plágio
nesse caso!) Uma dessas sessões, na qual Toulouse-
Lautrec assinou as telas, foi transmitida pela TV Cul-
tura em 1990. Gaspareto, segunda a autora, faz uma
nova síntese na qual entram elementos do espiritis-
mo, do “neo-esoterismo” ou da “nova era”, e de prá-
ticas de auto-ajuda.
Chico Xavier representou, assim, a versão do
renunciante, enquanto Gaspareto expressa a versão
do bon vivant ou, na interpretação de Stoll, se “[...]
aproxima da teodicéia da boa fortuna”, no sentido
weberiano. O primeiro pregava o asceticismo, o se-
gundo defende a “ética da prosperidade”. Ainda se-
gundo a autora, ser espírita para Chico Xavier re-
presentava o sofrimento, o sacrifício, a renúncia, a
pobreza e a caridade. Para Gaspareto, representa a
felicidade, o prazer, a auto-realização, a prosperidade
e a auto-ajuda. O livro termina sugerindo que esses
dois “[...] modelos éticos convivem no contexto es-
pírita tensionando-se mutuamente, sem que, contu-
do, seja possível prever o desenlace”.
Independentemente dos possíveis rumos futuros
dessa tensão no espiritismo brasileiro, a leitura do li-
vro de Sandra Jacqueline Stoll suscita questões ainda
mais difíceis de serem respondidas. Não fica claro,
por exemplo, por que Kardec, tão popular na França
do século XIX, mas que certamente não revolucio-
nou o mundo europeu como o fez Darwin, teve tan-
to sucesso aqui. Diferentemente da Europa, os espí-
ritos e os espíritas foram centrais na vida brasileira,
pelo menos até bem recentemente. Hoje em dia seu
lugar no espaço público, sobretudo a televisão, pare-
ce ter sido tomado pelo seu inimigo mortal, as igre-
jas neo-pentecostais, que no seu afã de pregar uma
teologia da prosperidade procuram relegar os espíri-
tos ao status de emissários do demônio.
Caleb Faria Alves, Benedito Calixto e a constru-ção do imaginário republicano. Bauru, Edusc,2003, 344 pp.
Ferdinando Martins
Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo
Em artes plásticas, a expressão just milieu é utilizada
para fazer referência aos pintores que ficaram no
meio do caminho entre as manifestações acadêmi-
cas do século XIX (do neoclássico às vertentes do
impressionismo) e as vanguardas do início do sé-

Resenhas
Tempo Social – USP340
culo XX. Entende-se que o que caracteriza a pro-
dução desses artistas é um certo descolamento das
discussões em torno do fazer artístico da “arte pela
arte”, o qual, por sua vez, teria engendrado debates
no campo cultural, possibilitando assim o surgimento
da crítica de arte como a conhecemos hoje, mas sem
fazer eclodir, no entanto, qualquer reação suficien-
temente febril e virulenta para romper com a tradi-
ção. Como toda definição, a expressão pode tornar-
se um lugar-comum ou um conceito guarda-chuva,
capaz de abrigar generalizações que não dão conta
das particularidades de cada caso.
O livro Benedito Calixto e a construção do imaginá-
rio republicano, de Caleb Faria Alves, vem justamente
tratar da singularidade de um artista que é, tradicio-
nalmente, arrolado na “longa lista de pintores en-
globados pelo termo just milieu” (p. 277). Para tanto,
o autor veste-se de uma armadura conceitual ex-
traída da sociologia francesa, fortalecida com con-
tribuições vindas da fotografia, da arquitetura, do
urbanismo, da etnologia, da ciência política e da his-
tória intelectual. Alves arregimenta conhecimentos
diversos, costurando-os com o que Maria Arminda
do Nascimento Arruda chama, no prefácio da obra,
de “fina artesania” (p. 17).
O resultado não poderia ser menos denso. Mes-
mo operando com um recorte específico, o livro tra-
ça um panorama das mudanças ocorridas no campo
das artes plásticas no Brasil entre a Proclamação da
República e a Semana de Arte Moderna de 1922,
datas que contemplam as transformações verificadas
desde a débaclê da Academia Imperial de Belas Artes,
que com a República passa a ser chamada de Escola
Nacional de Belas Artes, até o evento no Teatro Mu-
nicipal de São Paulo, que alinhou as aspirações de
certos artistas da vanguarda brasileira com os eflú-
vios modernistas que emanavam da Europa.
Acompanhando a trajetória do pintor e historia-
dor santista Benedito Calixto, Caleb Faria Alves revê
a concepção existente de que a arte, nesse período,
caracteriza-se por uma continuação do academismo
nos mesmos moldes do ensino ministrado na Acade-
mia Imperial. O autor analisa como, nessa ocasião, a
cidade de São Paulo se consolida como um dos
principais mercados nacionais de obras de arte, ao
mesmo tempo em que ocorrem mudanças com re-
lação aos temas, à formação dos artistas, às fontes de
financiamento e às maneiras de apreciar e consumir
a produção artística. Nesse sentido, o pesquisador
volta-se contra autores que afirmam que a Repúbli-
ca no Brasil não produziu uma estética própria nem
buscou redefinir politicamente o uso da já existente.
Para Alves, a criação do Museu Paulista erige-se
como marco fundante das mudanças acima elencadas,
caudatárias em larga medida das proposições gerais
do positivismo: “A República estava sendo construída
a partir do receituário positivista. Calixto [...] co-
nhecia as máximas positivistas e procurou propa-
gandeá-las” (p. 295). Mesmo admitindo que na épo-
ca a sociedade brasileira ainda não tivesse atingido o
seu grau máximo de evolução, Calixto concebe o
vitral do Palácio da Bolsa de Café em Santos como
um libelo progressista que traduz a esperança em um
país que caminha a passos largos para a sociedade da
ordem almejada por Comte. Esse vitral é o último
trabalho de fôlego empreendido pelo artista. Até
chegar a ele, Caleb Faria Alves traça um percurso
que vai do início da trajetória do pintor santista na
carreira artística até o reconhecimento entre seus
pares na fase madura.
O capítulo 1, “Ingressando na carreira artística”,
traz uma reconstrução minuciosa da biografia do
pintor, relatando as mudanças no cenário paulista, a
falta de capital cultural e social de Calixto e as flu-
tuações do artista diante dos diferentes tempos do
modernismo em São Paulo. Sua origem poderia
relegá-lo a simples ilustrador ou, quando muito, a ar-
tesão, porém o livro nos mostra como a proximidade
com os clubes dramáticos faz com que o pintor seja
reconhecido pela sociedade santista, o que lhe aufere
certo grau de distinção que possibilita sua vinda para
São Paulo. Além disso, pequenos trabalhos propa-

341junho 2004
Resenhas
gandísticos fazem com que o artista se aproxime de
comerciantes e políticos de Santos, o que lhe garante
um aumento de capital social. Caleb Faria Alves dis-
tancia-se o suficiente para perceber as estratégias e os
cálculos empreendidos por Calixto. Em São Paulo,
ele se aproxima de Grimm e do desafio da pintura ao
ar livre. A ousadia lhe confere uma aura vanguardista
e lhe rende o prêmio de viajar à França nos inícios da
década de 1880.
O capítulo 2, “Um caiçara em Paris”, é um pou-
co problemático. O autor busca mostrar como o
pintor refletiu o aprendizado realizado na França,
mas parece que o ano passado na Academie Julian
foi em vão. Em vez disso, Caleb Faria Alves atribui
um peso muito maior à movimentação interna da
Academia, em especial ao debate em torno de Manet
e Courbet. Aqui caberia uma análise mais apurada
dos quadros. Mais adiante, no capítulo 3, o autor
destaca o abandono do fini como estratégia de opo-
sição ao ensino acadêmico. Esse procedimento, no
entanto, deve ter sido aprendido por Calixto na sua
passagem pela França, uma vez que é traço distinti-
vo da pintura de Manet e de outros impressionistas.
O pesquisador afirma, todavia, que “não fazia senti-
do ser mandado diretamente à Europa por um ba-
rão do café, partindo do Estado berço do partido
republicano, para seguir exatamente os mesmos pas-
sos dos agraciados com as bolsas de estudo concedi-
das pelo Governo Imperial; não fazia sentido, tam-
pouco, se filiar a uma escola em franca oposição à
república burguesa, sendo ele mesmo um protegido
da burguesia paulista ascendente” (p. 122). Nesse
momento, a obra centra-se no fato de Calixto ter
sido financiado por barões do café e deixa de lado a
movimentação interna do campo das artes plásticas,
cujas mudanças nem sempre acompanham a con-
juntura político-econômica. O capítulo carece, ain-
da, de uma definição mais precisa do naturalismo,
sem a qual é impossível depreender algum significa-
do sociológico para os termos “acadêmico”, “ro-
mântico” e “realista”.
No capítulo 3, “As fissuras da Academia”, Alves
polariza a discussão em torno das figuras emblemá-
ticas de Pedro Américo e Victor Meirelles. A polari-
zação é um procedimento válido como recurso
explicativo, mas não reflete a complexidade do mo-
mento histórico e muito menos as relações internas
do campo das artes plásticas. Por essa razão, o autor
lança mão de outros temas que relativizam a discus-
são. Em especial, trata da posição da pintura de paisa-
gem na hierarquia acadêmica, da emergência de um
imaginário que valora positivamente as figuras do
caipira e do caiçara, do gosto burguês pela cópia e da
consolidação de São Paulo como pólo artístico da
República, em oposição à centralidade do Rio de Ja-
neiro durante o Império. Além disso, o texto traz ri-
cas análises de quadros como Independência ou morte,
de Pedro Américo, e Inundação da várzea do Carmo,
do próprio Calixto.
No quarto e último capítulo, a discussão volta-se
para as “Imagens da transformação”, quando Calixto,
já pintor maduro, desempenha um papel ativo na
consolidação de um ideal republicano que inventa
uma tradição para o Brasil a partir do Estado de São
Paulo. É nessa fase que o pintor volta para as mari-
nhas e, na pintura histórica, ganha relevância a paisa-
gem da Serra do Mar. Seus trabalhos adquirem maior
complexidade e valor, o que Caleb Faria Alves atri-
bui a um novo estatuto do moderno característico
das primeiras décadas do século XX. O colecionis-
mo e a gestão de Taunay no Museu Paulista são de-
terminantes para novas abordagens da história do
Brasil, e Calixto submete seu trabalho artístico a suas
pesquisas como historiador. No entanto, os novos há-
bitos visuais que já chegavam ao Brasil, em especial os
decorrentes da pintura impressionista, relegam o ar-
tista a uma posição menos nobre no campo cultural.
É em função desse desvio – a perda de prestígio
no interior do campo das artes plásticas – que Caleb
Faria Alves constrói sua tese: o mérito do autor está
em mostrar as contradições internas do campo, ao
mesmo tempo em que relativiza essa movimenta-

Resenhas
Tempo Social – USP342
ção em função da conjuntura político-econômica.
O autor destaca que, mais do que um ideal republi-
cano, Calixto tem uma maneira paulista de ver o
Brasil, e os desdobramentos desse ato fundador mar-
cam grande parte da discussão sobre as artes plásti-
cas no país durante o século XX.