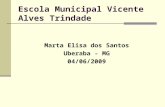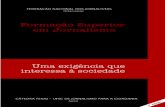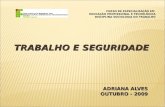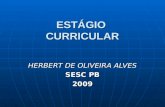Alves 2009
-
Upload
fernanda-santos -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Alves 2009

151, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
Gilberto Luiz Alves*
ESCOLA PÚBLICA: FUNÇÕES,
PROJETO DE FORMAÇÃO
E TRABALHO DIDÁTICOC
ON
FE
RÊ
NC
IA
Pode parecer supérflua a idéia de, entre educadores, se postular o re-torno ao processo de produção da escola moderna, desde as suas ori-
(...) o todo deve necessariamente ter precedência sobreas partes; (...) todas as coisas são definidas por sua
função e atividade. (Aristóteles, 1985, p. 15)
gens, para elucidar o que é essa instituição, suas funções sociais e a natu-reza do trabalho que dentro dela se desenvolve. Contudo, a própria inten-sidade do desenrolar de suas vidas dentro do ambiente escolar os cega,muitos deles, para a captação da razão de ser desse estabelecimento e asua historicidade. Logo, para não incorrer no risco de, por omissão, con-tribuir para a fixação de uma impressão nem sempre clara nas idéias doseducadores, é prudente e necessária essa volta ao passado.
Do ponto de vista teórico-metodológico é fundamental iniciar adiscussão pelo trabalho didático. Ou seja, importa começar a análisepelo próprio movimento do trabalho no âmbito do modo de produçãocapitalista. O trabalho didático, sob essa ótica, é entendido como a for-ma concreta pela qual se realiza o trabalho na escola, algo que se sub-mete ao mesmo movimento geral do trabalho na sociedade burguesa.Em linhas gerais, precisa ser levada em conta a transição do artesanatofeudal para a manufatura capitalista e, em seguida e sucessivamente,para a fábrica moderna e para a fábrica automatizada. Daí ser indispen-sável o domínio da proposta de Comenius, concebida no século XVII eexposta em Didáctica magna, pois ela revela ter sido a escala modernapensada no interior de uma matriz manufatureira, representando, por-tanto, a superação da relação educativa feudal e de todos os elementos

152 , Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
constitutivos da organização artesanal do trabalho didático correspon-dente. Superados estavam o mestre, o discípulo, as fontes do conheci-mento explorado na relação educativa, outros recursos pedagógicos atéentão utilizados, os procedimentos individuais de ensino e o espaçofísico a eles associado.
Mas o trabalho didático, tal como foi concebido por Comeniusnos albores da escala moderna, passou por um processo de naturaliza-ção, em seguida, que fez muitos educadores perderem de vista o queera, tão somente, uma forma histórica concreta de organização do tra-balho didático.1 Daí a sua cristalização, o que a tornou impermeável amudanças mais profundas. Assim chegou aos nossos dias, o que Iheempresta uma característica anacrônica se forem consideradas as ne-cessidades educacionais de hoje e os recursos tecnológicos disponíveispara atende-Ias no patamar correspondente.
Necessária em face das imensas demandas educacionais de seutempo, a organização do trabalho didático pensada por Comenius podeser descrita a partir de seus três elementos constitutivos: 1) a relaçãoeducativa então concebida colocou de um lado o professor e, de outro,um coletivo de alunos organizado como classe; b) os procedimentosdidáticos do professor e os conteúdos programados para a transmissãodo conhecimento passaram a ter como fundamento uma precisatecnologia educacional, o manual didático, c) e a sala de aula ascendeua condição de espaço privilegiado dessa relação, pois bastava a forma-ção intelectual das crianças e dos jovens, função exclusiva da educaçãoescolar a época.
Se é anacrônica a organização manufatureira do trabalho didáti-co, por ser o manual didático a tecnologia educacional que a articula,também ele está marcado pelo anacronismo e já se torna tardia a suasuperação. Cabe, no entanto, esclarecer melhor a especificidade domanual didático no âmbito da escala moderna, pois enquanto instru-mento do trabalho didático, o manual existe desde muito tempo. Contu-do, a escala moderna, tal como a pensou Comenius, Ihe conferiu funçõesprecisas que interferiram profundamente na relação educativa, dandoorigem, como foi acentuado, a uma nova forma histórica de arganizaçãodo trabalha didática. Por isso, qualquer discussão sobre o manual didá-tico moderno não pode nivelá-lo ou reduzi-lo aos seus antecessores,sob pena de se perder de vista a sua especificidade e, portanto, a suahistoricidade. Ao mesmo tempo, não se deve supor que a emergência domanual didático moderno realizou uma ruptura radical, de imediato,

153, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
com as suas formas preexistentes. Abre-se, sob esse aspecto, um campode possibilidades instigantes para a pesquisa educacional.
No caso do Brasil, por exemplo, o estudioso se defronta com ofato de a nação nunca ter correspondido as formas mais desenvolvidasdo capitalismo e, como uma de suas decorrências, ter construído o seusistema nacional de ensino a partir das idéias e experiências daquelasnações que estavam no epicentro do desenvolvimento da sociedade bur-guesa. Logo, o exame do processo de produção da escola moderna, noBrasil, exige chave teórica mais universal que o torne inteligível e reve-le a sua própria singularidade. Por isso, como a organizaçãomanufatureira do trabalho didático tem sido dominante desde o séculoXVII, a produção teórica de seu principal mentor, Comenius, credencia--se como essa chave teórica mais universal. Portanto, se reconhece que opensamento desse notável educador protestante é angular para a com-preensão do desenvolvimento da escola moderna no Brasil (Alves, 2005,p. 59-76). É um equívoco descartar a sua proposta, que se encontradetalhadamente descrita em Didática magna (Coménio, 1976, 525 p.),pelo fato de ter germinado no interior da Reforma e, como decorrência,por se associar a práticas religiosas e educacionais diferentes daquelasexperimentadas pelo Brasil e por Portugal, nações historicamente vin-culadas a Contra-Reforma. Do ponto de vista metodológico trata-se,tão simplesmente, de explicar uma forma histórica menos desenvolvidapor meio da mais desenvolvida, o que não representa a negação daespecificidade da educação escolar brasileira como alguns imaginam.Pelo contrário, a construção da explicação exige o esforço teórico, nemsempre fácil de ser realizado, de demonstrar como, por mediações, sãoválidos os pressupostos gerais da proposta comeniana, mas de forma acaptar e revelar a singularidade brasileira.
Comenius, meritoriamente celebrado como o grande mentor daescola moderna, combatia, a sua época, a relação educativa feudal quese dava entre o preceptor, de um lado, e o discípulo, de outro. Comoconseqüência dos princípios da Reforma protestante, reivindicava a es-cola para todos, daí ter reconhecido a impossibilidade daquela relaçãoeducativa manter-se, pois propiciava um atendimento limitado e enca-recia sobremaneira os serviços educacionais. O barateamento dessesserviços era uma condição material indispensável para viabilizar a ex-pansão do atendimento as crianças e aos jovens, principalmente entreos destituídos de recursos econômicos. Comenius reconheceu, inclusi-ve, que o próprio preceptor, um sábio cujos serviços exigiam régios

154 , Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
estipêndios, era um obstáculo a educação que a humanidade começavaa demandar. Para propor uma nova relação educativa, já não mais a deum preceptor que tinha sob a sua responsabilidade um discípulo ou umpequeno grupo de discípulos, mas a de um educador que deveria sedirigir a um coletivo numeroso de estudantes, Comenius enfrentou, tam-bém, a necessidade de pensar uma nova instituição social. E concebeu-a tendo como parâmetro as manufaturas, que, a época, estavam emexpansão e revolucionavam o artesanato medieval. Das manufaturasapropriou-se, sobretudo, da divisão do trabalho, recurso responsávelpela elevação da produtividade do trabalho, por força da especializaçãodos trabalhadores em uma ou poucas operações do processo de traba-lho. Essa especialização os levava a um ritmo febril na realização dasoperações correspondentes, determinado pelo condicionamento de mo-vimentos do corpo executados repetitivamente. A base técnica continu-ava sendo a do artesanato, mas o dado distintivo da manufatura e querepresentava um salto de qualidade, frise-se mais uma vez, era a divisãodo trabalho.
Para evidenciar como este homem afinado com os avanços deseu tempo pensou o trabalho didático sob a perspectiva da manufatura,é de se realçar a divisão em etapas que lhe impôs, configurada por meiodas séries e dos níveis de ensino na escola moderna. Estabeleceu comclareza, igualmente, as áreas de conhecimento integrantes do plano deestudos. Essas novidades, associadas El materialidade física da institui-ção social que concebeu, produziram um profissional original, distintodo preceptor: com o bispo morávio nasceu em sua plenitude o profes-sor. São nítidas as diferenças entre o preceptor e o professor. Como opróprio artesão em relação ao seu ofício, o preceptor dominava todo oprocesso de formação de um jovem. Contratado, quase sempre, paraacompanhar o processo de educação de seu discípulo desde tema idade,dava por concluído o seu mister quando o jovem demonstrava ter assi-milado o que de mais avançado estava compreendido nas humanidadesclássicas. Já o professor comeniano tornou-se um profissional parcial,que passou a trabalhar com um determinado nível de escolarização e/oucom uma área de conhecimento. Portanto, o professor realizou-se, tam-bém, como um trabalhador especializado.
Mas Comenius foi mais longe. Reconheceu a quantidade exíguade pessoas que, na conjuntura histórica por ele vivida, poderia dedicar-se ao magistério. Afinal, não havia tantos homens com formação bási-ca, em sua época, mesmo entre os que sabiam ler e escrever, para atender

155, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
como professores El demanda de educação para todos. Focado nessalimitação, desenvolveu uma tecnologia fundamental para mediar arela<;ao entre o professor e o aluno: o manual didático.
No manual didático obispo morávio depositou a sua convicçãode assegurar a transmissão do conhecimento no nível desejável, a mar-gem de dificuldades derivadas do desconhecimento do professor2. Afi-nal, esse instrumento de trabalho foi concebido de forma a resumir umprograma de conteúdos informativos, disposto em uma ordem dada porsequência e relacionamento, cuja execução seria norteada por procedi-mentos técnicos fixados previamente. Lago, além de incorporar umameta relativa ao grau de conhecimento a ser assimilado pelo aluno, de-notava, desde a origem, também, o escasso conhecimento que exigia doprofessor. No interior do mesmo movimento, a correspondente organi-zação manufatureira do trabalho didático dispensava outras fontes deinformação e impunha o império de tal instrumento de trabalho dentroda escala, incorporando-lhe uma função excludente desde o momentode sua concepção3. Ao romper com a utilização de livros clássicos noseu dia a dia, a proposta comeniana realizou, de fato, uma ruptura como conhecimento culturalmente significativo.
A gravidade das consequências desse fato para a educação emnosso tempo é evidente. As pesquisas vem demonstrando que o manualdidático, elaborado por compendiadores, realiza, sobretudo, a vulgari-zação do conhecimento (Unicamp, 1989, 255p.) Se essa prática poderiaser concebível à época em que viveu Comenius, em função da necessi-dade emergente de “ensinar tudo a todos”, agravada pelo fato de estarna sua fase embrionária a difusão das habilidades de ler e escrever, hojenada mais a justifica. O homem, com os mais diferentes recursos, desdeo livro suficientemente barateado e universalizado até os meios de co-municação de massa e a informática, tem acesso imediato ao conheci-mento produzido nos centros científicos mais avançados do mundo econsulta bibliotecas e arquivos das mais expressivas instituições cultu-rais do universo. Mas, se o conhecimento culturalmente significativocircula por diversos canais da sociedade, atingindo famílias, empresase, inclusive, muitas instituições públicas, paradoxalmente, não penetrao espaço da escala, a instituição social que celebra como sua a funçãode transmitir o conhecimento.
Esgotando a concepção de trabalho didático abraçada porComenius, afírmasse, por fim, que para sediar a relação educativa entreprofessores, de um lado, e coletivos de alunos organizados como clas-

156 , Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
ses, de outro, ele pensou o espaço escolar tal como o conhecemos: basi-camente, um prédio com certo número de salas de aula, dependênciasadministrativas e um pátio pouco amplo. Era o que bastava El realiza-ção da formação intelectual das crianças e dos jovens, função única daescola moderna no seu nascedouro como já foi dito.
Os manuais didáticos comenianos, pensados a partir da divisãodo trabalho, segundo a organização técnica da manufatura, realizavama tendência de especialização dos instrumentos de trabalho, tão sensí-vel à época no âmbito das oficinas manufatureiras. Se nessas oficinasos instrumentos ganhavam as formas mais adequadas à execução rápi-da das operações em que eram empregados e diversificavam-se, na es-cola moderna os manuais foram reproduzidos em profusão, sendo cadamodalidade direcionada ao emprego especializado numa única matériae num único nível de escolarização. Em Didáctica magna, Comeniusilustra o imenso esforço, que ele próprio compartilhou, necessário Elprodução de uma enorme quantidade de manuais didáticos, segundoinstruc6es oferecidas aos compendiadores para atender aos novos re-quisitos da instituição social emergente4. Com isso, ele contribuiu dire-tamente para dar consequência ao seu projeto de objetivação do trabalhodidático. Desencadeou e deu curso, dessa forma, a um movimento quecomeçava a submeter o professor - o trabalhador no âmbito da escolamoderna - ao instrumento de trabalho. Esse movimento decorreu e nãopode ser dissociado da simplificação e da objetivação do trabalho, que,então, repousavam na divisão do trabalho e na emergência de instru-mentos como os manuais didáticos. Estes passavam a ser os recursosmateriais que, ao garantirem a transmissão do conhecimento, tiravamdas mãos do mestre essa função, patente outrora na educação feudal,cuja base técnica era de natureza artesanal.
Uma hipótese pertinente, segundo a discussão teórica que vemsendo encetada, é a de que, por não ser uma nação capitalista desenvol-vida, o Brasil começou tardiamente a construir os manuais didáticosmodernos e que a sua forma de realização ainda não ganhara, no séculoXIX e início do século XX, as características e as func6es que essesinstrumentos do trabalho didático incorporaram na proposta comeniana.Os manuais didáticos comenianos só se colocam como necessidadeincontornável em face da universalização da educação. Como, no Bra-sil, o atendimento a todos não se colocou ao longo do Império e daPrimeira República, não ocorreu qualquer pressão material para queeles se impusessem. Daí as características dominantes dos manuais di-

157, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
dáticos do Colégio Pedro 11, por exemplo. Eles não eram produtos dotrabalho do compendiador, um especialista distanciado da sala de aula.Eles eram produzidos, predominantemente, pelos próprios professores,que assim ostentavam o seu domínio sobre o trabalho didático. Erammanuais densos e extensos do ponto de vista informativo e acompanha-ram por décadas diversas gerações de estudantes secundários.
Para ilustrar as limita90es associadas as análises do manual didá-tico e, portanto, do próprio diagnóstico sobre o trabalho didático, emnossos dias, afirme-se que esse instrumento de trabalho tem sido foca-lizado, sobretudo, do ponto de vista de seu conteúdo. Porém, mesmo oconteúdo tem sido somente pinçado. Não ocorrem análises que oaprofundem verticalmente; que elucidem as suas fontes historiográficase as formas de tratamento epistemológico das diferentes matérias. Agravao resultado o fato de o conteúdo ser aspecto menos importante da análi-se do livro didático. Mais relevante é a verificação de como ele operana relação educativa. Esse aspecto substantivo tem sido negligenciadonas pesquisas, o que permite afirmar que enquanto objeto de investiga-ção o manual didático tem sido estudado basicamente como coisa e nãocomo relação social.
As investigações, por não serem incisivas, tem deixado na pe-numbra a historicidade da relação educativa dominante nas escolas e oseu anacronismo. Não tem contribuído para evidenciar a necessidadede concentra9ao de esforços dos educadores para a realização da tarefaque o nosso tempo lhes reservou: a produção de uma nova forma deorganização do trabalho didático, visando atender necessidades históri-cas de nosso tempo e mobilizando, para tanto, os formidáveis recursostecnológicos produzidos pelo homem no presente.
Enquanto tendência dominante parece que o campo consagradoa formação de professores pouco vem fazendo no sentido de contribuirpara a necessária transição histórica em direção a uma nova forma deorganização do trabalho didático. Vale lembrar que, em paralelo ao de-senvolvimento da materialidade da escola segundo as prescriçõescomenianas, algumas investigações apontam que a consciência dos pro-fessores evoluía num sentido paradoxalmente oposto. Isto é, enquantoo surgimento da escola impunha uma organiza9ao do trabalho didáticode natureza manufatureira, os professores, agora especializados, resis-tiam a esse desenvolvimento e mantinham suas consciencias atreladasao trabalho artesanal. Daí a sistemática defesa da pedagogia do apren-der fazendo. É o que nos demonstra o instigante livro Nostalgia do

158 , Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
mestre artesão. (Santoni Rugiu, 1998, 167 p.) Mas, tanto a materialidademanufatureira da escola quanto a consciência artesã dos professoresataram a educação escolar ao passado e explicam, ainda hoje, a renitên-cia com que se mantém aferrada a superadas concep90es e práticas detrabalho didático.
A maioria dos grupos de pesquisa organizados em torno datemática formação dos professores, em nossos dias, só tem feito reite-rar essa dissonância. Em paralelo, por continuarem reproduzindo aorganização manufatureira do trabalho didático e, ao mesmo tempo,por induzirem a crença em uma autonomia do docente na direção doprocesso de formação de crianças e jovens, os cursos de formação etreinamento de professores produzem profissionais que realizamdiuturnamente, também eles, uma prática que reforça a dissonância.Esses cursos, portanto, tem contribuído para a reprodução da escolamanufatureira tal como se encontra e, ao mesmo tempo, para cultivaro mito do professor que impõe direção autônoma ao trabalho didáti-co. Em resumo, por aferrarem a escola ao passado e por resistirem atransformação, esses cursos de formação e treinamento de professo-res são politicamente reacionários.
Em síntese, ainda hoje a organização do trabalho didático criadapor Comenius confere a atividade dos professores, extemporaneamente,as características típicas do trabalho manufatureiro dominante no sécu-lo XVII, a época vivida pelo bispo morávio. Entre os preços que oshomens pagam por esse anacronismo, em nossos dias, um dos maissérios é a impossibilidade de ascender, através da educação escolar, aoconhecimento humano culturalmente significativo. Ao realizar-se pormeio do manual didático, a transmissão do conhecimento na escola,reafirme-se, se identificou, de fato, com a difusão do conhecimentovulgar.
A exposição tem insistido e colocado em relevo a necessidade detransformação da organização do trabalho didático. Mas deve ser con-siderada, ainda, outra tendência que vem mudando profundamente onosso entendimento do fazer educativo, no âmbito da escola. Até me-ados do século XIX a concepção de educação continuava reduzida,exclusivamente, ao aspecto da formação intelectual de crianças e dejovens. Pelo menos no plano das idéias educacionais, essa situaçãocomeçou a se alterar, significativamente, em seguida. Não pode dei-xar de ser mencionada a reivindicação positivista, por exemplo, deeducação intelectual, moral e física, expressão que, emblema-

159, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
ticamente, tornou-se o título de uma importante obra de HerbertSpencer (1901). Também exige referencia a postulação de Marx, se-gundo a qual a educação do futuro conjugaria “o trabalho produtivode todos os meninos além de uma certa idade com o ensino e a ginás-tica”. (Marx, 1988, p. 554). Culminando essa tendência, as transfor-mações sociais, em nosso tempo, estão na origem da reivindicaçãopor uma escola de jornada integral. Tal reivindicação coroa o movi-mento de incorporação a instituição de outras funções sociais que nãoa exclusiva formação intelectual.
Por força das transformações sociais, a escola tornou-se o únicolocal reservado a criança e ao jovem na sociedade. Mas é forçoso reco-nhecer que o seu usuário nela aporta com uma ampla gama de necessi-dades, que vão muito além da formação intelectual. Logo, a novainstituição educativa de tempo integral precisa ser redimensionada edotar-se de instrumentos que estimulem a criança e o jovem e lhes asse-gurem meios de superar todas as suas necessidades. Se a mudança dotrabalho didático irá impor os espaços da biblioteca, da sala demultimeios, das salas de computação, das salas de trabalho para peque-nos grupos, das salas de professores visando ao atendimento de al unose a criação de condições adequadas aos seus estudos, a emergente insti-tuição educativa de jornada integral, ao incorporar novas funções soci-ais, deverá dispor de recursos para atender as necessidades culturais,desportivas, de saúde e de lazer de crianças, adolescentes e jovens. Logo,o espaço escolar deverá ser profundamente repensado. A arquiteturaescolar, sob esse aspecto, não poderá mais reproduzir as soluçõesreiterativas e estereotipadas, ainda vigentes, que se antagonizam comas necessidades sociais contemporâneas.
É expressivo que, em correspondencia com as demandas sociais,a criança e o jovem vem exigindo, progressivamente, que o espaço es-colar transforme-se em espaço de vida. As funções sociais da escolacontemporânea e a nova forma de conceber o trabalho didático, tal comovem sendo esposada ao longo deste texto, não só ocasionamconsequências sobre a concepção de espaço escolar e para a arquiteturaescolar. O próprio termo escola começa a revelar uma limitação, poissempre se aplicou ao estabelecimento cuja razão de ser estava centradana formação intelectual. Como decorrência, do ponto de vista físico, aescola foi reduzida a salas de aula, dependências da administração epátio de diminuta área. Essa concepção foi ultrapassada, pois está emer-gindo uma instituição educacional mais ampla e plena.

160 , Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
Concluindo, parece que as tendências contemporâneas da edu-cação podem ser resumidas nesse despontar de uma original institui-ção educacional, que, além de colocar o trabalho didático sustentadosobre a base das novas tecnologias, incorpora outras funções, decor-rentes de necessidades sociais peculiares a nossa época. Muitos edu-cadores, como a própria escola, presos as forças do passado, sentem-sepouco a vontade com a colocação da questão sob essa perspectiva. Aresistência passiva é muito difundida, mas ocorre, também, muitasvezes, de postulações como as aventadas serem denunciadas comodelirantes ou inviáveis, pois implicariam em grandes dispêndios. Con-tra esses equívocos, muitas vozes tem reforçado o coro que reclamapor mudanças profundas na instituição educacional e no trabalho di-dático. Mesmo que enfatizando ora um ora outro aspecto da educa-ção, mesmo que movidas por diferentes pressupostos e motivações,essas vozes nos fazem relembrar uma importante frase do pensadoralemão Karl Marx, contida no Prefácio de Para a crítica da econo-mia política: “a humanidade só se propõe as tarefas que pode resol-ver, pois, se as considera atentamente, se chegará a conclusão de quea própria tarefa só aparece onde as condições materiais de sua soluçãojá existem ou, pelo menos, são captadas no processo de seu devir”.(Marx, 1982, p. 26)
Notas
1 Por ser uma categoria central na discussão travada, deve ser explicitada a acepçãoatribuída a expressão organização do trabalho didático. No entendimento adotadoela incorpora: a) a relação histórica educador-educando; b) a mediação exercidapelos procedimentos do professor, pelos conteúdos didáticos e pelas tecnologiaseducacionais; c) e a materialidade espacial e arquitetônica onde tal relação se dá.(Alves, 2005, p. 10-1).
2 Uma só coisa é de extraordinária importância, pois, se ela falta, pode tornar-se inú-til toda a máquina, ou, se esta presente, pode pô-la toda em movimento: uma provi-são suficiente de livros pan-metódicos. (Coménio, 1976, p. 469)
3 Não se deve dar aos alunos nenhuns outros livros, além dos de sua classe. (Coménio,1976, p. 226)
4 No que se refere ao ensino das línguas materna e latina, por exemplo, Comeniusafirmava serem necessários quatro manuais: “O Vestíbulo” para a “idade infantil”;“A Porta” para a “idade pueril”, “O Palácio” para a “idade juvenil” e “O Tesouro”para a “idade viril”. Depois de expor a natureza do conteúdo de cada um, discutiuos correspondentes “livros auxiliares (...) que ajudam a usar, de uma maneira maisrápida e com major fruto, os livros didáticos”. Eram eles, o “vocabulário língua

161, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 151-161, jan./jun. 2009.educ
materna-latim e latim-língua materna”, o “dicionário etimológico latim-língua ma-terna”, o “dicionário fraseológico língua materna-língua materna, latim-latim” e oainda inexistente “prontuário universal”. (Coménio, 1976, p. 336-341)
Referências
ALVES, Gilberto Luiz Alves (2006). A produção da escola pública contemporânea. 4ed. Campi-nas-SP: Autores Associados. 276 p.
ALVES, Gilberto Luiz (2005). O trabalho didático na escola moderna: formas históricas. Campi-nas-SP: Autores Associados. 154 p. (Coleção Educação Contemporânea)
ARISTÓTELES (1985). Política. Trad. de Mário da Gama Kury. Brasília, DF: Editora Universi-dade de Brasília. 317 p.
COMÉNIO, João Amós (1976). Didáctica magna: tratado da arte universal de ensinar tudo Eltodos. 2ed. Intr., trad. e notas de Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.525 p.
SANTONI RUGIU, Antonio (1998). Nostalgia do mestre artesão. Trad. de Maria de LourdesMenos. Campinas, SP: Autores Associados. 167 p. (Coleção Memória da educação)
SPENCER, Herbert (1901). Educação intellectual, moral e phisica. Rio de Janeiro; São Paulo;Recife: Laemmert & C. 273 p. (Bibliotheca Philosophica)
MARX, Karl (1988). O capital: crítica da economia política. 12ed. Trad. de Reginaldo Sant’Anna.Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil. t. 1, v. 1.
MARX, Karl (1982). Para a crítica da economia política; salário, preço e lucro; O rendimento esuas fontes: a economia vulgar. Intr. de Jacob Gorender e trad. de Edgard Malagodi et al. SãoPaulo: Abril Cultural. p. 1-132. (Os economistas)
UNICAMP (1989). Biblioteca Central. Serviço de Informação sobre o Livro Didático. O que sabe-mos sobre o livro didático: catálogo analítico. Campinas, SP: Editora da Unicamp. 255 p.
* Professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professor do Mestrado deMeio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera UNIDERP. Integrantedo grupo de pesquisa que desenvolve o projeto “O manual didático como instrumento de trabalhonas escolas secundária e normal (1835-1945)”, apoiado pelo CNPq.