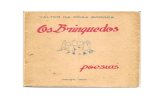AMERCI BORGES DA ROSA
Transcript of AMERCI BORGES DA ROSA

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS
UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS DE SANTA CATARINA, POR MEIO DE
ÍNDICES-PADRÃO
AMERCI BORGES DA ROSA
FLORIANÓPOLIS
2020

AMERCI BORGES DA ROSA
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS
UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS DE SANTA CATARINA, POR MEIO DE
ÍNDICES-PADRÃO
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
em Administração, da Universidade do Sul de
Santa Catarina, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre em
Administração.
Orientador: Professor Sandro Vieira Soares, Dr.
Florianópolis
2020



Dedico este trabalho a todas as pessoas que me
incentivaram, mantendo-se ao meu lado nessa
caminhada, ajudando-me de forma incondicional. O
caminho foi difícil, mas valeu o esforço. Com muita
dificuldade, muito estudo e muitas horas de solidão,
foi possível concluir esta pesquisa.

AGRADECIMENTOS
Agradeço, a DEUS, por permitir que, nas horas mais difíceis, JESUS estendesse sua
santíssima mão, e me ajudasse a continuar persistente; a MARIA SANTÍSSIMA que, como
intercessora junto ao Pai, como toda mãe que sabe das dificuldades dos seus filhos, intercedeu
junto a Deus por mim.
Minha Esposa Elisandra Ritta; meus filhos, Alice, Pedro e Gustavo, por suportarem,
nesses anos dedicados ao mestrado, minha ausência, e, com paciência e compreensão,
permaneceram comigo, me ajudando, apoiando-me, enfim, nas horas mais complicadas,
aceitando ficar em casa por minha causa.
Ao professor Dr. Mauricio Andrade de Lima, por aceitar o desafio, indo além de
apenas orientar, estendendo-me a mão nos momentos em que as dificuldades aumentavam,
caminhando junto, muito mais que só ensinando, mas, como um verdadeiro mestre,
estimulando-me na caminhada: vá em frente; tu consegues!
Meus pais, em memória, Joaquim Geraldo da Rosa e Bernardina Borges da Rosa, por
me concederem viver, encaminhando-me para uma vida correta e de luta sem desistência.
Meus irmãos, Aderval, Adelir, Aderlei, Ademir, Maria de Fátima, Maria Aparecida,
Maria Lúcia, Adaime, Adécio e Maria do Rosário, por todo cuidado e ajuda na minha
formação como pessoa e como profissional.
Minha esposa Elisandra e minha sobrinha Andréia, nas correções ortográficas, e meu
sobrinho Leonardo pela tradução dos resumos para o inglês.
Meus amigos Rafael Bavaresco Bongiolo e Manuel Fernandes Neto, pelas incansáveis
palavras de apoio, e meu amigo Prof. Dr. Sandro Vieira Soares, pelo apoio incondicional,
ajudando nas dúvidas e mostrando também o caminho da conquista.
Por último, porém não menos importante, agradeço aos professores da banca, por
aceitarem o convite e, em aceitando-o, contribuírem com minha pesquisa.

RESUMO:
A presente pesquisa teve como objetivo principal mensurar o desempenho econômico-
financeiro das universidades comunitárias de Santa Catarina, por meio de índices-padrão, no
período de 2010 a 2017. Para a realização da pesquisa, foram considerados os demonstrativos
contábeis das Instituições Comunitárias de Ensino Superior - ICES, adotando-se uma
abordagem quantitativa. Trata-se, assim, de uma pesquisa descritiva, na qual adotou-se, como
estratégia, um estudo de caso múltiplo. Quanto ao período referente aos dados coletados,
considera-se esta pesquisa como longitudinal; e quanto à coleta de dados é considerada uma
pesquisa documental. Quanto à literatura, foi feito um levantamento bibliográfico, para a
pesquisa bibliométrica, nas bases internacionais, usando-se o ProKnow-C, e para as bases
nacionais, esse levantamento foi feito usando-se o mesmo critério de seleção da literatura
internacional. Quanto à definição da amostra, esta foi estruturada a partir das entidades
vinculadas ao sistema ACAFE, selecionando-se aquelas consideradas fundações públicas,
resultando em 13 universidades, por apresentarem a mesma característica contábil, tornando
possível comparar os demonstrativos contábeis. Os dados para composição da pesquisa foram
coletados nos demonstrativos contábeis de cada instituição, sendo considerados todos os
demonstrativos das 13 universidades selecionadas. Quanto ao tratamento dos dados estes,
inicialmente, foram tabulados em planilhas do Excel, para, em seguida, serem realizados os
cálculos dos indicadores e avaliados segundo a metodologia de avaliação de empresas,
definida por Matarazzo (2017). Os resultados apontaram que essas instituições operam com
uma média de 45,90% de capital de terceiros, 112,24% de imobilização de capital próprio, e
87,62% de imobilização de recursos não correntes. Apontaram, ainda, que indicadores de
liquidez vêm operando com indicador acima de 1,00, e indicadores de rentabilidade vêm
operando com rentabilidade positiva, embora tenha se observado entidades com rentabilidade
negativa. O estudo ainda apontou que as ICES vêm operando com indicadores satisfatórios,
mesmo ocorrendo entidades com indicadores não satisfatórios. Como conclusão, verifica-se
que o cenário das ICES catarinenses merece atenção por parte dos gestores, considerando-se
que os índices de liquidez, mesmo apresentando-se acima de 1,00, estão muito próximos de
1,00. Os indicadores apontaram que existe uma tendência de diminuição por parte dos
indicadores de capital; de acréscimo por parte dos indicadores de liquidez e de rentabilidade, e
que apenas o indicador de giro do ativo apresentou tendência de diminuição.

Palavras-Chave: Índice-padrão. Sistema ACAFE. indicador econômico-financeiro,
Universidades comunitárias.

ABSTRACT
The present research had as main objective to measure the economic-financial performance of
the community universities of Santa Catarina, through standard indexes, in the period from
2010 to 2017. For the accomplishment of the research, the accounting statements of the
Community Teaching Institutions were considered Superior - ICES, adopting a quantitative
approach. It is, therefore, a descriptive research, in which a multiple case study was adopted
as a strategy. As for the period referring to the collected data, this research is considered as
longitudinal; and as for data collection, it is considered a documentary research. As for
literature, a bibliographic survey was made, for bibliometric research, on international bases,
using ProKnow-C, and for national bases, this survey was made using the same selection
criteria as international literature. As for the definition of the sample, it was structured from
the entities linked to the ACAFE system, selecting those considered public foundations,
resulting in 13 universities, for presenting the same accounting characteristic, making it
possible to compare the accounting statements. The data for the composition of the research
were collected in the financial statements of each institution, considering all the statements of
the 13 selected universities. As for the treatment of the data, these were initially tabulated in
Excel spreadsheets, and then the calculations of the indicators were carried out and evaluated
according to the company valuation methodology, defined by Matarazzo (2017). The results
showed that these institutions operate with an average of 45.90% of third-party capital,
112.24% of fixed assets, and 87.62% of fixed assets of non-current resources. They also
pointed out that liquidity indicators have been operating with an indicator above 1.00, and
profitability indicators have been operating with positive profitability, although entities with
negative profitability have been observed. The study also pointed out that ICES have been
operating with satisfactory indicators, even though there are entities with unsatisfactory
indicators. As a conclusion, it appears that the scenario of the ICES in Santa Catarina deserves
attention from the managers, considering that the liquidity ratios, even presenting above 1.00,
are very close to 1.00. The indicators pointed out that there is a downward trend on the part of
the capital indicators; increase by the liquidity and profitability indicators, and that only the
asset turnover indicator showed a downward trend.
Keywords: Standard index. ACAFE system. Economic and financial indicator. Community
universities.

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1- Participação de capitais de terceiros avaliação da tendência .................................. 77
Gráfico 2 - Composição do endividamento .............................................................................. 78
Gráfico 3 - Imobilização do patrimônio social ......................................................................... 79
Gráfico 4 - Imobilização dos recursos não correntes ............................................................... 80
Gráfico 5 - Liquidez geral ........................................................................................................ 81
Gráfico 6 - Liquidez corrente ................................................................................................... 82
Gráfico 7 - Liquidez seca.......................................................................................................... 83
Gráfico 8 - Giro do ativo .......................................................................................................... 85
Gráfico 9 - Margem líquida ...................................................................................................... 86
Gráfico 10 - Rentabilidade do ativo ......................................................................................... 87
Gráfico 11 - Rentabilidade do patrimônio social ..................................................................... 88
Gráfico 12 - Índices-padrão médio de capital por região ......................................................... 89
Gráfico 13 - Índices-padrão médio de liquidez, por região ...................................................... 91
Gráfico 14 - Composição do endividamento por região........................................................... 92
Gráfico 15 – Índice-padrão médio de rentabilidade por região ................................................ 93
Gráfico 16 - Índice-padrão médio do giro do ativo por região ................................................. 94
Gráfico 17 - Índice de capital de terceiros médio x média do índice-padrão ........................... 95
Gráfico 18 – Índice de composição do endividamento x índice-padrão médio ....................... 96
Gráfico 19 - Grau de imobilização x índice-padrão médio ...................................................... 97
Gráfico 20 - Imobilização dos recursos correntes médios x índice-padrão médio ................... 98
Gráfico 21 - Índice de liquidez geral médio x índice-padrão médio ........................................ 98
Gráfico 22 - Índice médio de liquidez corrente x índice-padrão médio ................................... 99
Gráfico 23 - Liquidez seca média x índice-padrão médio ...................................................... 100
Gráfico 24 - Giro do ativo médio x índice-padrão médio ...................................................... 101
Gráfico 25 - Margem líquida média x índice-padrão médio .................................................. 102
Gráfico 26 - Rentabilidade média do ativo x índice-padrão médio ........................................ 103
Gráfico 27 - Rentabilidade do patrimônio social médio x índice-padrão médio ................... 104
Gráfico 28 - Média geral das notas por região ....................................................................... 106
Gráfico 29 - Médias das categorias de índices, por região ..................................................... 110
Gráfico 30 - Média dos índices de capitais............................................................................. 114
Gráfico 31 - Médias dos índices de liquidez por região ......................................................... 118
Gráfico 32 - Média das notas dos índices de rentabilidade por região ................................... 122

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Sugestões de índices para avaliação de desempenho ............................................. 32
Quadro 2 - Quadro-resumo de índices ...................................................................................... 41
Quadro 3 - Sugestão de indicadores para terceiro setor ........................................................... 43
Quadro 4 - Relação dos indicadores x pesquisas ...................................................................... 45
Quadro 5 - Indicadores ajustados para análises das ICES ........................................................ 59
Quadro 6 - Conceitos atribuídos aos índices, segundo sua posição relativa ............................ 63
Quadro 7- Relação das ICES componentes da amostra ........................................................... 68
Quadro 8 - Sites das ICES componentes da amostra ............................................................... 69
Quadro 9 - Conceitos atribuídos aos índices, segundo a sua posição relativa.......................... 72
Quadro 10 - Modelo de avaliação de índices financeiros ......................................................... 73
Quadro 11 - Avaliação das categorias de índices financeiros .................................................. 73
Quadro 12 - Índice-padrão para o setor .................................................................................... 76
Quadro 13 -Posição consolidada do setor, por nota ............................................................... 105
Quadro 14 - Média ponderada das entidades x categoria, por ano ......................................... 107
Quadro 15 - Média ponderada dos indicadores, por ICES ..................................................... 112
Quadro 16 - Média ponderada dos índices de liquidez das entidades, por ano ...................... 116
Quadro 17 - Média ponderada dos índices de rentabilidade das entidades, por ano .............. 120

LISTA DE FIGURAS
Figura 1- Objetivos da análise das demonstrações contábeis ................................................... 34
Figura 2 - Usuários das demonstrações contábeis divulgadas .................................................. 36
Figura 3 - Divisão das estruturas dos indicadores .................................................................... 39
Figura 4 - Posição dos decis na distribuição normal ................................................................ 71

LISTA DE TABELAS
Tabela 1- Ranking do capital de terceiros em relação ao patrimônio social ............................ 90
Tabela 2 - Posição relativa dos indicadores de capital ........................................................... 108
Tabela 3 - Posição relativa dos índices de liquidez ................................................................ 109
Tabela 4 - Posição relativa dos índices de rentabilidade ........................................................ 109

LISTA DE SIGLAS
ACAFE - Associação Catarinense das Fundações Educacionais
BP - Balanço Patrimonial
CC - Código Civil
CF - Constituição Federal
CFC - Conselho Federal de Contabilidade
CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
CPC - Conceito Preliminar de Curso
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
DRE - Demonstração do Resultado do exercício
ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
FHC - Fernando Henrique Cardoso
GERES - Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior
GTRU - Grupo de Trabalho Universitário
ICES - Instituições Comunitárias de Educação Superior
IES - Instituições de Educação Superior
IGC - Índice Geral de Curso
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
ITG - Interpretação Técnica Geral
LDBEN - Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional
MEC - Ministério da Educação e Cultura
MP - Ministério Público
PAIUB - Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras
PARU - Programa de Avaliação da Reforma Universitária
SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 8
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA .................... 8
1.2 OBJETIVOS .............................................................................................................. 13
1.2.1 Objetivo geral ........................................................................................................... 13
1.2.2 Objetivos específicos................................................................................................ 14
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO .................................................................................... 14
1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................. 16
1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA ........................................................................... 16
2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................. 18
2.1 A UNIVERSIDADE COMO ORGANIZAÇÃO COMPLEXA E SUA GESTÃO ....... 18
2.2 A CONTABILIDADE VOLTADA PARA FUNDAÇÕES E O SURGIMENTO DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS .............................................................................................. 24
2.3 A CONTABILIDADE COMO GERADORA DE INFORMAÇÕES E A GESTÃO
POR MEIO DE INDICADORES ......................................................................................... 33
2.4 ÍNDICES A SEREM USADOS PARA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DAS
ICES ...................................................................................................................................... 43
2.4.1 Estrutura de capital ................................................................................................... 47
2.4.1.1 Participação de capitais de terceiros, endividamento ....................................... 47
2.4.1.2 Composição do endividamento ........................................................................ 48
2.4.1.3 Imobilização do patrimônio líquido, patrimônio social.................................... 49
2.4.1.4 Imobilização dos recursos não correntes .......................................................... 50
2.4.2 Indicadores de liquidez............................................................................................. 50
2.4.2.1 Liquidez geral ................................................................................................... 51
2.4.2.2 Liquidez corrente .............................................................................................. 52
2.4.2.3 Liquidez seca .................................................................................................... 53
2.4.3 Rentabilidade ou resultados ..................................................................................... 54

2.4.3.1 Giro do ativo ..................................................................................................... 55
2.4.3.2 Margem líquida ................................................................................................ 56
2.4.3.3 Rentabilidade do ativo ...................................................................................... 57
2.4.3.4 Rentabilidade do patrimônio social .................................................................. 57
2.5 ÍNDICES-PADRÃO: O USO DA ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .................................................................................... 61
3 METODOLOGIA .................................................................................................................. 64
3.1 ESTRATÉGIA DA PESQUISA ..................................................................................... 64
3.2 OBJETO DO ESTUDO .................................................................................................. 66
3.3 COLETA DE DADOS .................................................................................................... 69
3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ............................................................. 70
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ............................................................... 75
4.1 ANÁLISE DOS INDICADORES POR MEIO DO ÍNDICE-PADRÃO ....................... 75
4.1.1 Análise dos índices de capital por meio do índice-padrão ....................................... 77
4.1.2 Análise dos índices de liquidez por meio do índice-padrão ..................................... 80
4.1.3 Análise dos índices de rentabilidade, por meio do índice-padrão ............................ 84
4.1.4 Análise comparativa dos indicadores por região ...................................................... 88
4.1.5 Análise comparativa das ICES por meio do índice-padrão médio ........................... 94
4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES DOS GRUPOS POR MEIO DE NOTA ................ 104
4.3 ANÁLISE DOS INDICADORES POR NOTAS ......................................................... 111
4.3.1 Análise dos indicadores de capital por nota ........................................................... 111
4.3.2 Análise dos indicadores de liquidez ....................................................................... 115
4.3.3 Análise dos indicadores de rentabilidade ............................................................... 118
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 124
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 129

8
1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo é abordada a parte introdutória desta pesquisa, iniciando pela
contextualização do tema da pesquisa, seguida da apresentação dos objetivos gerais e
específicos, e finalizando com a justificativa do trabalho.
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA
As Instituições de Ensino Superior - IES desempenham um papel público
fundamental e característico, considerando que resultam da união das pessoas para prover a
educação. Nesse sentido, o Estado possibilita que as sociedades civis atuem, em colaboração
com os interesses públicos, visto que assumem outro papel dentro da sociedade, cedendo
lugar ao público não estatal, criando uma cooperação entre o Estado e a sociedade
(LÜCKMANN; CIMADON, 2015).
Nesses grupos inserem-se as Instituições Comunitárias de Ensino Superior – ICES,
consideradas entidades privadas, conceituadas e reguladas pela Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece determinações sobre os conceitos de entidades
universitárias comunitárias. Esta lei classifica as IES em: a) particulares em sentido restrito, b)
comunitárias, c) confessionais, e d) filantrópicas. Além desses requisitos, uma IES, para ser
considerada comunitária, deve atender o disposto no art. 3º da Lei nº 12.881/2013, isto é, estar
organizada em torno de: práticas administrativas necessárias para coibir vantagens pessoais ou
coletivas; um conselho fiscal dotado de competências; prestação de contas, que atenda as
normas brasileiras de contabilidade; publicidade das prestações de contas por meio eficaz;
prestação de contas de todos os recursos públicos; e participação, no conselho, por meio de
representantes dos docentes, estudantes e técnicos administrativos.
Para Schmidt (2010), a comunidade e o comunitário são categorias de grande
relevância no contexto, o discurso do comunitário vem sendo objeto de discussões, por
diversos organismos ideológicos. Pensar no público estatal não é tão fácil assim, pois requer a
construção de uma política de mudança cultural, e o processo político dirá se o estado está
preparado para avançar em definições, que favoreçam um modelo de política estatal e
agreguem as entidades civis. Para Lückmann e Cimadon (2015), as ICES são instituições de
natureza público-privada, isto é, são consideradas públicas, contudo não na mesma dimensão

9
de IES, mantidas com recursos públicos, mas constituída por meio de um modelo público
privado.
A Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE, representa as ICES
dentro do território catarinense. O sistema ACAFE representa 16 instituições, constituídas sob
a forma de fundações privadas e públicas, com o objetivo de fornecer serviços educacionais
para a comunidade na qual está inserida. A ACAFE, constituída em 02 de maio de 1974, é
uma sociedade civil sem fins lucrativos que congrega as fundações educacionais criadas no
estado de Santa Catarina por lei dos poderes públicos estadual e municipais. Tem como
objetivo promover o intercâmbio administrativo técnico e científico entre as IES comunitárias
de Santa Catarina, buscando soluções para os problemas relacionados à pesquisa, extensão e
administração (ACAFE, 2019).
Com essa organização, a ACAFE busca o desenvolvimento das microrregiões de SC,
em que as ICES filiadas têm por obrigação o cumprimento da sua função social,
desenvolvendo, sem ônus para os beneficiários, programas e projetos de assistência à
comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, inclusão social e a
construção da cidadania. Segundo levantamento feito em fevereiro de 2019, são 53 cidades
atendidas, 142.293 alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, 4.694
projetos de pesquisa, 2.193 laboratórios, 925 cursos de graduação, 1.282 grupos de pesquisas.
As Universidades Comunitárias, que compõem o Sistema ACAFE, participam ativamente na
promoção do desenvolvimento do estado e de suas regiões (ACAFE, 2019).
As universidades associadas ao sistema ACAFE atuam longe dos grandes centros,
pois, conforme citado por Lückmann e Cimadon (2015), essa é uma de suas principais
características, podendo-se constatar este fato verificando-se as regiões onde elas estão
instaladas1: na região Norte: Jaraguá do Sul (CATÓLICA), Joinville (UNIVILLE), Mafra
(UNC); na região Oeste: Chapecó (UNOCHAPECÓ), Joaçaba (UNOESC) e Caçador
(UNIARP); na região Serrana: em Lages (UNIPLAC); na região Sul: Orleans (UNIBAVE),
Criciúma (UNESC) e Tubarão (UNISUL); na região do Vale do Itajaí: Brusque (UNIFEBE),
Rio do Sul (UNIDAVI), Itajaí (UNIVALI), e Blumenau (FURB); na região da Grande
Florianópolis: Florianópolis (UDESC) e São José (USJ).
Essas universidades, por estarem instaladas em diversas regiões, acabam
desempenhando um papel importante no cenário educacional, econômico e, ainda, social no
1 Foram considerados os municípios, onde esta instalada a matriz de cada ICE, para isso foram verificados pelo CNPJ de instituição.

10
estado de Santa Catarina. Fazendo-se uma comparação das receitas dos municípios2 sedes das
ICES, com as receitas geradas pela instituição3, constata-se que essas instituições possuem
uma grande representatividade na cidade onde estão instaladas. No ano de 2017, por exemplo,
as receitas representavam: na região Norte, 10,14%; na região Oeste, 41,55%; na região do
Planalto, 11,58%; na região Sul 65,27%; e, na região do Vale do Itajaí, 24,24%.
Outro indicador importante é a relação entre o PIB de 2016 dos municípios (IBGE,
2019) sede destas ICES comparado às receitas geradas, no mesmo ano, por essas instituições.
Nesse sentido, comparando-se o PIB do município sede com a receita bruta gerada pela
instituição, chegou-se ao seguinte resultado: região Norte 0,75%, região Oeste 3,43%, região
do Planalto 1,18%, região Sul 4,94%, região do Vale do Itajaí 1,98%, observando-se que, em
algumas regiões, esta relação é mais forte.
Além da representatividade dessas entidades, vista pela ótica do PIB ou pela
comparação da receita municipal com a receita das instituições, pode-se, ainda, considerar as
informações levantadas no CENSO 2018, realizado pelo INEP, as quais permitem verificar a
representatividade das ICES no contexto educacional catarinense. No total de 93
universidades, INEP (2018), 16 são do sistema ACAFE, ou seja 17,20% das Universidades
são do sistema ACAFE.
Nesse contexto, assim como em qualquer empresa, independentemente do seu porte ou
segmento da qual faça parte, ou em qualquer nível de gestão, seja estratégica ou operacional,
também no setor das ICES de Santa Catarina, a informação é algo bastante relevante na sua
condução (KOS et al., 2014). A informação, na verdade, deve ser entendida como um
elemento-chave para se trabalhar com problemas relacionados também à administração
(MOREIRA et al., 2013). Nesse sentido, portanto, os dados contábeis, por sua própria
natureza, têm a função de criar informações precisas para seus usuários, ou seja, a
contabilidade tem como função elementar fornecer informações por meio de relatórios,
auxiliando as organizações a gerenciar seus negócios (ABREU et al., 2016).
Segundo a Interpretação Técnica Geral - ITG 2000, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC no 1.330/11, que dispõe sobre a Escrituração
Contábil e a responsabilidade dos contadores, todas as empresas, independente do porte e da
natureza, devem elaborar escrituração contábil, observando a legislação e as normas
aplicáveis.
2 As receitas dos municípios onde as ICES estão instaladas foram retiradas do site: <http://portaldocidadao.tce.sc.gov.br/home.php>, por meio de consulta à receita corrente líquida de cada município, no dia 20 de abril 2019. 3 As receitas das ICES foram verificadas nas demonstrações contábeis de cada uma delas.

11
Assim, com as informações obtidas pelos demonstrativos financeiros, as empresas
podem realizar análises econômico-financeiras para mensurar e gerir o seu desempenho. A
análise econômico-financeira pode ser entendida, conforme Lee, Lin e Shin (2012), como um
tipo de análise que interpreta as operações passadas de uma organização, realizada com o
intuito de prever seu futuro, trazendo, assim, informações importantes para a tomada de
decisão do gestor da empresa. Segundo Tavares e Silva (2012), o uso de indicadores
econômico-financeiros para avaliação do desempenho de empresas não é um fato novo, pois
sua utilização já vem sendo desenvolvida há mais de cem anos. Os indicadores econômico-
financeiros são os elementos que, tradicionalmente, representam o conceito de análise de
balanço. São cálculos matemáticos efetuados a partir dos demonstrativos financeiros, criando
indicadores que ajudam no processo de gestão da empresa, em seus aspectos patrimoniais,
financeiros e econômicos (rentabilidade) (PADOVEZE, 2015).
De acordo com Perez Júnior e Begalli (2002), a análise das informações econômico-
financeiras das empresas, por meio de índices, faz-se necessária para fornecer aos usuários
informações úteis. Segundo, ainda, esses autores, “índice é a relação existente entre contas
dos demonstrativos financeiros, a fim de evidenciar determinado ponto da situação financeira
ou econômica de uma organização” (PEREZ JÚNIOR; BEGALLI, 2002, p. 235).
Corroborando essa ideia, Barbosa (2010) destaca um aspecto interessante, tratando da
facilidade na construção de índices formados a partir do confronto de dados das
demonstrações contábeis. Esses índices podem ajudar na comparação da situação econômico-
financeira com outras empresas do setor de atuação, assim como contribuir na avaliação de
decisões de investimento e desinvestimento.
Conforme Camargos e Barbosa (2005), os índices contábeis considerados tradicionais
pela literatura são divididos, centralmente, em três: Índices de Liquidez, de Rentabilidade e de
Estrutura de Capital. Complementando, Matarazzo (2017) afirma que os índices de liquidez e
de estrutura de capital procuram evidenciar aspectos da situação financeira; e os índices de
rentabilidade procuram evidenciar aspectos da situação econômica. Segundo Assaf Neto
(2018, p. 48), através de informações retiradas das demonstrações contábeis levantadas por
uma empresa, podemos obter diversas conclusões a respeito de sua situação econômica e
financeira, “como, por exemplo, se a capacidade de pagamento (liquidez) se encontra numa
situação de equilíbrio ou insolvência; (...) entre diversas outras, as quais nos possibilitam
verificar a relevância das demonstrações contábeis no processo de tomada de decisão.”
Nas buscas realizadas nas bases de dados internacionais, voltadas para o uso de análise
econômico-financeiro em IES, observou-se que o gestor deve fazer uso de ferramentas de

12
gestão, no entanto, poucos estudos recomendavam o uso de indicadores econômico-
financeiros, ao contrário, recomendavam outras ferramentas de gestão, sugerindo, então, que
existam poucos estudos voltados para o uso de indicadores econômico-financeiros como
forma de medir e gerenciar o desempenho das IES.
Em seu estudo, Rajnoha et al. (2016) afirma que deve-se fazer uso de um sistema de
gestão, sugerindo o Balanced Scorecard - BSC como uma ferramenta de análise. Do mesmo
modo, Schobel e Scholey (2012) sugerem o BSC, como uma importante ferramenta de gestão,
afirmando que ele é capaz de vincular os objetos da empresa com os resultados financeiros.
Soltes e Gavurova (2015), por seu turno, em estudo realizado, tratam unicamente da gestão da
liquidez da empresa; enquanto Gomaa, Markelevich e Shaw (2011) afirmam que uma das
formas mais tradicionais de análise são os indicadores financeiros, extraídos dos balanços e
das demonstrações do resultado. A pesquisa realizada por Michalski (2014) aponta que o
objetivo de uma entidade é a maximização do seu valor, e sugere que a gestão financeira do
caixa e, consequentemente, a gestão financeira do capital de giro seja realizado de forma
efetiva. Mura et al. (2015) indicam que a capacidade financeira da empresa leva à melhoria na
gestão do capital; afirmando que inovação é necessário para geração do capital de giro.
Os estudos nas bases de dados nacionais tendem para o uso dos indicadores
financeiros, tratando, especificamente, sobre o assunto indicador financeiro, tendo se
localizado dez pesquisas, identificadas por estarem entre aquelas com mais citações, e
representam os autores: Bomfim, Macedo e Marques (2013); Breitenbach, Alves e Diehl
(2010); Bressan et al. (2014); Carvalho e Neto (2008); Evrard e Cruz (2016); Flach, Castro e
Mattos (2017); Frezatti (2001); Lucente e Bressan (2015); Ribeiro, Macedo e Marques
(2012); Teles, Gomes e Lunkes (2013). Sobre o termo índice-padrão, foram encontradas, na
literatura nacional, duas pesquisas: Duarte e Lamounier (2007) e Jahara, Mello e Afonso
(2016).
Ainda sobre os temas de pesquisas nas bases nacionais, as pesquisas não se limitaram
apenas tratando de indicadores, embora todas tenham uma relação com o tema, pois tratam de
desempenho ou de indicadores, mas todas têm uma relação muito forte com a gestão
financeira das entidades, e foram diluídas nos seguintes tópicos: sistema de informações
gerenciais, Duarte e Lamounier (2007); modelo Fleuriet, Carneiro Junior e Marques (2005);
comparativo entre empresas, Couto, Fabiano, Ribeiro (2012); análise das demonstrações
contábeis, Fanti et al. (2016); Backes et al (2009); desempenho financeiro-contábil, Ribeiro e
Leite Filho(2003), Vieira et al. (2014); balanced scorecard, Fischmann e Zilber (2000);
técnica de gestão financeira, Francisco et al. (2012); financiamento capital de giro, Gimenes e

13
Gimenes (2008); gestão financeira por fluxo de caixa, Meirelles Júnior e Sá (2008);
bibliométrico sobre gestão universitária, Nuernberg et al. (2017); desempenho econômico-
financeiro, Ribeiro e Leite Filho (2003), Vieira et al. (2014); modelo de alerta stress
financeiro, Rosa e Gartner (2018); modelo de gestão financeira, Santos (2015); gestão
financeira de curto prazo, Couto et al 2001 (2001), Santos, Ferreira e Faria (2009); decisão
financeira - gestão orçamentária, Silva (2012), dinâmica do comportamento patrimonial, Silva
e Costa (2003); indicadores financeiros do capital de giro, Silva e Miranda (2016);
indicadores de desempenho: econômico, financeiro e de mercado, Silva et al. (2019);
indicadores de desempenho econômico-financeiro e desempenho financeiro, Silva et al.
(2019); análise financeira de hospital, Souza et al. (2013);
Vale destacar que os estudos encontrados, tanto nas bases nacionais como nas
internacionais, apontam o uso de indicadores nos mais variados seguimentos da economia,
podendo-se relacionar, entre esses, os estudos nas indústrias, nas cooperativas, nos bancos, na
construção civil. Nota-se, contudo, que não se localizou estudos que sugerissem um grupo de
indicadores capaz de auxiliar o gestor de IES, como forma de melhorar e atingir suas missões.
Diante deste cenário de complexidade e do desafio de apresentar uma sistemática de
avaliação para as ICES por meio de índices econômico-financeiros, comparados com os
índices-padrão do setor, em virtude da lacuna encontrada é que se faz a seguinte pergunta de
pesquisa: Qual o desempenho econômico-financeiro das universidades comunitárias de
Santa Catarina?
1.2 OBJETIVOS
Para responder a pergunta formulada, a presente pesquisa tem os objetivos traçados e
divididos em geral e específicos. O objetivo geral propõe uma visão ampla sobre o estudo a
ser realizado, enquanto os objetivos específicos são pontualmente repondidos, no momento da
análise dos dados.
1.2.1 Objetivo geral
Mensurar o desempenho econômico-financeiro das universidades comunitárias de
Santa Catarina por meio de índices-padrão, no período de 2010 a 2017.

14
1.2.2 Objetivos específicos
Identificar os principais indicadores econômico-financeiros que podem ser usados
pelas universidades comunitárias de Santa Catarina;
Desenvolver referenciais (índices-padrão) de comparação para as universidades, de
acordo com o cálculo dos indicadores financeiros selecionados;
Utilizar uma função de valor concomitantemente aos índices-padrão.
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
As ICES exercem um papel fundamental no cenário educacional de SC, seja por
estarem presentes em várias partes do estado, seja por seu elevado envolvimento com a
comunidade local (PAIM, 2017). Assim, o desenvolvimento e os resultados das ICES
representam um impacto para os estudantes e, mais ainda, para a comunidade em geral, visto
que essas instituições geram, de forma direta e indireta, empregos e renda, além de
contribuírem, de forma significativa, para o desenvolvimento da educação, importante meio
de contribuir para o progresso de uma sociedade (ACAFE, 2019).
Sob o ponto de vista da comunidade organizada, Paim (2017) identificou, em seus
estudos, que as ICES possuem um forte vínculo com ela, contribuindo com o
desenvolvimento humano, levando o conhecimento, por meio da pesquisa e da extensão e
buscando em seus objetivos a melhoria socioeconômica da região onde estão instaladas. Estes
achados da pesquisa sugerem o papel relevante e importante para a comunidade catarinense.
Rolim e Serra (2009) corroboram por meio de seus estudos que as ICES, possuem, uma
grande participação na comunidade na qual estão inseridas, esta influência é exercida pela
geração de emprego, renda, conhecimento e a formação de mão de obra. Sob contexto
financeiro, estas instituições geram um impacto, no seu entorno pela geração de empregos,
contratação de fornecedores, que indiretamente dependem destas instituições para manter-se
no mercado.
Para Rolim e Kureski (2011), a partir de pesquisa realizada no estado Paraná, as
universidades geram grande impacto na sociedade, sendo que esse impacto é maior nos países
em desenvolvimento. O resultado da pesquisa apontou, ainda, um multiplicador de emprego
de 2,53, significando dizer que, para cada unidade gerada em decorrência de uma IES, outras
1,34 são geradas pela economia do Paraná. Quanto aos empregos, essa relação é de 1,53, ou
seja, do indicador 2,53, 1,53 são gerados pela economia do Paraná. Em outro estudo, de

15
Rolim e Serra (2009), os resultados apontaram que as IES geram, ainda, impactos de longo
prazo, grande impacto econômico na região onde estão inseridas, visível pelas ofertas geradas
por essas instituições.
Pela ótica da comunidade científica, isto é, como o tema está sendo abordado pela
literatura, buscou-se fazer um levantamento bibliométrico em bases de dados internacionais.
Para isso, foi usado o ProKnow-C, método que tem uma visão construtivista, onde o
pesquisador participa ativamente da escolha do tema e da delimitação do portfólio
bibliográfico - PB, de acordo com o interesse na pesquisa, conforme orientam Ensslin, Ensslin
e Pinto (2013).
Segundo o levantamento bibliométrico realizado, identificou-se que a gestão
financeira das IES, não se faz sem um instrumento para auxiliar na análise dos resultados.
Caso ela não seja bem administrada pode comprometer todo o seu funcionamento, por essa
razão, principalmente, a gestão dessas instituições, mediante a análise de indicadores, é
defendida por vários autores, como Rajnoha et al. (2016); Schobel e Scholey (2012);
Michalski (2014) e Mura et al. (2015).
Tanto nas pesquisas em bases internacionais, quanto nas bases de dados nacionais, não
foram localizados, na literatura, estudos direcionados às ICES, que focassem, exclusivamente,
nos indicadores econômico-financeiros, ou seja, as instituições estão sem uma base de análise
formada por procedimentos econômico-financeiros. Além disso, não se constatou ocorrência
de estudos, que comparassem estes indicadores com os indicadores do setor, impossibilitando
o gestor de avaliar o seu desempenho, frente as demais entidades inseridas no contexto
educacional.
Sendo assim, justifica-se esta pesquisa, tendo-a como necessária e relevante,
fortalecida pelo objetivo de avaliar as entidades de acordo com um indicador financeiro
padrão para o setor no qual está inserida. Portanto, esta pesquisa se justifica, por contribuir
com a criação de um conjunto de indicadores-padrão para o setor, inexistentes ainda na
literatura pesquisada, até a sua realização.
Além disso, esta pesquisa pode contribuir com outras pesquisas, como em
Administração, com ênfase na gestão financeira das ICES, ampliando as possibilidades de
desenvolvimento de métodos de avaliação organizacional, alinhados às exigências dos órgãos
competentes. O desenvolvimento e a aplicação desta pesquisa oportunizam o aperfeiçoamento
de atuação das ICES, propondo uma análise por meio dos índices-padrão para o setor, o que
pode gerar relações de alinhamento aplicáveis a um universo maior de instituições,
contribuindo, de forma significativa, para a gestão de outras ICES brasileiras.

16
Por fim, a presente pesquisa encontra relação com as temáticas de pesquisas
vinculadas ao Mestrado em Administração da UNISUL, sobre o desempenho organizacional,
bem como com as pesquisas voltadas para as IES, visando apresentar os modelos de gestão.
Sobre a transparência das IES, esta pesquisa tem uma contribuição, pelo fato de gerar um
grupo de indicadores, que podem ser usados na linha de pesquisa sobre as IES, e, ainda, ajuda
na transparência dos resultados destas entidades.
1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
Esta pesquisa está delimitada, à mensuração do desempenho econômico das ICES por
meio dos índices-padrões, que foram definidos com base em Matarazzo (2017), para serem
usados nas análises do desempenho das instituições. Quanto ao espaço temporal foram
avaliados os anos de 2010 a 2017, foram avaliadas conforme as demonstrações contábeis
apuradas neste período. Foram selecionadas as ICES que estão localizadas no território
catarinense, e constituídas sobre a forma de Fundação Privada, resultando nas seguintes
entidades: Unifebe, Unibave, Unidavi, Católica/SC, Uniplac, Unesc, Univille, Univali, Unc,
Unoesc, Unochapecó, Uniarp e Unisul. Todas estas universidades compõe o sistema ACAFE,
consideradas universidades comunitárias.
1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA
Com o objetivo de organizar o trabalho e assim ter um melhor entendimento do
estudo, esta pesquisa será distribuída em 5 capítulos, introdução, revisão da literatura,
metodologia, análise e discussão dos resultados e as considerações finais.
No primeiro capítulo a introdução foi contextualizada a pesquisa, definidos os
objetivos gerais e específicos, justificou-se a proposta desta pesquisa assim como a
delimitação do presente estudo.
No segundo capítulo foi realizada uma revisão na literatura, e foi levantado os estudos
sobre, a universidades como organização complexa e sua gestão, a contabilidade voltada para
fundações e o surgimento das prestações de contas, a contabilidade como geradora de
informações, e a gestão por meio de indicadores, os índices a serem usados para análise das
demonstrativos das ICES, e os índices-padrão, o uso da estatística para análise das
demonstrações.
No terceiro capítulo foram os aspectos metodológicos da pesquisa, visando o
enquadramento da pesquisa, sendo assim foram definidas as estratégias da pesquisa, objeto do

17
estudo, como foram realizadas as coletadas dos dados, assim como a definição da amostra que
foi usada na análise dos dados, e como foram analisados os dados.
O quarto capítulo foram apresentados os resultados da pesquisa, apresentados da
seguinte forma: A análise dos indicadores por meio do índice-padrão, sendo analisados os
índices-padrão por meio da evolução no período, foram agrupados por regiões, e foram
comparados os índices-padrão com as ICES. A análise dos grupos de indicadores por meio de
nota, nesta análise foram verificadas primeiramente as notas gerais, em seguida as notas dos
grupos, comparando-se com as notas das regiões. E foram avaliados por meio de notas os
indicadores, individualmente é comparado com as regiões.
No quinto capítulo, foram apresentadas as considerações finais, sendo neste capítulo
fez-se um resgate dos objetivos, comparando-se com os resultados encontrados na presente
pesquisa. Além disso apontou-se as limitações as propostas de pesquisas futuras.

18
2 REVISÃO DA LITERATURA
Na revisão da literatura são expostos os conceitos que serviram de base para
fundamentar a presente pesquisa, focando-se no objetivo principal, que é analisar o
desempenho econômico-financeiro das universidades comunitárias de Santa Catarina, por
meio de índices-padrão, no período de 2010 a 2017.
Assim sendo, nas seções seguintes, são abordados os temas: a universidade como
organização complexa e sua gestão; o surgimento das prestações de contas e a contabilidade
das ICES; a contabilidade como geradora de informações; os indicadores a serem usados nas
entidades; e o uso dos indicadores padrão. Para compor os estudos realizados na literatura,
foram realizados dois levantamentos, um na literatura internacional, e outro na literatura
nacional, sendo possível, com esses dois levantamentos, melhor entender a gestão e as formas
de aplicação dos indicadores.
2.1 A UNIVERSIDADE COMO ORGANIZAÇÃO COMPLEXA E SUA GESTÃO
É importante, neste momento, ressaltar a complexidade do objeto do estudo em si, isto
é, a complexidade da universidade, visto que todo o planejamento, a formulação e o
acompanhamento foram realizados dentro desse contexto. Nesse sentido, pelas características
sui generis dessas instituições, destaca-se a importância de considerar tais aspectos para que
seja factível a utilização de procedimentos que respondam a essa realidade, já que, pela
incompreensão de sua própria natureza e da complexidade de seu funcionamento, seja qual
for a abordagem, tende-se a correr o risco de não representar qualquer valor para elas ( LIMA
et al. 2013).
Para Andrade (2002), as universidades são criadas a partir de objetivos específicos, e,
ainda, observando uma hierarquia de autoridades, utilizando-se de regras específicas. Muito
além disso, as instituições de ensino dedicam-se à mais complexa missão, que é a geração e a
difusão do saber. Assim, fazer esta gestão constitui uma tarefa desafiadora, tendo em vista que
os gestores terão que conviver com várias situações, que dificultam o seu trabalho, tais como:
estabelecer e implantar metas institucionais, tratar com organizações de profissionais, de
tecnologia e estrutura, e tomar decisão.
Sobre essa complexidade das IES, Meyer Júnior (2005) compartilha seu entendimento
de que as universidades têm sido consideradas como as instituições mais complexas na
sociedade atual. Criadas no século XII, elas constituem uma das mais importantes

19
organizações, tendo enfrentado, ao longo dos anos, diversas crises. Assim, os
administradores, visando atravessar essas crises e alinhar as universidades nas projeções para
o futuro, vêm utilizando as mais variadas abordagens de gestão. Nesse sentido, o
planejamento, como uma atividade racional que envolve atribuições como: definição de
problemas, exame de alternativas, decisão, ação, controle e resultados, torna-se relevante
ferramenta. O planejamento implica definições de critérios para a gestão por meio de
indicador de desempenho, e permite que as decisões sejam tomadas de acordo com a melhor
aplicação dos recursos, para atingir os resultados esperados.
Quando se tem a oportunidade de examinar o planejamento das universidades, um dos
aspectos mais relevantes, e que chama atenção, é a dicotomia entre intenção e ação (MEYER
Junior, 2005). Ao examinarem o planejamento universitário brasileiro, Meyer Junior e Lopes
(2004) destacam a necessidade de examiná-lo nas dimensões racional, política e simbólica,
como forma de se melhor compreender sua complexidade. Com esse propósito, apontam, em
seu trabalho, que o planejamento praticado nas universidades é um processo “fragmentado,
assistemático e caracterizado por abordagens incrementais e ações dirigidas a situações
circunstanciais. Nesse processo, suas dimensões racional, política e simbólica se mesclam de
acordo com a realidade de cada universidade” (MEYER JUNIOR, 2005, p. 388).
Para Meyer Júnior (2005), o processo de gestão pode ser um ato político, devendo o
gestor angariar apoio para alcançar os seus objetivos, predominando, nesse caso, a barganha, a
negociação com diversos grupos de interesse, visto que os objetivos e os resultados
estratégicos são resultados de negociações. No planejamento como ato simbólico, a cultura
predominante é a da “cola” que mantém a universidade unida; criam-se valores, princípios,
símbolos e ritos que mantêm organização em unidade, isto é, nessa dimensão simbólica, os
mitos, os valores e as expectativas falam mais alto.
Vários e diversos são os problemas enfrentados pelas universidades, alguns dos quais
são apontados por Meyer Júnior (2005) p. 388: “a intensa competição, a redução da demanda,
o aumento de custos operacionais, a carência de recursos, a redução do apoio estatal, a evasão
de alunos”, a queda da qualidade do ensino e a redução da capacidade de pagamento dos
alunos. Nesse sentido, para enfrentar tais problemas, as universidades precisam contar com
uma gestão ágil, e com um modelo mais adequado de gestão, relacionado, mais diretamente,
com a realidade.
Diante da dificuldade de se fazer uma eficiente gestão, o gestor da IES deve fazer uso
da gestão estratégica, a qual, no entendimento de Meyer Jr, Pascucci e Mangolin (2012),
muitas vezes, tem sido associada a chegada de um novo reitor, ou uma nova administração,

20
quase sempre vinculada a um novo plano. Entretanto, fatores como incertezas e
imprevisibilidade de fatores externos, associados a elementos como uma estrutura articulada,
onde o trabalho essencial é desenvolvido por especialistas, têm gerado grandes desafios aos
gestores das universidades. Assim, a escolha dos gestores tem ocorrido levando em
consideração sua experiência na gestão de universidade e o conhecimento da gestão de
organizações complexas acadêmicas. Muitas vezes, ainda, os modelos de práticas de gestão
são uma cópia de outras organizações. A ausência de uma teoria própria tem feito com que se
busque, em outras teorias, embasamento para a gestão das universidades, e, com isso, o
modelo de gestão das ICES ficam muito próximos.
Sobre o conceito legal de ICES, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB,
conforme Lei nº 9.934/96, conceitua e regulamenta as determinações sobre estes tipos de
instituições:
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público; II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. III - comunitárias, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019) § 1º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas.(Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019) § 2º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 13.868, de 2019). (BRASIL 1996)
A Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013, que dispõe sobre a definição,
qualificação, prerrogativas e finalidades das ICES, e disciplina o termo de parceria e dá outras
providências. As instituições de ensino superior, para serem consideradas instituições
comunitárias, deverão ser organizadas conforme prevê o art. 1º da Lei 12.2881/13.
Art. 1o As Instituições Comunitárias de Educação Superior são organizações da sociedade civil brasileira que possuem, cumulativamente, as seguintes características: I - estão constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade jurídica de direito privado, inclusive as instituídas pelo poder público; II - patrimônio pertencente a entidades da sociedade civil e/ou poder público; III - sem fins lucrativos, assim entendidas as que observam, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicam integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) mantêm escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; IV - transparência administrativa, nos termos dos arts. 3o e 4o; V - destinação do patrimônio, em caso de extinção, a uma instituição pública ou congênere.

21
§ 1o A outorga da qualificação de Instituição Comunitária de Educação Superior é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. § 2o Às Instituições Comunitárias de Educação Superior é facultada a qualificação de entidade de interesse social e de utilidade pública mediante o preenchimento dos respectivos requisitos legais. § 3o As Instituições Comunitárias de Educação Superior ofertarão serviços gratuitos à população, proporcionais aos recursos obtidos do poder público, conforme previsto em instrumento específico. § 4o As Instituições Comunitárias de Educação Superior institucionalizarão programas permanentes de extensão e ação comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos e ao desenvolvimento da sociedade (BRASIL, 2013).
As ICES, para serem qualificadas como instituição de ensino superior e obter a
qualificação de comunitária, devem conter em seu estatuto, as seguintes normas, previstas no
art. 3º da Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013.
Art. 3o Para obter a qualificação de Comunitária, a Instituição de Educação Superior deve prever em seu estatuto normas que disponham sobre: I - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de privilégios, benefícios ou vantagens pessoais; II - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; III - normas de prestação de contas a serem atendidas pela entidade, que determinarão, no mínimo: a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; b) publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade; c) prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública; IV - participação de representantes dos docentes, estudantes e técnicos administrativos em órgãos colegiados acadêmicos deliberativos da instituição. (BRASIL, 2013)
Diante dos dispositivos legais, percebe-se que essa Lei 12.881/2013 representa um
marco importante, especialmente na conceitualização dos termos comunitário, relativo à
instituição; e público, referente à gestão e administração. Na análise de Schmidt (2010), essas
instituições têm uma forte presença do poder público municipal, e, como foram constituídas
entre 1940 e 1970, não apresentam qualquer vínculo com a política neoliberal, a qual se
desenvolveu a partir dos anos 1980, tendo sido estruturadas em plena vigência do estado
desenvolvimentista, suprindo uma lacuna do estado, levando ao interior as universidades.
Esse tipo de universidade, como citam Schmidt (2010), Silveira (2007) e Lückmann e
Cimadon (2015), são instituições formadas pela união do poder público municipal com a
sociedade, além da regulamentação por parte do MEC. Sendo assim, a gestão das ICES deve
envolver todos, isto é, a comunidade, os alunos, os professores. Como afirma Dias Sobrinho

22
(2010), a avaliação de uma IES não é uma avaliação meramente técnica, exigindo, portanto,
que se estude um pouco mais sobre a gestão das universidades, e a sua complexidade.
Assim, sobre os processos de gestão, deve-se buscar a maior satisfação dos clientes,
além da oferta de um produto de maior aderência, com baixo custo, conforme constatação da
pesquisa de Hajdu, Andrejkovič e Mura (2014). Essa mesma pesquisa trouxe outra
constatação, qual seja a de que taxa excessiva de erros gera custos adicionais, que refletem no
preço do produto. Para diminuir esse impacto, as empresas devem investir em controles e
avaliação constante, mediante indicadores do desempenho da entidade, fazendo com que a
empresa se certifique que os processos estão sendo bem desempenhados.
Assim também concluem Rajnoha et al. (2016) em pesquisa sobre a importância de
uma ferramenta de informação e conhecimento para a gestão estratégica dos negócios, a fim
de apontar o desempenho. Consideram ainda, esses autores, que os controles não devem ser
somente financeiros; é preciso observar também o controle dos ativos intangíveis,
principalmente o conhecimento, usando-os para fortalecer a empresa Ao encontro desse
mesmo entendimento, segue a pesquisa de Soltes e Gavurová (2015).
Os estudos realizados por Schobel e Scholey (2012) tratam especificamente da
aplicação do BSC, percebendo-o como uma importante ferramenta de gestão. Os estudos de
Soltes e Gavurová (2015) e Rajnoha et al. (2016) indicam que as entidades devem fazer uso
das ferramentas de gestão, colaborando com o estudo de Schobel e Scholey (2012). Tratando
do BSC para as entidades de ensino superior à distância, ficou constatado nessas pesquisas
que as IES com estratégias financeiras bem definidas, e alinhadas com os resultados
educacionais, direcionam-se ao sucesso, mesmo que os modelos de financiamentos venham
mudar. E concluem, ainda, que o BSC pode ser uma ferramenta válida para o gerenciamento
de uma universidade. Como uma variante, a pesquisa de Soltes e Gavurová (2015) faz uma
relação do BSC com a ética na administração.
Para fazer a avaliação do desempenho organizacional, o gestor pode fazer uso das
mais variadas ferramentas de gestão. Nesse sentido, a pesquisa de Afonina (2015) buscou
evidenciar as ferramentas mais usadas para acompanhar o desempenho organizacional,
apoiando-se em duas hipóteses de pesquisa, relacionadas com o uso variado de ferramenta de
gestão. Como resultado obteve que a ferramenta e a técnica de gestão estratégica mais usada é
a análise SWOT, detectando, ainda, que existe um uso extensivo de ferramentas e técnicas de
gestão estratégica entre as empresas pesquisadas.
A pesquisa de Michalski (2014) aponta que o objetivo financeiro básico de uma
entidade é a maximização do seu valor. Para isso, a administração dos recursos em caixa e dos

23
ativos circulantes da empresa deve ser direcionada para o atendimento desse objetivo. Sobre o
aumento dos ativos financeiros líquidos, mediante o crescimento dos níveis de caixa, tanto
aumentam as exigências líquidas de capital de giro, como os custos para manter e administrar
a liquidez financeira (MICHALSKI, 2014).
Korutaro Nkundabanyanga et al. (2014) desenvolveram pesquisa, tratando da
alfabetização financeira das pequenas empresas, num relato importante sobre o acesso ao
crédito. Isso, de certa forma, tem relação como estudo de Michalski (2014), que também trata
dos ativos financeiros. No estudo de Korutaro Nkundabanyanga et al. (2014), os menos
alfabetizados financeiramente tendem a ter dificuldades para o gerenciamento de uma dívida,
e menor probabilidade para planejar o futuro. Esse fato corrobora achado na pesquisa de
Michalski (2014), ao tratar do custo para aquisição de capital de giro. Nesse sentido, pode-se
dizer que uma empresa que não possui uma ferramenta de gestão financeira é considerada
uma analfabeta financeira, e a entidade pode recorrer à captação de recursos, com alto custo
financeiro.
O estudo de Deming, Goldin e Katz (2013), realizado nas faculdades com fins
lucrativos fez comparação com as instituições sem fins lucrativos, concluindo que as
instituições comunitárias podem oferecer uma educação igual ou melhor, a um custo menor.
Contudo, a demanda por educação superior é maior do que os financiamentos, sendo assim, as
Universidades ainda dependem muito dos recursos de incentivo aos alunos.
Administrar com poucos recursos é uma tarefa difícil para o gestor, e pode levá-lo a
procurar recursos financeiros com maior custo, principalmente quando a empresa não tem
uma ferramenta de gestão apropriada, que aponte as devidas necessidades e riscos que terá
para a captação desses recursos. Para Brinckmann, Salomo e Gemuenden (2011), em estudo
fundamentado na teoria da visão baseada em recursos, a instituição pode desenvolver
competências para gerar os próprios caixas, a partir das estratégias da gestão financeira. Os
recursos financeiros são recursos-chave para aquisição de novos recursos, a teoria baseada em
recursos distingue: humanos, organizacional e financeiros.
Uma das formas tradicionais de análise usada pelas instituições são os indicadores
financeiros, extraídos a partir do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado. Nos
Estado Unidos, foi desenvolvido o projeto eXtensible Business Reporting Language (XBRL),
tendo a pesquisa de Gomaa, Markelevich e Shaw (2011) consistido em apresentar esta
ferramenta de análise das demonstrações por meio de indicadores. No XBRL, projeto de
dados interativos por meio de planilha, as informações ficam disponíveis aos alunos, podendo
gerar as mais variadas formas de análise das informações financeiras.

24
Diante do que foi visto neste fragmento da literatura sobre gestão de uma entidade ou
de uma empresa, pode-se concluir que os gestores precisam entender que a empresa,
necessariamente, deve ter uma ferramenta que aponte para o resultado da gestão da entidade,
que aponte não só os acertos, mas também as falhas. A gestão financeira é primordial para o
seu funcionamento da entidade, devendo ser vista como uma fonte de recurso, capaz de gerar
outras fontes de recursos para a organização. Caso ela não seja bem administrada, pode
comprometer todo o seu funcionamento. A gestão realizada mediante a análise de indicadores
é defendida por vários autores, como: Rajnoha et al. (2016); Schobel e Scholey (2012);
Brinckmann, Salomo e Gemuenden (2011); Michalski (2014); Hajdu, Andrejkovič e Mura
(2014).
2.2 A CONTABILIDADE VOLTADA PARA FUNDAÇÕES E O SURGIMENTO DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS
Neste tópico, o objetivo é fazer uma reflexão sobre os aspectos da contabilidade
voltada para as fundações. Assim, são revistos os conceitos e os fundamentos referentes à
criação de uma fundação; as leis que a definem; e a obrigatoriedade das prestações de contas.
Por fim, visando o objetivo principal, que é falar sobre a contabilidade para as ICES, são
discutidas as normas contábeis brasileiras, específicas para este segmento, destacando-se que
são aplicadas de forma diferenciada nas entidades sem fins lucrativos, mais precisamente as
fundações.
A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê no seu art. 70 que todas as entidades,
que recebem recursos públicos devem prestar contas, nascendo, aqui, a obrigatoriedade, por
parte das fundações, de prestarem contas. Obviamente, este dispositivo da legislação necessita
de regulamentação, por isso, logo são criadas leis ordinárias e decretos, chegando-se nas
normas contábeis. Sendo assim, veja-se, inicialmente, o texto desse artigo, na íntegra, sobre as
prestações de contas de que trata a CF/1988:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária (BRASIL, 1988).

25
Como forma de regulamentar esse dispositivo constitucional, a Lei nº 9.790, de 23 de
março de 1999, que dispõe sobre a regulamentação das pessoas jurídicas de direito privado,
consideradas sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público,
também institui e disciplina os termos de parcerias. Considerada um marco importante para o
setor, esta lei deu poderes ao Ministério Público (MP) para formalizar os termos de parcerias,
de organizar e regulamentar os critérios para a fiscalização e a apresentação das prestações de
contas. (BRASIL, 1999).
Ressaltando que, nesta pesquisa, o objeto de estudos são as ICES, vê-se a necessidade
de se entender os procedimentos a que essas instituições estão vinculadas pelo simples fato de
serem consideradas Fundações Privadas. Segundo o art. 1º desta mesma Lei nº 9.790/99,
alterada pela Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, para uma instituição ser considerada de
interesse público, ela deve ser constituída sem fins lucrativos, assim estabelecidos no
parágrafo 1º:
Art. 1º [...] § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social (BRASIL, 1999).
Cumprindo-se esse dispositivo legal, a entidade deve, ainda, cumprir outras
formalidades, como constituir estatutos próprios, observando, de forma expressa, o previsto
no art. 4º da já referida Lei:
Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços

26
específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação; VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo: a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título. (Vide Medida Provisória nº 37, de 2002) (Incluído pela Lei nº 10.539, de 2002) Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência).(BRASIL, 1999).
Observa-se, desse modo, que as normas editadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) encontram respaldo nessa lei para disciplinar os procedimentos
contábeis a serem adotados pelas fundações, especificamente no transcrito art. 4º inciso VII
letras a, b, c e d, exclusivo, sobre as prestações de contas. Além dos procedimentos contábeis
traz outras obrigações que não cabem destacar neste estudo, tendo em vista que o foco é
apontar as normas contábeis para tais entidades. Contudo, há de se ressaltar a importância do
inciso VII letra “b”, que trata da divulgação dos demonstrativos contábeis em meio eficaz, o
que torna público tais demonstrativos, levando a entender que qualquer pessoa pode fazer as
devidas análises, tendo em vista que esses relatórios, a partir da sua divulgação, tornam-se
públicos.
Para a realização do termo de parceria, conforme prevê o art. 10 da Lei nº 9.790/99,
deve-se observar que ele contenha: as metas e os resultados a serem atingidos; uma previsão
expressa dos indicadores de avaliação do desempenho; apresentar ao poder público um
relatório sobre o atendimento das metas, a execução financeira e os resultados alcançados; um
acompanhamento das despesas e receitas realizadas, e, ainda, a publicação no diário oficial
dos respectivos relatórios (BRASIL, 1999).
Para Silveira (2007), as fundações são entidades públicas, e por assim serem
consideradas, são fiscalizadas anualmente pelo Ministério Público, o qual deve avaliar os atos
praticados pela instituição, que venham gerar qualquer risco para a liquidez ou a integridade

27
do patrimônio. Nesse sentido, cada estado da federação, poderá adotar regras diferentes para a
fiscalização (SILVEIRA, 2007).
A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que criou o atual Código Civil (CC)
brasileiro, no seu art. 44 determina que as pessoas jurídicas são constituídas de duas formas:
Direito Público e Direito Privado. No art. 66 do CC, ficou expresso que o Ministério Público
estadual ou, no Distrito Federal, a cargo do Ministério Público Federal, é responsável pelo
controle e a fiscalização dessas entidades, cabendo estabelecer as regras específicas para cada
estado. No caso de Santa Catarina, conforme a Orientação Técnica Contábil CIP nº 003, o
Ministério Público catarinense adota, como norma contábil, a Resolução CFC nº 1.409/12,
que instituiu ITG 2002 (R1).
Nesse sentido, Krüger, Borba e Silveira (2012) afirmam que, conforme o dispositivo
do CC citado, no parágrafo anterior, as instituições catarinenses estão sujeitas as regras, do
Ministério Público catarinense, e sendo assim devem apresentar as prestações de contas, de
acordo com as normativas deste estado. Para realizar as prestações de contas, as entidades
devem usar o sistema SICAP, que é um sistema que coleta as informações referentes às
fundações, ficando as entidades obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis e demais
informações solicitadas pelo MP.
Para Borba, Pereira e Vieira (2007), as ICES constituídas sob a forma de fundações
privadas, conforme citadas no art. 44 do CC, entidades que visam apoiar as instituições de
ensino superior, são criadas para gerar pesquisa, ensino e extensão. Visando, também, apoiar
o desenvolvimento tecnológico e científico, essas instituições são criadas mediante aprovação
do MP. E mais, pelo papel público que essas instituições desenvolvem, o poder público, com
o intuito de fomentar esse mercado, tem concedido a elas benefícios fiscais.
Conhecidas as regras que dão poderes ao Conselho Federal de Contabilidade – CFC
para gerar as normas contábeis para as instituições do terceiro setor, mais precisamente
falando-se aqui das Fundações Privadas, passa-se a estudar essas normas, específicas para este
grupo de entidades, com base nas quais são gerados os demonstrativos, que são objeto de
análise pelos interessados nestas instituições.
A Interpretação Técnica Geral – ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12,
estabelece as normas a que as entidades sem fins lucrativos (fundações privadas) devem estar
sujeitas, conforme estabelecido em seu objetivo:
1. Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2018).

28
Dentro do alcance do que está relacionado nos itens 2 a 7 da ITG 2002,
especificamente o item 2 trata das entidades sem a finalidade de lucros, as quais, segundo a
norma, podem ser constituídas sob a natureza jurídica de: “2. Fundação de direito privado,
associação, organização social, organização religiosa, partido político e entidade sindical.”
(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2018). Já o item 3 trata das atividades,
que as entidades sem fins de lucros podem desenvolver, e entre estas está a atividade de: “3.
educação, técnico-científica, [...] e são coordenados em torno de um patrimônio com
finalidade comum ou comunitária” .
Ainda falando do alcance desta norma, a ITG 2002, o item 4 traz a seguinte redação:
4 - Aplicam-se à entidade sem finalidade de lucros os Princípios de Contabilidade e esta Interpretação. Aplica-se também a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas ou as normas completas (IFRS completas) naqueles aspectos não abordados por esta Interpretação (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2018).
Nota-se que a ITG 2002, não se limita especificamente ao uso da sua redação, fazendo
uma relação com outras normas contábeis. Isso ocorre porque a ITG 2002 relaciona os
procedimentos específicos para o terceiro setor. Isto é, enquanto as demais normas adotam
procedimentos que podem ser usados nas entidades caracterizadas como fundação, a regra
orienta que primeiro se verifique o entendimento na ITG 2002, caso não se encontre o devido
respaldo nesta norma, deve-se recorrer às normas complementares.
A ITG 2002 demonstra grande preocupação com o reconhecimento. Para Padoveze,
Benedicto e Leite (2013), o reconhecimento na contabilidade implica incorporar um item nas
demonstrações contábeis, como um ativo, uma receita, uma despesa ou até mesmo um
passivo. E segue além, implica incluir o item não só de forma descritiva, mas sim quantificá-
lo e, ainda, incluí-lo nos totais das demonstrações contábeis. Nesse mesmo sentido, Piza et al.
(2013) alegam que o reconhecimento das despesas e das receitas devem ocorrer à medida que
o projeto está em andamento; caso contrário, a entidade estará desviando-se do regime de
competência.
Para melhor detalhar esse assunto, entende-se conveniente aqui relacionar, na íntegra,
o que a norma traz sobre os reconhecimentos na contabilidade:
8. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o princípio da Competência. (Alterado pela ITG 2002 (R1)) 9- As doações e as subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser
reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais. 9A. Somente as subvenções concedidas em caráter particular se enquadram na NBC TG 07. (Incluído pela ITG 2002 (R1))

29
9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenções previsto na NBC TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receita no resultado. (Incluído pela ITG 2002 (R1)) 10- Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades. 11- Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, bem como de isenção e incentivo fiscal registrados no ativo, deve ser em conta específica do passivo. 12- As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceira e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. 13- Os benefícios concedidos pela entidade sem finalidade de lucros a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentais. 14- A entidade sem finalidade de lucros deve constituir provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. 15- O valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido. 16- O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. 17- Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. 18- A dotação inicial disponibilizada pelo instituidor/fundador em ativo monetário ou não monetário, no caso das fundações, é considerada doação patrimonial e reconhecida em conta do patrimônio social. 19- O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 19. O trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. (Alterado pela ITG 2002 (R1)) 20- Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. 21- Na adoção inicial desta Interpretação e da NBC TG 1000 ou das normas completas (IFRS completas), a entidade pode adotar os procedimentos do custo atribuído (deemed cost) de que trata a ITG 10. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2018).
Quanto às demonstrações contábeis, Grazzioli et al. (2015) apontam que a norma faz
algumas modificações em relação aos conceitos e às nomenclaturas que eram utilizados. A
ITG 2002, nos itens 22 a 25, apresenta as principais mudanças: Na apresentação do balanço, o
nome capital social, que era usado nas entidades com fins lucrativos, deve ser substituído por
patrimônio social. Quanto à conta de lucros ou prejuízos, usados nas entidades com fins
lucrativos, devem ser substituídos por: superávit ou déficit do período. As gratuidades e os
serviços voluntários devem ser destacados e informados em notas explicativas; e as doações,
classificadas nos fluxos de caixa das atividades operacionais.

30
Ainda segundo Grazzioli et al. (2015), até o ano de 1999, as instituições sem fins
lucrativos não tinham um ordenamento; quanto às normas para o setor, cabia ao contador
fazer uma aproximação, usando as normas das entidades privadas, sendo preciso, para isso,
fazer algumas adaptações. E o problema aumentava quando estas entidades mantinham algum
tipo de relação com o governo, ou seja, eram beneficiadas com recursos públicos, sendo,
muitas vezes, comum por parte do governo exigir as prestações de contas nos moldes da Lei
nº 4.320/1964, que trata exclusivamente da contabilidade do setor público (GRAZZIOLI et
al., 2015).
A regulamentação das entidades do terceiro setor, segundo Grazzioli et al. (2015),
iniciou-se com o advento da Lei nº 9.790, de 23/03/1999, que regulamentou as entidades, e
passou a exigir demonstrações contábeis nos moldes das normas estabelecidas pelo CFC,
nascendo, então, a contabilidade voltada para o terceiro setor, a partir da norma positivada.
Sendo assim, o CFC passou a normatizar, criando as resoluções. Além disso, com a Lei nº
11.941/2009, passou-se a adotar no Brasil as normas internacionais de contabilidade,
promovendo-se um grande movimento, a fim de fazer as convergências, dando impulso para
que se tivesse, a partir de 2012, esta conversão e, então, em 2015, quando foi editada a atual
norma.
Continuando com seus argumentos, Grazzioli et al. (2015) sustentam que, no período
de 1999 a 2012, e, posteriormente, com a alteração na ITG 2002, houve um avanço
significativo nas normas contábeis, focadas no terceiro setor, mais precisamente das
fundações privadas. Essa evolução é visível e, afirmam os autores, a norma visa estabelecer
para essas entidades (associações e fundações) os critérios e procedimentos contábeis,
específicos para o terceiro setor, no âmbito das normas internacionais de contabilidade.
As entidades sem fins lucrativos, segundo Grazzioli et al. (2015), estão sujeitas à
apresentação das seguintes demonstrações: a) balanço patrimonial, b) demonstração do
resultado do período; c) demonstração das mutações do patrimônio líquido, d) demonstração
dos fluxos de caixa, e e) notas explicativas. Já as entidades com fins lucrativos podem estar
sujeitas à apresentação das seguintes demonstrações: a) balanço patrimonial, b) demonstração
do resultado do período, c) demonstração do resultado abrangente, d) demonstração das
mutações do patrimônio líquido, e) demonstração dos fluxos de caixa, f) demonstração do
valor adicionado, e g) notas explicativas. Como pode ser observado, para as entidades sem
fins lucrativos, há uma exigência menor quanto aos demonstrativos a serem apresentados. No
entanto, os autores ressaltam que, caso a entidade julgue necessário, poderá fazer outras
demonstrações, além das exigidas pela norma.

31
Para Grazzioli et al. (2015), o balanço patrimonial representa as riquezas e o capital da
entidade, referente a um determinado período. O ativo são os recursos controlados pela
entidade, resultado de eventos passados, que irão gerar novos recursos no futuro. O passivo
representa as obrigações da entidade, resultado de operações passadas, cuja liquidação
representa saída de recurso, capaz de gerar um benefício futuro. O patrimônio social
representa o valor residual do ativo menos o passivo. A demonstração do resultado, para
Grazzioli et al. (2015), representa o resultado da gestão da empresa, segregando as operações
próprias e as operações em parcerias.
Em atendimento ao art. 10 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que estabelece
que a instituição deve adotar alguns procedimentos de gestão financeira, ao se criarem os
indicadores financeiros, deve-se ter uma previsão de receitas e despesas. Nesse sentido,
Grazzioli et al. (2015) recomendam que a entidade tenha um conselho fiscal, que auxilie na
governança e propicie mais transparência. E mais, deve se preocupar com a gestão das ações
sociais, e em fazer a gestão financeira, pois essas entidades dependem de recursos alheios,
exigindo que os gestores acompanhem, em passos curtos, estes recursos, devendo, para isso,
fazer uso de planejamentos orçamentários, e do fluxo de caixa, e acompanhar os indicadores
de desempenho.
Grazzioli et al. (2015) apresentaram alguns indicadores descritos a seguir, no Quadro
1, e que, de acordo com as normas, podem ser usados no conjunto de indicadores a serem
calculados pelas instituições.

32
Quadro 1 - Sugestões de índices para avaliação de desempenho ÍNDICES FINANCEIROS E ECONÔMICOS
EXPRESSÃO TÍTULO FINALIDADE
AC/PC Liquidez corrente Ativos circulantes disponíveis para liquidar obrigações de curto prazo.
Disponível/saldo dos projetos Liquidez específica Expressa o montante de recursos disponíveis para cumprir as atividades do projeto no período seguinte.
Patrimônio líquido / imobilizada X 100
Grau de imobilização do PL
Expressa o percentual de imobilização do patrimônio social.
ANC / patrimônio líquido Grau de recursos do PL que está no ativo não circulante
Expressa o percentual do PL aplicado no ativo não circulante.
PC/PC + PNC + PL x 100 Grau de endividamento a curto prazo
Expressa o percentual de endividamento em curto prazo.
PC + PNC/PC+PL x 100 Grau de endividamento geral
Expressa o percentual de endividamento total.
Despesa realizada / receita recebida x 100
Relação despesa realizada dos projetos e as receitas recebidas
Expressa o percentual das despesas efetivamente realizadas em relação às receitas recebidas do período. Devem ser analisadas em separado: doações vinculadas a projetos e os recursos próprios. Expressa o percentual de endividamento total.
Gratuidade / Despesa total x 100 Relação gratuidades e despesas totais
Avaliar o percentual de gratuidades concedidas no período em relação às despesas totais.
Gratuidade / receita total x 100 Relação gratuidade e receitas totais
Avaliar o percentual de gratuidade recebidas no período em relação às receitas totais.
Despesas por atividades / despesa total x 100
Participação de cada atividade nas despesas totais
Avalia o nível de representatividade de cada atividade nas despesas totais.
Receitas por atividade / receita total x 100
Participação de cada atividade nas receitas totais
Avalia o nível de representatividade das receitas auferidas em relação às receitas totais.
Receitas próprias / receita total x 100
Esforço de captação própria
Avalia a capacidade de a entidade gerar renda própria em relação às receitas totais.
Fonte: Grazzioli et al. (2015, p.222)
LEGENDA: AC = Ativo circulante PC = Passivo circulante PL = Patrimônio líquido ANC = Ativo não circulante PNC = Passivo circulante Esse grupo de indicadores apresentado por Grazzioli et al. (2015), como sugestão para
análise de uma entidade do terceiro setor, para uso na presente pesquisa, passaram por uma
análise criteriosa, a fim de identificar o seu uso ou não, verificando se essas informações
seriam úteis ou não para a aplicação na análise das ICES. Vale citar que inserir esse quadro
com a relação dos indicadores, não significa que eles serão usados, mas que serão analisados
de forma bastante criteriosa, e comparados com os indicadores sugeridos por Matarazzo

33
(2017), com vistas a se organizar um conjunto de indicadores, focados na análise dos
demonstrativos.
O manual do terceiro setor, criado por Grazzioli et al. (2015), vem sendo aplicado
pelas entidades, conforme expõem as pesquisas de Philippe, Feliciano e Silva (2017),
apontando o grau de conformidade com as normas contábeis das demonstrações das ICES:
FURB 38,89% e UNIDAVI 88,89%; e, quanto às notas explicativas, a UNIVILLE 76,92%. Já
a pesquisa de Da Silva, Soares e Casagrande (2016) focada, exclusivamente, na UNISUL,
apontou conformidade com as normas de 87%. Sobre as entidades do terceiro setor, a
pesquisa de Koch et al. (2018), apontou uma conformidade de 79,45% das demonstrações do
ano de 2015.
Após este estudo sobre os aspectos voltados para a contabilidade, focada nas entidades
constituídas sob o modelo de fundação, desenvolve-se, no próximo item, um estudo sobre a
análise das demonstrações contábeis. Assim, serão estudados os indicadores de forma geral,
para, mais adiante, se focar nos indicadores ajustados especificamente para as ICES, objeto de
estudo nesta pesquisa.
2.3 A CONTABILIDADE COMO GERADORA DE INFORMAÇÕES E A GESTÃO POR
MEIO DE INDICADORES
Uma das formas de se avaliar o desempenho de uma entidade consiste em analisar os
indicadores, os quais podem ser gerados a partir das informações contábeis. Para Padoveze
(2015), o valor da informação está ligado ao fato de que ela pode reduzir a incerteza para a
tomada da decisão, ou seja, a informação é validada a partir da sua utilização, passando a
gerar confiabilidade. Boas e Jones (2005), em sua pesquisa, concluem que as entidades devem
ter um bom sistema gerencial, capaz de controlar os pontos que devem ser melhorados e,
sendo assim, os dados devem ser estruturados.
Para Souza et al (2009), os indicadores são calculados a partir das informações
contábeis, elencando, como resultado de sua pesquisa, um conjunto de indicadores, capaz de
auxiliar na gestão financeira e econômica. Para Vieira et al. (2014), as demonstrações
contábeis além de evidenciarem a situação patrimonial, representam as variações no
patrimônio, as quais, segundo Padoveze (2015), são compostas pela integração dos sistemas
de compras, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento.
Segundo Fanti et al. (2016), a análise das demonstrações contábeis, realizada a partir
de um conjunto de indicadores contábeis, pode fornecer aos gestores importantes dados sobre

34
a saúde financeira da instituição. A pesquisa de Fanti et al. (2016), realizada na empresa Vale
S/A, ainda possibilitou concluir que as demonstrações contábeis são confiáveis. Iudícibus
(2017) sugere que os relatórios gerados sejam utilizados na tomada de decisão, afirmando que
são gerados pela contabilidade gerencial.
Partindo-se para a análise das demonstrações com base nos indicadores, autores, como
Iudícibus (2017) e Marion (2012), afirmam que ela é tão antiga quanto a própria
contabilidade. Outros autores: Fanti et al. (2016); Bomfim, Macedo e Marques (2013);
Breitenbach, Alves e Diehl (2010); Bressan et al. (2014); Carvalho e Neto (2008); Evrard e
Cruz (2016); Flach, Castro e Mattos (2017); Frezatti (2001); Lucente e Bressan (2015);
Ribeiro, Macedo e Marques (2012); Souza et al. (2009); Teles, Gomes e Lunkes (2013), em
suas pesquisas, constataram que os indicadores de desempenho financeiros e econômicos vêm
sendo usados pelos pesquisadores, como uma forma de entender a saúde financeira e
econômica das entidades.
A análise das demonstrações contábeis constitui papel importante visto que objetiva
apresentar e gerar informações úteis para a tomada de decisão. Segundo Martins, Miranda e
Diniz (2018, p. 5), a contabilidade permite ao analista entender a empresa sob vários aspectos,
e avaliar com atenção: “[...] se a empresa merece crédito, se é solvente, se é rentável”. A
Figura 1, seguir, ilustra o processo de tomada de decisão, a partir das análises das
demonstrações.
Figura 1- Objetivos da análise das demonstrações contábeis
Fonte: Martins, Miranda e Diniz (2018, p.5)
Assaf Neto (2018) entende que a globalização influencia no mercado, visto que ela pode,
principalmente, gerar abertura econômica. Assim, diante do avanço do capitalismo tendente a
tornar as economias fechadas em mercados abertos, a contabilidade assume um papel
importantíssimo, que é apurar e demonstrar os resultados em contextos específicos. No seu
Análise das demonstrações contábeis
Subsidia o proceso decisório dos vários usuários
Avalia se a empresa merece crédito, se é solvente, se é
rentável

35
objetivo básico, que é fornecer informações corretas para a tomada de decisão, neste mundo
globalizado, a contabilidade se destaca no sentido de gerar as informações em diversas formas
de apresentação.
Bomfim, Macedo e Marques (2013) pesquisaram um grupo de indicadores por meio
da análise fatorial, levando em consideração um grupo de empresas petrolíferas, a fim de
avaliar o desempenho financeiro. Já a pesquisa de Breitenbach, Alves e Diehl (2010) procurou
estudar os indicadores de gestão para as entidades de educação básica, criando um grupo de
indicadores de desempenho financeiro, que foram analisados pelos gestores. Foi possível,
assim, detectar diferenças, indicando que a gestão, a partir da análise dos indicadores, poderia
melhorar o desempenho daquelas escolas, avaliadas no estudo.
Bressan et al. (2014) pesquisou um grupo de indicadores financeiros para o setor de
cooperativa de crédito, que permitiu calcular a média de insolvência dessas entidades,
testando, para sua análise, a aplicação do modelo Logit em dados de painel, valendo-se dos
indicadores contábeis. Ainda avaliando o setor de cooperativas, a pesquisa de Carvalho e Neto
(2008), por meio da análise fatorial, proporcionou mais objetividade na escolha de um grupo
de indicadores capaz de avaliar o desempenho.
A análise por meio de indicadores pode ser realizada pelos mais variados seguimentos,
como, por exemplo, a pesquisa de Evrard e Cruz (2016), que analisou o retorno das ações da
Bovespa. Já a pesquisa de Flach, Castro e Mattos (2017) e Ribeiro, Macedo e Marques
(2012), focaram no setor de energia elétrica, apontando, como resultado, que o giro do ativo
circulante e não circulante são as variáveis de mais importância. Outras pesquisas, como de
Frezatti (2001), analisou os indicadores de longo prazo; Lucente e Bressan (2015) analisaram
os indicadores de um clube de futebol, especificamente o Sport Club Corinthians; Souza et al.
(2009) pesquisaram o setor hospitalar; e Teles, Gomes e Lunkes (2013), o setor hoteleiro.
Todas essas pesquisas estão relacionadas aos indicadores gerados a partir das demonstrações
contábeis.
Assaf Neto (2018), por meio da análise das demonstrações, apresenta algumas
conclusões sobre a posição econômica e financeira da entidade. Fazendo uma análise das
demonstrações, além da posição financeira, cada usuário pode retirar as suas conclusões,
identificando as causas que influenciaram na evolução financeira da entidade, além ser
possível gerar projeções.
Para Martins, Miranda e Diniz (2018), o analista das demonstrações contábeis é um
verdadeiro detetive, pois, como este, ele emprega suas habilidades para fazer todas as análises
possíveis e necessárias, as quais irão subsidiar o processo de tomada de decisão. Isso posto,

36
surgem algumas interrogações: Quais informações deverão ser retiradas da contabilidade?
Quais indicadores deverão ser usados? Nesse caso específico, para responder essas perguntas,
é importante, primeiro, entender o que cada indivíduo ou empresa/instituição tem de interesse
nas informações.
Ainda sobre as informações que podem ser retiradas por meio dos indicadores,
Martins, Miranda e Diniz (2018) destacam que são vários os usuários, preocupados com as
informações. Justamente por isso, faz-se esta pesquisa pretendendo gerar um conjunto de
indicadores, que poderão ser usados para fazer essas análises.
Para melhor esclarecer este aspecto, demonstrando quem são os interessados na
contabilidade, insere-se, aqui a Figura 2.
Figura 2 - Usuários das demonstrações contábeis divulgadas
Fonte: Martins, Miranda e Diniz (2018, p. 5).
As entidades, de forma constante, tomam decisões, as quais são vistas pelos seus
interessados, como pode ser verificado na Figura 2. Nota-se, ainda, que a gestão pode ser
norteada de várias formas, sendo uma delas pela análise dos indicadores. De modo um pouco
diverso disso, a pesquisa de Silva (2012) aponta que gestão financeira pode ser feita com base
no orçamento, evidenciando sobre a importância dela para a sobrevivência das entidades, hoje
tão afetadas pela globalização. Para Gitman e Madura (2003), as decisões financeiras
influenciam sobremaneira no valor da empresa.
Ao longo do seu caminhar, as entidades realizam várias operações financeiras, dentre
as quais, para Assaf Neto (2018), têm-se as decisões concentradas em captação de recursos,
que são voltadas ao financiamento; e as de aplicação de recursos, que são os investimentos a

37
serem realizados. Nesse sentido, a instituição precisa ter maturidade para tomar a decisão,
pois o equilíbrio financeiro é essencial entre o passivo e a geração de caixa. Observa-se,
ainda, que essa maturidade deve estabelecer atratividade econômica, promovendo a sua
continuidade e valorização, bem como que o retorno dos investimentos satisfaça pelo menos
as expectativas de remuneração, de maneira a viabilizar economicamente a entidade (ASSAF
NETO, 2018).
Para Francisco et al. (2012), tem sido comum o uso de indicadores contábeis para
diagnosticar problemas futuros e realizar as projeções. Iudícibus (2017), contudo, observa que
vai além das projeções, sugerindo que a análise também compare os resultados com os
concorrentes. Gitman (2010), por seu turno, destaca que as demonstrações padronizadas vêm
permitindo comparações ao longo do tempo; enquanto para Kassai (2002), a análise por meio
dos indicadores financeiros é também muito importante para a tomada de decisão, servindo de
base para a realização de investimentos ou para concessão de investimento.
Para Iudícibus (2017), a análise dos demonstrativos é importante não só para credores,
investidores, agências governamentais, visto que não é menos importante para os gestores. A
análise dos demonstrativos configura uma arte de extrair informações úteis. Nesse sentido,
conforme entendimento de Fischmann e Zilber (2000), a globalização e a tecnologia impõem
aos gestores técnicas que possibilitam tomar as decisões em tempo hábil. Os mesmos autores
entendem, ainda, que os indicadores são instrumentos capazes de auxiliar na definição do
planejamento estratégico, criando indicadores financeiros e não financeiros. Para Matarazzo
(2017), o analista dos balanços deve preocupar-se com os demonstrativos, além de empenhar-
se em transformar em informações em instrumentos de análise, dos demonstrativos contábeis.
Fazer uma análise não é simplesmente fazer os cálculos dos indicadores; muito mais
que isso, é necessário que se faça uma revisão, podendo, ainda, ser necessário reclassificar
algumas contas. Segundo Matarazzo (2017), as demonstrações devem ser preparadas para se
fazer as análises, ressaltando que o termo “preparadas” significa dizer que as demonstrações
devem observar um padrão, isto é, estar padronizadas.
Iudícibus (2017) argumenta que as peças contábeis devem ser colocadas
convenientemente, e preparadas para a análise; que os demonstrativos devem ter um grau de
detalhamento necessário para permitir uma boa análise. Para Marion (2012), a reclassificação,
faz-se necessária para evitar, que os demonstrativos venham a ser influenciados, entendendo
que as reclassificações evitam que se tenha informações distorcidas.
Segundo Matarazzo (2017), as demonstrações financeiras correspondem às operações
realizadas pela entidade, estão apresentadas em moedas e são elaboradas de acordo com as

38
normas contábeis estabelecidas. Os índices, por sua vez, apontam a relação entre um grupo e
outro; enquanto os indicadores visam apresentar os aspectos da situação financeira, ou a
situação econômica da entidade, podendo ser também a situação econômica e financeira
(MATARAZZO, 2017). A análise realizada por meio de indicadores é a forma mais usada
para se entender a evolução patrimonial e dos resultados das instituições.
Nesse caso, se os índices apontam a situação econômica e financeira da entidade,
deve-se usar, então, um grande volume de indicadores, para fazer a análise Matarazzo (2017)
responde essa questão, orientando que deve se usar o número suficiente para conhecer a
entidade, pois usar de forma demasiada os indicadores não vai ajudar em absolutamente nada,
apenas vai gerar mais custos de análise. Ainda no sentido de responder ao questionamento,
Martins, Miranda e Diniz (2018) recomendam que não se deve usar apenas um indicador, mas
grupos de indicadores, analisando-se um período maior, comparando os números da entidade
com os números de outras do setor. Assaf Neto (2018) corrobora essa afirmação ao entender
que a análise dever ser feita através de uma série temporal, e comparando com outras
entidades, sugerindo, assim, o uso de índice-padrão.
A pesquisa de Vieira (2014) apontou que os indicadores podem ser agrupados em
cinco conjuntos: índices de liquidez, índices de endividamento, índices de atividades, índices
de rentabilidade, e índices de mercado. Sobre a análise, destacou que pode ser dividida em
duas categorias: análise financeira e análise econômica. Por sua vez, a pesquisa de Silva et al.
(2019) gerou agrupamentos de liquidez e de desempenho econômico, focando na
rentabilidade.
Fanti et al. (2016), na análise realizada na empresa Vale S/A, agrupou os índices em
estrutura de capital, indicadores de liquidez e rentabilidade, tornando, com estes grupos,
possível realizar o estudo bem como a avaliação da empresa. Breitenbach, Alves e Diehl
(2010) estabeleceram grupos de indicadores de desempenho para avaliar uma instituição de
ensino, com os quais foi possível indicar melhorias para os gestores, e foram criados dois
grupos: índices de resultado e estratégico.
A pesquisa de Ferreira e Macedo (2011) foi focada na gestão de curto prazo,
direcionando, assim, os indicadores para avaliar esse contexto. Jahara, Mello e Afonso (2016),
que analisaram como funciona a gestão dos clubes de futebol, adotaram uma classificação dos
indicadores em: liquidez, endividamento e lucratividade, e, dentro desta divisão, aplicaram
alguns testes de insolvência. A pesquisa de Duarte e Lamounier (2007), que analisou as
empresas do setor de construção civil, por meio de índice-padrão, focou em avaliar os índices
de liquidez, obtendo resultados satisfatórios. Sem usar o índice-padrão, Souza et al. (2009)

39
realizaram pesquisa para verificar os indicadores mais adequados para o setor hospitalar,
tendo organizado os indicadores de acordo a seguinte classificação: liquidez, endividamento,
atividades, lucratividades e rentabilidade.
Várias pesquisas, como Fanti et al. (2016); Alves e Diehl (2010); Ferreira e Macedo
(2011); Jahara, Mello e Afonso (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2009),
agruparam os indicadores, a fim de facilitar o entendimento, sobre a evolução patrimonial e
econômica da amostra estudada. Percebeu-se que as pesquisas apresentam os indicadores por
blocos.
Para a presente pesquisa, usou-se o modelo proposto por Matarazzo (2017), o qual
afirma que deve se usar os índices não só para analisar a situação financeira, mas também
para analisar a situação econômica. Ressalta-se que os indicadores econômicos tratam da
rentabilidade, enquanto os indicadores financeiros dividem-se em: de estrutura de capitais e
índices de liquidez (MATARAZZO, 2017). Para elucidar a estrutura de índices, tornando-a
mais clara, faz-se uso da Figura 3, apresentada a seguir.
Figura 3 - Divisão das estruturas dos indicadores
Fonte: Matarazzo (2017, p. 84)
Os indicadores de estrutura de capitais, segundo Fanti et al. (2016) representam a
distribuição e as origens do capital. Nesse mesmo entendimento seguem Flach, Castro e
Mattos (2017), concluindo que os indicadores de liquidez representam os recursos que podem
ser, facilmente, convertidos em dinheiro, ainda sobre rentabilidade, representa a habilidade
que a entidade tem de gerar receitas além das suas despesas.
Sobre o grupo de indicadores, Matarazzo (2017) entende não haver necessidade de
mais indicadores, pois no quadro 02 sugerido pelo autor, estão os principais índices, que
devem compor uma análise de balanços. Diante do exposto, considera-se para fins de análises
das ICES este grupo de indicadores, porém estes índices precisam ser comparados, com o

40
grupo sugerido por Grazzioli et al. (2015), que é um grupo de indicadores específicos para o
terceiro setor. Neste caso é importante que se faça este paralelo, no sentido de analisar, se os
indicadores apresentados por Matarazzo (2017) e por Grazzioli et al. (2015), podem ou não
ser usados para analisar as ICES, e esta análise será feita no próximo tópico.
Antes, porém, e diante do exposto, entende-se necessário apresentar os indicadores
sugeridos por Matarazzo (2017), o que se cumpre com a inserção, a seguir, do Quadro 2.

41 Quadro 2 - Quadro-resumo de índices
SIMBOLO ÍNDICE FÓRMULA INDICA INTERPRETAÇÃO
ESTRUTURA DE CAPITAL
1. CT/PL Participação de capitais de terceiros (endividamento)
Capitais de terceiros x 100
Quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada $ 100 de capital próprio.
Quanto menor, melhor. Patrimônio líquido
2. PC/CT Composição do endividamento Passivo circulante
x 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em
relação às obrigações totais. Quanto menor, melhor
Capitais de terceiros
3 AP/PL Imobilização do patrimônio
líquido Ativo não circulante
x 100 Quantos $ a empresa aplicou no ativo não
circulante para cara $ 100 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor
Patrimônio líquido
4. AP/PL + ELP Imobilização dos recursos não
correntes
Ativo não circulante x 100
Que percentual dos recursos não correntes (patrimônio líquido e exigível a longo prazo) foi
destinado ao ativo não circulante. Quanto menor, melhor
Patrimônio líquido + exigível a
longo prazo
LIQUIDEZ
5. LG Liquidez geral
Ativo circulante + realizável a longo prazo
Quanto a empresa possui de ativo circulante +
realizável a longo prazo para cada $ 1 de dívida total.
Quanto maior, melhor.
Passivo circulante + exigível a longo prazo
6. LC Liquidez corrente Ativo circulante
Quanto a empresa possui de ativo circulante para
cada $ 1 de passivo circulante Quanto maior, melhor
Passivo circulante
7. LS Liquidez seca
Disponível + títulos a receber + outros ativos de rápida
conversibilidade Quanto a empresa possui de ativo líquido para
cada $ 1 de passivo circulante Quanto maior, melhor
Passivo circulante
RENTABILIDADE
8. V/AT Giro do ativo Vendas líquidas
Quanto a empresa vendeu para cada $ 1 de
investimento total Quanto maior, melhor
ativo
9. LL/V Margem líquida Lucro líquido
x 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100
vendidos Quanto maior, melhor
Vendas líquidas
10. LL/AT Rentabilidade do ativo Lucro líquido
x 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100
de investimento total Quanto maior, melhor
Ativo
11. LL/PL Rentabilidade do patrimônio
líquido Lucro líquido
x 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100
de capital próprio investido, em média, no Quanto maior, melhor
Patrimônio líquido médio

42 exercício.
Fonte: Matarazzo (2017, p. 86) LEGENDA
CT – Capitais de terceiros LG - Liquidez geral PL – Patrimônio líquido LC - Liquidez corrente PC – Passivo circulante LS – Liquidez seca AP – Realizável a longo prazo + investimento + imobilizados + intangível V – Vendas ELP – Passivo não circulante AT – Ativo LG - Liquidez geral LL – Lucro líquido

43
2.4 ÍNDICES A SEREM USADOS PARA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DAS
ICES
As Instituições Comunitárias de Ensino Superior são consideradas entidades
complexas conforme apontado nos estudos de: Meyer Júnior (2005), Andrade (2002), e
Meyer Jr, Pascucci e Mangolin (2012). A gestão dessas entidades não é realizada da mesma
forma como uma entidade mercantil, visto que nelas ocorre uma mistura de público com o
privado, além do fato de terem que prestar contas das suas finanças (LÜCKMANN;
CIMADON, 2015). Nesse sentindo, não é tarefa fácil definir quais os melhores indicadores a
serem usados para a análise de desempenho de uma ICES. Assim, aqui são apontados quais
grupos de indicadores se adotou para, neste estudo, fazer as análises das ICES.
Visando as entidades do terceiro setor, Grazzioli et al. (2015) apresentaram um grupo
de indicadores, elaborados a partir de estudo das normas contábeis deste segmento. O estudo
apontou que esses índices são recomendados, porém, os autores, em sua análise, deixam
aberta a possibilidade de se usar outros indicadores. Desse modo, o uso de outros indicadores
vai depender do foco do analista, ou de quem está interessado nas informações. Ou seja,
conforme o caso, podem ser adotados outros indicadores, no entanto, o mais recomendando é
usar indicadores capazes de oferecer as respostas necessárias a ser obtidas na análise.
Para este estudo, portanto, foram analisados os indicadores sugeridos por Grazzioli et
al. (2015), comparados com os indicadores sugeridos por Matarazzo (2017). No Quadro 3, a
seguir, demonstra-se além da comparação realizada, a possibilidade de uso destes indicadores,
na pesquisa.
Quadro 3 - Sugestão de indicadores para terceiro setor ÍNDICES FINANCEIROS E ECONÔMICOS
EXPRESSÃO TÍTULO POSSIBILIDADE
DE USO
DESCRIÇÃO DO MOTIVO PELO
QUAL NÃO SERÁ USADO.
AC/PC Liquidez corrente SIM Este indicado, é sugerido por Matarazzo (2017).
Disponível/saldo dos projetos
Liquidez específica
NÃO Nos dados coletados, não estão segregadas as informações dos projetos.
Patrimônio líquido / imobilizada X 100
Grau de imobilização do PL
SIM Este indicador está sendo usado Por Matarazzo (2017), sendo assim, é utilizado nesta pesquisa.
ANC / patrimônio líquido
Grau de recursos do PL que está no ativo não circulante
SIM Este indicador é usado por Matarazzo (2017), podendo ser usado para o grupo de indicadores.
PC/PC + PNC + PL x 100
Grau de endividamento a curto prazo
SIM Este indicador é chamado por Matarazzo (2017) de composição do endividamento.

44
PC + PNC/PC+PL x 100
Grau de endividamento geral
SIM Este indicador poderá ser usado, porém não há pesquisa indicando o uso destes indicadores.
Despesa realizada / receita recebida x 100
Relação despesa realizada dos projetos e as receitas recebidas
NÃO Para cálculo deste indicador, necessita-se da receita recebida, porém esta informação não aparece nos demonstrativos contábeis.
Gratuidade / despesa total x 100
Relação gratuidades e despesas totais
NÃO Nos demonstrativos contábeis, não foram encontradas informações referentes à gratuidade.
Gratuidade / receita total x 100
Relação gratuidade e receitas totais
NÃO Nos demonstrativos contábeis não foram encontradas informações referentes à gratuidade.
Despesas por atividades / despesas totais x 100
Participação de cada atividade nas despesas totais
NÃO Nos demonstrativos contábeis, não foram encontradas informações referentes às despesas por atividades.
Receitas por atividade / receita total x 100
Participação de cada atividade nas receitas totais
NÃO Nos demonstrativos contábeis, não foram encontradas informações referentes às receitas por atividades.
Receitas próprias / receita total x 100
Esforço de captação própria.
NÃO Nos demonstrativos contábeis, não serão encontradas informações referentes às receitas por atividades.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
Como Matarazzo (2017) aponta que a análise pode ser feita usando um conjunto de
indicadores, não havendo necessidade de um número muito grande de índices, a presente
pesquisa focou em fazer um levantamento dos indicadores mais apropriados para se analisar
uma entidade sem fins lucrativos, constituída sob a forma de fundação, cuja atividade é uma
universidade.
Assim, além da pesquisa de Graziolli et al. (2015), foram encontrados outros estudos
apontando alguns indicadores que podem ser usados pelas entidades de terceiro setor. Entre
esses estudos, porém, têm-se a pesquisa de Araújo e Araújo (2005), concluindo que a
avaliação do desempenho deve levar em conta a empresa como um todo, ou seja, deve ser
amplo. Sendo assim, os indicadores devem levar em consideração os fatores tanto financeiros
como não financeiros, que contemplem a análise do ambiente em partes, que atenda às
necessidades dos interessados.
Para Cruz et al. (2009), é importante a adaptação dos indicadores a serem usados nas
análises das entidades do terceiro setor, de modo que possibilite visualizar a performance da
entidade, visando a sustentabilidade dela, bem como dos projetos que as mantêm. Outra
pesquisa, de Gonçalves (2019), recomenda o uso dos indicadores para análise da liquidez e do
endividamento.
Sobre os grupos de indicadores, Jahara, Mello e Afonso (2016) pesquisaram sobre a
gestão dos clubes de futebol, e separaram os índices em: de liquidez, de endividamento e de
lucratividade. Duarte e Lamounier (2007) usaram o índice-padrão para fazer uma análise do

45
setor de construção civil, e acabaram usando os indicadores de liquidez e de rentabilidade.
Para Santos (2015), no seu uso, os indicadores devem ser agrupados, a fim de se obter a
melhor performance. Já os indicadores financeiros e econômicos, na percepção de Nuernberg
et al. (2017), sobressaem ante os demais indicadores, porque, com esses indicadores, é
possível avaliar o desempenho econômico e financeiro da entidade.
Embora as pesquisas apontem que as análises são realizadas em grupos de indicadores,
não foi encontrada pesquisa, cujo estudo realizou-se em um número grande de indicadores,
sendo apenas selecionados alguns indicadores, agrupados, tirando, os pesquisadores, as suas
conclusões. Nesse sentido, pode-se apontar algumas pesquisas, como: Fanti et al. (2016),
cujas análises foram estruturadas em: estrutura de capital, rentabilidade, e liquidez; a pesquisa
de Evrard e Cruz (2016), estruturada em liquidez e rentabilidade; Carvalho e Neto (2008),
fazendo a seleção de alguns indicadores, entre eles os de liquidez, de rentabilidade e de
capitais; Bressan et al. (2014), que aplicaram o sistema Pearls, sendo, para a aplicação deste
modelo, agrupados os indicadores. Breitenbach, Alves e Diehl (2010) fizeram o agrupamento
de indicadores para gerar um grupo de análise para o setor de instituição de ensino; e Teles,
Gomes e Lunkes (2013) realizaram pesquisa no setor de hotéis, e, para a realização da
pesquisa, também realizaram agrupamento dos indicadores.
No Quadro 4, seguinte, têm-se uma planilha do resultado obtido nesse levantamento
dos indicadores, exposto até aqui.
Quadro 4 - Relação dos indicadores x pesquisas
SIMBOLO ÍNDICE PESQUISAS QUE USARAM ESTE INDICADOR
ESTRUTURA DE CAPITAL
1. CT/PL Participação de capitais de terceiros (endividamento)
Flach, Castro e Mattos (2017); Fanti et al. (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e Bressan (2015); Santos (2015); Vieira (2014); Souza_et al. (2009); Backes et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Ribeiro, Macedo e Marques (2012); Fischmann e Zilber (2000).
2. PC/CT Composição do endividamento
Rosa e Gartner (2018); Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Silva e Miranda (2016); Souza et al. (2013); Lucente e Bressan (2015); Souza et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013).
3 AP/PL Imobilização do patrimônio
líquido
Fanti et al. (2016); Silva e Miranda (2016); Souza et
al. (2013); Souza et al. (2009); Backes et al. (2009); Teles, Gomes e Lunkes (2013); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Ribeiro, Macedo e Marques (2012).
4. AP/PL + ELP Imobilização dos recursos não
correntes Fanti et al. (2016); Silva e Miranda (2016); Souza et
al. (2013); Souza et al. (2009); Ribeiro, Macedo e

46
Marques (2012).
LIQUIDEZ
5. LG Liquidez geral
Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e Bressan (2015); Vieira (2014); Francisco et
al. (2012); Souza et al. (2009); Backes et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Couto, Fabiano e Ribeiro (2012).
6. LC Liquidez corrente
Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e Bressan (2015); Santos (2015); Vieira (2014); Francisco et al. (2012); Souza et al. (2009); Ferreira e Macedo (2011); Backes et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Couto, Fabiano e Ribeiro (2012); Ribeiro, Macedo e Marques (2012).
7. LS Liquidez seca
Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e Bressan (2015); Vieira (2014); Francisco et
al. (2012); Souza et al. (2009); Backes et al. (2009); Couto, Fabiano e Ribeiro (2012).
RENTABILIDADE (OU RESULTADOS)
8. V/AT Giro do ativo
Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Fanti et al. (2016); Souza et al. (2013); Bressan et al. (2014); Vieira (2014); Souza et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Fischmann e Zilber (2000).
9. LL/V Margem líquida
Fanti et al. (2016); Evrard e Cruz (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Santos (2015); Vieira (2014); Souza et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Silva et al. (2019).
10. LL/AT Rentabilidade do ativo
Silva et al. (2019); Fanti et al. (2016); Souza et al. (2013); Vieira (2014); Souza et al. (2009); Backes et
al. (2009); Silva e Costa (2003); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Ribeiro, Macedo e Marques (2012).
11. LL/PL Rentabilidade do patrimônio
líquido
Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Fanti et al. (2016), Souza et al. (2013); Bomfim, Macedo e Marques (2013).
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
Para a realização da presente pesquisa, tomou-se por base os indicadores sugeridos por
Matarazzo (2017), pois, conforme já demonstrado no Quadro 4, foram usados em diversas
pesquisas. Já quanto aos indicadores, sugeridos por Grazzioli et al. (2015), para alguns
indicadores a fórmula é mesma dos indicadores sugeridos por Matarazzo (2017) e para os
indicadores que apresentam fórmula diferente, conforme o levantamento nos dados coletados,
não há possibilidade de cálculo.

47
Reafirma-se, assim, para a presente pesquisa, a adoção do modelo proposto por
Matarazzo (2017). Nesse modelo, separam-se os indicadores em duas estruturas: 1. quanto à
situação financeira, dividida em estrutura de capitais e liquidez; e 2. quanto à situação
econômica, que estuda a rentabilidade. Matarazzo (2017) ainda afirma que não há necessidade
de muitos indicadores, pois, com estes, já se terá visão ampla do panorama econômico e
financeiro das entidades.
Sendo assim, com essa definição, passou-se a fazer um estudo comparativo dos
indicadores sugeridos com a contabilidade das ICES, ressaltando-se que, em alguns casos, foi
necessária uma adaptação das nomenclaturas dos indicadores, ou mesmo a substituição de
contas, uma vez que os indicadores sugeridos por Matarazzo (2017) foram pensados para
serem usados em empresas.
2.4.1 Estrutura de capital
Para os autores Matarazzo (2017), Assaf Neto (2018), Iudícibus (2017), os indicadores
de capital representam as fontes de recursos das entidades, por representarem os capitais
próprios e os capitais de terceiros. Para Lucente e Bressan (2015), quanto menor os
indicadores de capitais menor o endividamento, já para Souza et al. (2009), pelos índices de
capitais é possível entender a composição dos financiamentos dos ativos.
2.4.1.1 Participação de capitais de terceiros, endividamento
Segundo Matarazzo (2017, p. 87), este indicador representa: “Quanto a empresa tomou
de capitais para cada $100,00 de capital próprio investido.” Matarazzo (2017), na sua fórmula
(1), assim apresenta esse indicador:
��������������������� ô����í���� � × 100 (1)
Para analisar os demonstrativos de uma ICES, neste estudo, esta fórmula (1) sofre
apenas uma mudança na nomenclatura. Como as ICES são entidades sem fins lucrativos, e
estão sujeitas às normas da ITG 2002, nas suas demonstrações contábeis, não aparecem a
expressão “patrimônio líquido”, devendo ser substituída por “patrimônio social”. Desse
modo, com a alteração proposta, a fórmula (1) sugerida por Matarazzo (2017, p.87) fica assim
representada, fórmula 2:

48
� ����������� !�"#$���������������� × 100 (2)
Para Matarazzo (2017), este indicador representa as duas maiores fontes de recursos
da empresa, que são os capitais próprios e os capitais de terceiros, apontando, ainda, a
dependência de capital de terceiros, e pode ser chamado de grau de endividamento. Lucente e
Bressan (2015), do ponto de vista da geração de superávit, a entidade pode usar os capitais de
terceiros, desde que os “lucros” sejam maiores que os custos desses empréstimos. Para Jahara,
Melo e Afonso (2016), se a entidade tomar esses empréstimos, e aplicar em giro, pode ser
uma boa opção, no entanto, o autor faz uma recomendação, que estes empréstimos não sejam
aplicados em operações que envolvam o não circulante.
Iudícibus (2017), ainda, afirma que as empresas que vão a falência apresentam um
indicador elevado, embora nem sempre que uma empresa apresentar este indicador elevado,
pode se afirmar que vai a falência. A presente pesquisa trata de ICES e estas entidades, não
estão sujeitas à falência, neste caso o termo falência é uma relação com a capacidade de
continuar no mercado.
2.4.1.2 Composição do endividamento
O indicador de composição do endividamento representa o endividamento da entidade,
sendo possível, para Jahara, Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Silva e Miranda
(2016), com este indicador, entender o endividamento da entidade. Segundo Matarazzo (2017,
p. 90), este índice aponta: “Qual o percentual de obrigações de curto prazo em relação às
obrigações totais.” Matarazzo (2017, p. 90) apresenta a fórmula (3) com a seguinte expressão:
� �����%�������������������������× 100 (3)
Para a presente pesquisa, no uso dessa fórmula, quanto ao cálculo do indicador da
composição do endividamento, não foram necessárias adaptações, tendo em vista que os
critérios contábeis, estabelecidos na ITG 2002, para as contas contábeis que envolvem este
cálculo, são os mesmos.
Segundo Matarazzo (2017), essa fórmula deve ser usada como um passo após saber
qual é a participação de capital de terceiros. Não basta, portanto, saber qual é o capital de
terceiros, é necessário saber qual a composição dessas obrigações, ou seja, como está dividido
este capital de terceiros, pois esta divisão representa quanto está a curto prazo e quanto está a
longo prazo.

49
Iudícibus (2017, p. 110) denomina essa fórmula de: “quociente de participação das
dívidas de curto prazo sobre o endividamento total”. Os autores Matarazzo (2017) e Iudícibus
(2017) referem-se ao mesmo cálculo, porém com nomenclatura divergente, o que torna
interessante a análise deste indicador por parte dos destes autores. Deve-se evitar realizar a
expansão de uma entidade, com empréstimos de curto prazo; as entidades em expansão,
devem procurar financiamentos de longo prazo.
2.4.1.3 Imobilização do patrimônio líquido, patrimônio social
Se, para Fanti et al. (2016), a imobilização do patrimônio social permite identificar as
participações dos capitais próprios no imobilizado; para Backes et al. (2009), com este
indicador é possível verificar a liquidez do patrimônio social, ou seja, informar o montante de
patrimônio social que está imobilizado. Segundo Matarazzo (2017, p. 91), este indicador
aponta “quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada $100 de patrimônio
líquido.” Assim, apresenta a fórmula (4) para cálculo deste indicador (MATARAZZO, 2017,
p. 91):
�&��%�'ã��������������� ô����í���� � × 100 (4)
Para o uso desta fórmula, na presente pesquisa, foi necessária mudança na
nomenclatura, a fim de adequá-la às normas contábeis para as fundações. Como a presente
pesquisa refere-se estudar as ICES, sujeitas às normas contábeis, estabelecidas pela ITG 2002,
o termo “patrimônio líquido” usado por Matarazzo (2017) deve ser substituído por
“patrimônio social”, pois o termo patrimônio líquido é usado por empresas comerciais.
Apresenta-se, assim, a fórmula (5) para cálculo do indicador de imobilização do patrimônio
social, adaptada do indicador sugerido por (MATARAZZO, 2017, p. 90).
�&��%�'ã��������������� ô��������� � × 100 (5)
Para Matarazzo (2017), este indicador torna-se importante, pois visa esclarecer qual
percentual do patrimônio social da entidade está destinado para investir no circulante,
destacando-se que quanto mais a entidade investe no não circulante, menos sobra para investir
no circulante, e, como consequência, dependerá de capital de terceiros para investir no curto
prazo. Nesse mesmo sentido, Backes et al. (2009) entende que o ideal para uma entidade é
que ela invista no não circulante, porém é necessário que sobrem recursos para investir no
circulante.

50
2.4.1.4 Imobilização dos recursos não correntes
Segundo Matarazzo (2017, p. 94), este índice indica: “Que percentual de recursos não
correntes a empresa aplicou no Ativo Permanente”. Observa-se que esse conceito é uma
transcrição literal do autor, no entanto, ao chamar ativo permanente, o autor parece referir-se
ao “não circulante”, tanto que, na fórmula (6), usa a nomenclatura “não circulante”
(MATARAZZO, 2017, p. 94). Em suas pesquisas, Souza et al. (2009); Backes et al. (2009),
Silva Miranda (2016); Teles, Gomes e Lunkes (2013), usaram o mesmo entendimento.
� &��%�'ã��������������� ô����í����)*�+í%�����+����,��× 100 (6)
Como a presente pesquisa refere-se à aplicação dos indicadores para as entidades,
constituídas sob o formato de fundações, e essas instituições estão sujeitas às normas
contábeis estabelecidas na ITG 2002, a denominação patrimônio líquido foi substituído por
patrimônio social, visto que, neste tipo de entidade, não se pode usar aquela denominação.
Diante do exposto, para gerar o cálculo da imobilização dos recursos não corrente, na
análise das entidades, foi usada a fórmula (7), adaptada da fórmula (6) de Matarazzo (2017).
� &��%�'ã�-������������� ô���������).*�+í%�����+����,��× 100 (7)
Para Matarazzo (2017), nem sempre é possível financiar o não circulante com recursos
próprios, por isso é necessário usar uma parte, como recursos de terceiros. É perfeitamente
possível financiar usando-se recursos do exigível, desde que os prazos sejam compatíveis, ou
seja, que o bem seja capaz de produzir recursos para realizar o pagamento da dívida.
Matarazzo (2017, p. 95) afirma que este índice: “[…] não deve em regra ser superior a
100%”, ou seja, mesmo que o setor tenha necessidade de ter um circulante pequeno, tem que
sobrar valores para o não circulante.
Assaf Neto (2018), em sua análise, faz uso deste indicador para identificar o grau de
imobilização dos recursos permanentes, sendo assim identifica o grau de imobilização dos
recursos permanentes. Nessa visão, consegue-se identificar quanto do patrimônio social e do
exigível está sendo destinado para o não circulante.
2.4.2 Indicadores de liquidez
Para Lucente e Bressan (2015), Silva et al. (2019), Gitman (2010), indicadores de
liquidez são índices capazes de predizer, no curto prazo, situações de solvência ou representar
a dificuldade de sanar as dívidas. Já, para Marion (2012), Matarazzo (2017), Assaf Neto

51
(2018), esses indicadores representam quanto as entidades possuem de recursos para saldar as
dívidas. Estas relações, do ponto de vista de pagamento das dívidas de curto e longo prazo,
são estudadas de forma separada e de forma conjunta.
2.4.2.1 Liquidez geral
Lucente e Bressan (2015); Silva et al. (2019); Luz (2013); Rosa e Gartner (2018)
interpretam a liquidez geral como um indicador que representa o quanto a empresa possui de
recurso para saldar as dívidas de curto e longo prazo. Segundo Matarazzo (2017, p. 99), a
liquidez geral representa: “Quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo
Prazo, para cada $ 1,00 de dívida total”.
Para este indicador sugerido por Matarazzo (2017), não há necessidade de adaptação,
para ser usado em uma entidade do terceiro setor, mais precisamente uma ICES, constituída
sob a forma de fundação. Entre o indicador sugerido e a contabilidade dessas instituições, não
há divergência na estrutura contábil, de nomenclatura das contas contábeis, e quanto aos
critérios contábeis dos lançamentos nas contas. Assim, este indicador é representado pela
fórmula (8).
����%����������)����,á%�����+����,������%����������)*�+í%�����+����,�� (8)
No entendimento de Marion (2012), este indicador representa a capacidade de
pagamento a longo prazo, considerando o que a entidade tem de dinheiro no curto prazo. Para
Matarazzo (2017), quando uma entidade apresenta um indicador maior do que 1, significa que
ela tem uma folga financeira, que ele chama de “reserva ou margem de segurança”, e a
situação financeira tende a ser satisfatória. Caso a entidade apresente uma situação menor do
que 1, não se pode afirmar diretamente que ela está insolvente, tendo em vista que existem as
contas com vencimento de longo prazo e a entidade tem uma folga financeira maior, podendo,
ainda acontecer que, até o efetivo vencimento, a entidade tenha gerado os recursos suficientes
para saldar a dívida.
Entendendo-se que este indicador serve para analisar a saúde financeira de um projeto
de longo prazo, mais importante é detectar se a entidade tem condições de saldar as dívidas de
longo prazo. Registre-se que os prazos são bastante variados, e, se empresa apresentar uma
boa liquidez no curto prazo, mas não analisar a liquidez geral, e ela está com grande volume
de dívidas a longo prazo, obviamente que a análise ficará comprometida. Nesse sentido,

52
Iudícibus (2017) argumento que este indicador serve para verificar a capacidade de
pagamento no longo prazo.
Para Assaf Neto (2018), o índice de liquidez geral revela a capacidade de pagamento a
curto e a longo prazo, julgando ser uma medida de segurança financeira para o longo prazo,
que revelará a capacidade de pagamento para o longo prazo. Este indicador pode variar de
acordo com o endividamento da entidade, ou seja, se ela contrair grandes dívidas ou fazer
grandes investimentos em imobilizados, este indicador, automaticamente, sofrerá redução.
2.4.2.2 Liquidez corrente
O índice de liquidez corrente, segundo Fant et al (2016); Duarte e Lamounier (2007);
Lucente e Bressan (2015), avalia o quanto a entidade tem para sanar as dívidas de curto prazo.
Para Matarazzo (2017, p.102), este indicador deve ser interpretado da seguinte forma:
“Quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada $1,00 do passivo circulante”.
Para este indicador, conforme a fórmula (9), sugerida por Matarazzo (2017), não
houve necessidade de adaptação, podendo ser usada por uma entidade do terceiro setor, na sua
integridade. Entre o indicador sugerido e a contabilidade dessas instituições, não há
divergência de estrutura contábil, de nomenclatura das contas contábeis e quanto aos critérios
contábeis dos lançamentos nas contas.
� &��%�-��������0����%�-��������� (9)
Para Grazzioli et al. (2015), a liquidez corrente representa os disponíveis para liquidar
as obrigações do curto prazo. Segundo Marion (2012), embora os autores tenham dado nomes
um pouco diferentes, liquidez corrente ou liquidez comum, o cálculo é o mesmo, ativo
circulante dividido pelo passivo circulante.
Este indicador mostra que quanto mais alto for o ativo circulante, maior é a capacidade
da empresa de financiar suas necessidades de capital de giro. Assaf Neto (2018) faz, ainda,
um comparativo: se for maior que 1,00 o capital circulante líquido é positivo; se for igual a 1,
o capital circulante é nulo; e, se for menor do que 1, a entidade está apresentando um capital
circulante negativo.
Jahara, Mello e Afonso (2016), ao estudarem os clubes de futebol, instituições
desprovidas de estoque, para os cálculos desconsideraram esse item. Do mesmo modo, nas
ICES, essa análise não é necessária, tendo em vista que nelas também não há ocorrência de
estoque, diferente das entidades comerciais e industriais. Iudícibus (2017), por sua vez,
relaciona esse cálculo com o quanto a instituição dispõe de recursos imediatos para sanar as

53
dívidas de curto prazo, chamando atenção para o estoque, pois ele pode diminuir a validade
do indicador. O autor chama a atenção, ainda, para os prazos, no caso dos recebíveis das
ICES, pois estes, sim, podem influenciar neste indicador e merecem atenção especial.
Matarazzo (2017) também chama a atenção para os mesmos aspectos, quanto ao estoque e
quanto aos recebíveis.
2.4.2.3 Liquidez seca
Segundo Groppelli, Nikbakht e Castro (1998) e Gitman (2010), o índice de liquidez
seca assemelha-se ao de liquidez corrente, no entanto, para o cálculo da liquidez seca
excluem-se os estoques. Sobre este indicador, Luz (2013) complementa, ele representa a
disponibilidade de recursos imediatos que a empresa dispõe para quitar suas obrigações. Para
Matarazzo (2017, p. 107), este índice indica: “Quanto a empresa possui de ativo líquido para
cada $1,00 de passivo circulante (dívidas de curto prazo)”.
Para este indicador sugerido por Matarazzo (2017), nesta pesquisa, entende-se
necessário esclarecer a questão dos títulos a receber. Nas entidades comerciais, esses títulos
representam as vendas, que envolvem a própria venda, e os custos de venda, ou seja, a baixa
no estoque. Para as ICES, os títulos a receber têm relação com os contratos de prestação de
serviços com os alunos. Embora ambos estejam contabilizados no ativo circulante, as ICES,
por não terem estoque, não têm essa baixa, contabilizando apenas os valores a receber. Entre
o indicador sugerido e a contabilidade destas instituições, não há divergência de estrutura
contábil, apenas quanto a nomenclatura das contas contábeis e quanto aos critérios contábeis
dos lançamentos nas contas, ficando a fórmula (10) assim representada.
�&��%������í%�)�í��������1�)���������%���á������%���1����&��%������í%�)�í��������1�)���������%���á������%���1����� (10)
Para Matarazzo (2017, p. 108), “Este indicador é um teste de força, aplicado à
empresa; visa medir o grau de excelência da sua situação financeira”. E continua,
esclarecendo que este não é o principal indicador em uma análise funcionando como um
coadjuvante, e sua interpretação depende muito do analista. Matarazzo (2017) ainda cita três
fontes de recursos com riscos diferentes: o disponível, as duplicatas a receber e os estoques,
em que o disponível apresenta um menor risco, pois só depende de como o recurso vai ser
usado; as empresas dependem do pagamento realizado pelos clientes (as duplicatas); já quanto
aos estoques deve haver uma preocupação maior nas entidades mercantis, pois devem ser

54
vendidos e recebidos, aumentando o prazo de liquidez, lembrando que, para as ICES, pelo que
já foi justificado antes, os estoques não devem ser levados em conta.
Iudícibus (2017, p. 107) apresenta esta fórmula um pouco mais clara: “(ativo
circulante – estoques / passivo circulante)”. E, colaborando com os apontamentos realizados
por Matarazzo (2017), complementa, argumentando que, quando eliminam-se os estoques,
elimina-se uma fonte de incerteza. Marion (2012) apresenta a fórmula de cálculo do índice
exatamente igual a Iudícibus (2017), e, fazendo menção ao estoque, argumenta que este
indicador deve ser analisado em conjunto com outros indicadores.
Assaf Neto (2018, p. 187), por sua vez, assim apresenta a fórmula de cálculo deste
indicador: “(ativo circulante – estoques – despesas antecipadas / passivo circulante)”. Note-se
que a fórmula de Assaf Neto (2018) aproxima-se bastante da fórmula apresentada por
Matarazzo (2017). Assim, comparando-se a expressão de Matarazzo (2017, p. 107) “(ativo
disponível + títulos a receber + outros ativos de rápida conversibilidade)” às três fórmulas
apresentadas por: Iudícibus (2017) e Marion (2012) e Matarazzo (2017), pode se concluir que
os títulos de rápida conversibilidade, são os títulos capazes de gerar recursos; enquanto
Iudícibus (2017) e Marion (2012) apenas excluem os estoques, deixando outros valores que
estão no circulante, como por exemplo as despesas antecipadas.
2.4.3 Rentabilidade ou resultados
Os indicadores de rentabilidade medem a eficiência da entidade. Para Gitman (2010),
porém, além de medir o desempenho, medem o retorno para os seus stakeholders. Nesse
mesmo sentido seguem os estudos de Silva et al. (2019), e Flach, Castro e Mattos (2017),
observando que a rentabilidade é capaz de representar os prontos fortes e francos de uma
organização. O estudo das rentabilidades, segundo Matarazzo (2017) e Iudícibus (2017), são
importantes para que as ICES identifiquem se os ativos e os capitais estão sendo rentáveis ou
não. Reportando-se para as ICES, é muito importante saber se elas estão tendo retornos
suficientes, para que manterem seus projetos e, principalmente, a continuidade de suas
atividades.

55
2.4.3.1 Giro do ativo
Para Silva et al. (2019) e Groppelli. Nikbakht e Castro (1998), giro do ativo é a
capacidade que a entidade tem de gerar lucros, e ativos para gerar as vendas. Segundo
Matarazzo (2017, p. 110), este indicador representa: “Quanto a empresa vendeu para cada $
1,00 de investimento total”, sugerindo, para o cálculo deste indicador a seguinte fórmula (11):
�%��������&��%� � (11)
Como este indicador foi pensado por Matarazzo (2017) para uma entidade comercial,
foram necessários, na presente pesquisa alguns ajustes, visto que as ICES possuem uma
contabilidade diferenciada, normatizada pela ITG 2002, como para entidades do terceiro
setor, prevendo algumas nomenclaturas diferentes.
Assim o que Matarazzo (2017) denominou “vendas líquidas”, para uso pela ICES, foi
substituído por receita líquida, traduzindo-se o que este indicador representa: “Quanto a
empresa vendeu para cada $ 1,00 de investimento total”, para: “Quanto a entidade gerou de
receita para cada $ 1.00 de investimento total”.
Isso posto, partindo-se da fórmula (11) sugerida por Matarazzo (2017, p.110), chega-
se à fórmula alterada (12), conforme adaptação necessária para esta pesquisa.
�������������%� � (12)
Para Matarazzo (2017), este indicador aponta o volume de receitas geradas em função
dos investimentos, considerando, no caso, o total dos ativos. A continuidade da entidade
depende muito das receitas geradas. Por seu turno, Iudícibus (2017) menciona que este
indicador já foi tratado como quociente de rotatividade, o que realça a importância de se
compor o retorno sobre o investimento. Nesse sentido, trata este cálculo usando duas
fórmulas, e insere, para o cálculo, os ativos médios, deixando a fórmula um pouco diferente
da sugerida por Matarazzo (2017). Entre as duas, percebe-se pequena diferença no cálculo,
mantendo a finalidade.
Para Assaf Neto (2018), este indicador aponta o número de vezes que o ativo girou,
ação que, em função das receitas, o autor chama de transformação em dinheiro. Ainda
segundo Assaf Neto (2018), o incremento deste indicador representa o uso mais eficiente dos
ativos, permitindo, com ele, que a entidade avalie e verifique se os ativos estão ociosos, ou, se
estão ou não gerando receitas.

56
2.4.3.2 Margem líquida
Segundo Fanti et al. (2016), Evard e Cruz (2016), Silva e Miranda (2016), este
indicador representa, comparando com a receita líquida, o quanto a empresa obteve de lucro.
Para Silva et al. (2019), a margem líquida aliada às análises da margem de lucro bruto
corresponde a uma análise sobre o desempenho das indústrias de bens, e de construção e
transporte. Nas entidades do terceiro setor, por não estarem sujeitas aos impostos incidentes
sobre o faturamento, margem líquida representa as receitas (GRAZZIOLI et al., 2015). Para
Souza et al. (2013), conforme pesquisa realizada em hospitais, a margem líquida representa a
relação entre o superávit da organização e as vendas líquidas.
Para Matarazzo (2017 p. 112), este indicador representa: “Quanto a empresa obtém de
lucro a cada $100 vendidos”, recomendando que quanto maior for este índice melhor, e, para
o cálculo deste indicador, sugere a fórmula (13):
� 2 ���2í3 �4�5$"4��2í3 �4�� 6100� (13).
Segundo Grazzioli et al. (2015), quanto às entidades constituídas como fundação, em
suas demonstrações contábeis não tem os impostos sobre o faturamento, pois sobre elas não
incide esse tributo. Ainda conforme Grazzioli et al. (2015), essas entidades, por estarem
sujeitas à ITG 2002, o resultado é denominado superávit ou déficit, sendo assim, o termo
lucro líquido, recomendado por Matarazzo (2017), na fórmula 14, deverá ser substituído por
superávit. Do mesmo modo, o termo vendas líquidas deve ser substituído por receitas
líquidas, consistindo nas receitas sem os impostos, uma vez que, como já explicado, sobre
essas entidades não incidem os impostos representando, assim, a receita bruta. Com essas
mudanças sugeridas para atender as normas das entidades do terceiro setor, a fórmula (14)
ficará demonstrada conforme a fórmula (14):
� � �$�á��#7$�$�#��2í3 �4�� 6100� (14).
Para Fant et al. (2016), o indicador de margem líquida é de extrema significância aos
acionistas. Trazendo este mesmo entendimento para as ICES, que, embora não tenham
acionistas, têm diversos interessados na continuidade da entidade, a margem representa que os
valores cobrados estão sendo suficientes para gerar riquezas. A margem líquida foi objeto de
pesquisa em vários estudos, como o de Bressan et al. (2014); Souza et al. (2013), Santos
(2015), e Evrard e Cruz (2016).

57
2.4.3.3 Rentabilidade do ativo
Este indicador, segundo Fanti et al. (2016) representa o quanto a empresa foi rentável,
em relação aos seus ativos. Outras pesquisas, em áreas específicas, valeram-se também deste
indicador como no caso de: Souza et al. (2009), Backes et al. (2009), Silva e Costa (2003),
Bomfim, Macedo e Marques (2013). Segundo Matarazzo (2017, p.113), este índice
demonstra: “quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100 de investimento total”,
apresentando, para realizar este cálculo, a fórmula (15):
�������í�������%� � × 100 (15)
Como essa fórmula foi pensada para atender a necessidade de uma entidade comercial,
e o objeto desta pesquisa são as ICES, entidades sujeitas às normas estabelecidas pela ITG
2002, é necessário ajustar as nomenclaturas. Assim, o “lucro líquido”, sugerido por Matarazzo
(2017, p.113), deve ser alterado por superávit líquido, e o índice que fala de lucro deve ser
substituído por superávit. Absorvendo as alterações sugeridas, a fórmula (15) sugerida por
Matarazzo (2017), fica, assim, apresentada na fórmula (16).
�� �$����#���%� � × 100 (16)
Matarazzo (2017) ainda menciona que este indicador não é capaz de medir a
rentabilidade do capital, contudo, ele tem uma função importante, sendo capaz de medir a
capitalização da entidade, medindo a capacidade que a empresa tem de se capitalizar.
Trazendo este indicador para o universo das ICES, pode se apontar o quanto as ICES geram
de superávit, pelo uso dos seus ativos, ou os investimentos.
2.4.3.4 Rentabilidade do patrimônio social
Esses indicadores representam a rentabilidade dos capitais investidos, ou a
rentabilidade dos capitais próprios, e, segundo Fanti et al. (2016), permitem indicar quanto a
entidade foi rentável quanto aos capitais próprios. Para Souza et al. 2009, este indicador
representa a rentabilidade que o empreendimento está proporcionando. Nesse sentido, têm-se,
ainda, pesquisas que evidenciaram este indicador, como as realizadas por Souza et al. (2013),
Bomfim, Macedo e Marques (2013), Jahara, Mello e Afonso (2016). Segundo Matarazzo
(2017, p. 115), este índice indica: “Quanto a empresa obteve de lucro para cada $ 100 de
capital próprio investido”, e deve ser calculado usando a fórmula (17):

58
� ������í��������� ô����í���� é���× 100 (17)
Criado para atender as necessidades das entidades com fins lucrativos, este indicador
precisa que as nomenclaturas sejam ajustadas para uso das ICES, de acordo com a ITG 2002,
norma que regulamenta a contabilidade das entidades sem fins lucrativos. Assim, cabe a
seguinte mudança: “lucro líquido” deve ser substituído por superávit líquido; e “patrimônio
líquido”, pela nomenclatura patrimônio social.
Desse modo, a fórmula (17) sugerida por Matarazzo (2017) após as devidas alterações
fica estabelecida pela fórmula (18):
� 9����%������� ô���������� × 100 (18)
Segundo Matarazzo (2017), a análise individual do superávit gerado por uma entidade
não é muito esclarecedora, precisando-se fazer uma comparação, com outros valores. Nesse
caso, fazer a comparação do resultado com o capital próprio da entidade, permite identificar
quais rendimentos os capitais próprios propuseram. Continuando, o autor ainda apresenta a
possibilidade de se comparar os rendimentos do patrimônio social com outros investimentos
do mercado. Essa comparação é importante para se saber se os gestores estão ou não no
caminho correto. Por óbvio, as ICES devem investir na sua atividade, mas nada impede que se
faça, também nessas entidades, uma avaliação financeira mais apropriada.
Para Iudícibus (2017), a importância deste indicador está em: “expressar os resultados
globais auferidos pela gerência na gestão dos recursos próprios e de terceiros, em benefícios
dos acionistas”. Essa visão ou esse conceito de Iudícibus (2017) remete às entidades que
visam lucros, contudo no caso da presente pesquisa, essa interpretação, feita à luz das ICES,
vai expressar os resultados obtidos pela gerência sobre os recursos próprios, isto é, fazer com
que os recursos das entidades gerem benefícios, fazendo com que a instituição se mantenha e,
ainda, tenha continuidade, ou seja, sustentável financeiramente.
Conforme os estudos apresentados neste tópico, têm-se um levantamento dos
indicadores a serem usados na análise das entidades, encontrando-se um grupo de indicadores,
focados em apresentar os resultados das ICES. Isso posto, o Quadro 5, na sequência,
apresenta o resumo desses indicadores, ajustados a partir da sugestão de Matarazzo (2017), e
que serão usados para análise dos resultados da pesquisa.

59
Quadro 5 - Indicadores ajustados para análises das ICES
SÍMBOLO ÍNDICE FÓRMULA INDICA INTERPRETAÇÃO
ESTRUTURA DE CAPITAL
1. CT/PL Participação de capitais de terceiros (endividamento)
Capitais de terceiros x 100
Quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada $ 100 de capital próprio.
Quanto menor, melhor. Patrimônio social
2. PC/CT Composição do endividamento Passivo circulante
x 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em
relação às obrigações totais. Quanto menor, melhor
Capitais de terceiros
3 AP/PL Imobilização do patrimônio social Ativo não circulante
x 100 Quantos $ a empresa aplicou no ativo não
circulante para cada $ 100 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor
Patrimônio social
4. AP/PS + ELP Imobilização dos recursos não
correntes
Ativo não circulante x 100
Que percentual dos recursos não correntes (patrimônio líquido e exigível a longo prazo) foi
destinado ao ativo não circulante. Quanto menor, melhor
Patrimônio social + exigível a
longo prazo
LIQUIDEZ
5. LG Liquidez geral
Ativo circulante + realizável a longo prazo
Quanto a empresa possui de ativo circulante +
realizável a longo prazo para cada $ 1 de dívida total.
Quanto maior, melhor.
Passivo circulante + exigível a longo prazo
6. LC Liquidez corrente Ativo circulante
Quanto a empresa possui de ativo circulante para
cada $ 1 de passivo circulante Quanto maior, melhor
Passivo circulante
7. LS Liquidez seca
Disponível + títulos a receber + outros ativos de rápida
conversibilidade Quanto a empresa possui de ativo líquido para
cada $ 1 de passivo circulante Quanto maior, melhor
Passivo circulante
RENTABILIDADE
8. RL/AT Giro do ativo Receitas líquidas
Quanto a empresa vendeu para cada $ 1 de
investimento total Quanto maior, melhor
Ativo
9 – SL/RL Margem líquida Superávit líquido Receita líquida
x 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100
vendidos. Quanto maior, melhor
10. SL/AT Rentabilidade do Ativo Superávit líquido
x 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100
de investimento total Quanto maior, melhor
Ativo
11. SL/PS Rentabilidade do patrimônio
social
Superávit líquido / patrimônio social médio
x 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100
de capital próprio investido, em média, no Quanto maior, melhor

60
Patrimônio social médio exercício.
Fonte: Extraído de Matarazzo (2017, p. 86), adaptado pelo autor.
LEGENDA CT – Capitais de terceiros LG - Liquidez geral PS – Patrimônio social LC - Liquidez corrente PC – Passivo circulante LS – Liquidez seca AP – Realizável a longo prazo + investimento + imobilizados + intangível RL – Receitas líquidas ELP – Passivo não circulante AT – Ativo LG - Liquidez geral SL – Superávit líquido

61
Esses indicadores, ajustados a partir da sugestão de Matarazzo (2017), foram usados
para as análises, realizadas nos demonstrativos das ICES. Os índices foram calculados com
base nos demonstrativos das entidades e, em seguida, ordenados, e calculados os índices-
padrão para o setor, e por fim, foram comparados com os indicadores de cada entidade.
2.5 ÍNDICES-PADRÃO: O USO DA ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Uma forma de se avaliar uma entidade é fazendo uma análise a partir dos índices-
padrão. Contudo, fazer apenas uma análise, sem fazer uso de uma comparação com o setor,
pode comprometer a avaliação final. Assaf Neto (2018) vê os índices-padrão como importante
ferramenta para qualquer análise que se faça em uma entidade. Os índices-padrão permitem
fazer ponderações, visando qualificar o indicador, por exemplo: estabelecer se é favorável, se
é insuficiente, se está bom, ou regular etc.
Segundo, ainda, Assaf Neto (2018), as revistas especializadas, fazem a divulgação de
índices do setor, porém pode-se fazer os cálculos, e chegar no índice-padrão para um setor.
Basicamente, o cálculo do índice-padrão ocorre pelo cálculo da mediana, tendo-se, neste caso,
a divisão dos indicadores exatamente no meio, com uma distribuição antes e após a mediana.
Para Marion (2012), o uso de índice-padrão é importante para se saber se os indicadores são
bons ou rins, ao se comparar com o mercado.
Segundo Silva (2005), cada vez mais as entidades vêm demonstrando interesse em se
posicionarem diante dos concorrentes, por isso mesmo faz-se necessária a comparação com os
participantes do mercado. O uso dos índices é uma prática comum, e, sendo assim, a avaliação
por meio deles necessita dessas comparações (DUARTE; LAMOUNIER, 2007).
Conforme Matarazzo (2017), só é possível afirmar que um índice é bom, ruim,
satisfatório, razoável ou deficiente, se for feita a comparação com índices-padrão, não
existindo, segundo o autor, o bom ou ruim de forma absoluta, pois só se consegue fazer esta
relação quando comparado um índice com outros. Jahara, Melo e Afonso (2016), em sua
pesquisa, classificou os indicadores como bons ou ruins, fazendo uso da estatística, e levando
em consideração o quanto maior melhor ou quanto menor melhor, isto é, calculando o índice-
padrão pode se comparar e, assim, analisar sob este aspecto.
Segundo Jahara, Mello, Afonso (2016), tem sido notória a preocupação por parte dos
clubes brasileiros de futebol, em superar as dificuldades financeiras, apresentando na pesquisa
que fizeram uma proposta de uso de índice-padrão para o setor. Outra pesquisa que trouxe o

62
do índice-padrão foi desenvolvida por Duarte e Lamounier (2007), apresentando um grupo de
índices para o setor da construção civil.
Outro passo importante no processo de análise por índice consiste em comparar os
índices com os de outras entidades, possibilitando comparar o desempenho com outras
entidades (REHBEIN, ENGELMANN e GONÇALVES, 2008). A contabilidade gera
demonstrativos para terceiros, e estes, então, calculam os indicadores e fazem as comparações
com os indicadores calculados por outras empresas. Segundo Matarazzo (2017), até este
ponto, de certa forma, o trabalho será facilitado; o problema surge quando se quer comparar
um grupo de 200 empresas, por exemplo. Nesta altura, só resta pedir auxílio para a estatística.
Quanto ao ramo de atividade, Matarazzo (2017) chama a atenção para um fato
importante, ou seja, quando se vai fazer o cálculo do índice-padrão para um setor ou para um
grupo de entidades, deve-se conhecer bem o grupo, onde acontece o estudo, pois, no mesmo
setor, podem haver divisões quando ao tamanho, quanto à atividade que cada entidade
executa. A pesquisa de Silva et al. (2019), identificou variações entre os setores de atuação,
do mesmo modo que nas pesquisas de Macedo e Corrar (2010), e Gitman (2010), mostrando
que os indicadores são válidos quando comparados ao longo do tempo e com empresas do
mesmo setor.
Estudar os índices-padrão não é meramente fazer comparações, é muito mais do que
isso. Conforme Matarazzo (2017), o estudo por meio de índices-padrão possibilita uma visão
macroeconômica. Rosa e Gartner (2018) entendem que os gestores devem ter uma visão
macro do mercado, sendo que os índices-padrão substituem os reais índices da empresa e,
dessa forma, estudam-se todas as entidades do setor. No estudo que empreenderam, Evrard e
Cruz (2016) concluíram que as variáveis macroeconômicas influenciam nos indicadores.
Além disso, pode-se fazer, ainda, um estudo por meio de uma série histórica, fazendo um
estudo da evolução desses indicadores, podendo se comparar com o setor (FANTI et al,
2016).
Para Matarazzo (2017), uma forma de avaliar os indicadores das entidades é compará-
los com o decil, o qual pode ser assim encontrado. Por exemplo, se uma entidade apresentou
um índice de liquidez com valor no 8º decil, significa que esta entidade está com o indicador
acima de 80% das entidades do setor. Sendo assim, é importante levar em consideração, a
interpretação do indicador que o autor vem citando ao longo das análises, pois, em alguns
indicadores, a interpretação dever ser quanto maior melhor e, em outros quanto menor
melhor.

63
Lucente e Bressan (2015) apresentam outra forma de analisar, comparando os
indicadores, mediante a qualificação de cada um deles, desse modo não se limitando a
verificar em que posição do decil o indicador se encontra. Para atender essa outra forma de
análise, Matarazzo (2017) desenvolveu duas matrizes: uma que contempla os indicadores,
cuja interpretação entende o quanto maior melhor; e outra para os indicadores em que a
interpretação entende o quanto menor melhor.
Sendo assim, como forma de qualificar os indicadores calculados, fez-se um estudo
usando esse modelo estabelecido por Matarazzo (2017), lembrando-se que para o presente
trabalho foram usados os indicadores adaptados para atender as ICES. Após calculados os
índices-padrão, os resultados foram transportados para uma planilha, a fim qualificar estes
indicadores, apresentados a seguir, no Quadro 6.
Quadro 6 - Conceitos atribuídos aos índices, segundo sua posição relativa
Fonte: Matarazzo (2017, p. 134)
A aplicação desse modelo de avaliação e a comparação estabelecida por Matarazzo
(2017) permitem, uma vez calculados os índices-padrão, fazer um estudo comparando cada
ICES. Matarazzo (2017) observa que o índice-padrão refere-se ao padrão gerado por esse
grupo de empresas, embora, não queira dizer, ainda, que é o ideal para o setor. Contudo,
analisando-se os indicadores das entidades, pode-se chegar a um padrão para o setor das ICES
comunitárias, vinculadas ao sistema ACAFE.

64
3 METODOLOGIA
Neste capítulo, abordam-se os procedimentos metodológicos, mostrando como esta
pesquisa foi conduzida, quais procedimentos foram adotados, além de descrever: a forma de
abordagem; o objetivo; a estratégia; o tempo e a coleta de dados. Assim, apresenta os
seguintes tópicos: Estratégia da pesquisa, objeto do estudo, coleta de dados, análise e
interpretação dos dados.
3.1 ESTRATÉGIA DA PESQUISA
A realização da pesquisa parte da análise dos demonstrativos contábeis da ICES
filiadas ao sistema ACAFE. Segundo orienta Creswell (2007), quanto à abordagem, esta
pesquisa classifica-se como qualitativa e quantitativa. A pesquisa mista compreende em
levantar os dados e analisar os dados, esta análise, foi realizada, mediante a aplicação dos
índices-padrão.
Para Hair Jr et al. (2005), a pesquisa quantitativa é uma pesquisa cujos dados são
representados por números, os quais representam a propriedade de algo. Nesta pesquisa, esses
números são representados pelo patrimônio de cada ICES. O mesmo autor cita que os
números de uma pesquisa são registrados por análises estatísticas, indo ao encontro dos
índices-padrão, aplicados neste estudo.
Segundo Creswell (2007), abordagem quantitativa faz uso, primeiro, da teoria, para
depois desenvolver o raciocínio de causa e efeito; fazendo uso da mensuração e tendo como
estratégia de investigação fazer levantamentos coletas de dados para, por fim, gerarem dados
estatísticos. Além disso, os estudos que usam como estratégia o levantamento inclui em sua
busca uma seção longitudinal, com objetivo de fazer as inferências a partir de uma amostra,
comparando, durante um tempo, a evolução das informações.
A pesquisa qualitativa, segundo Yin (2016), consiste em fazer a compilação dos
dados, decompor os dados, fazer a codificação do dados, e ainda fazer a interpretação dos
dados. A interpretação dos dados consiste em descrevê-los, a presente pesquisa apresentou a
descrição dos dados, qualificou este dados notas, e ainda realizou uma análise qualitativa dos
dados, mediante a aplicação de conceito, para cada nota.
Quanto ao objetivo da pesquisa, esta caracteriza-se como uma pesquisa descritiva.
Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como característica a descrição de uma
população, sendo seu ponto fundamental a coleta de dados. As pesquisas tipo descritivas

65
salienta-se por estudar as características de um grupo; outras, contudo, vão além deste
aspecto, chegando a analisar relações entre as variáveis.
Nesse mesmo sentido, Vergara (2000) orienta que a pesquisa descritiva expõe as
características de determinada população, estabelece correlações entre variáveis e define sua
natureza. A pesquisa descritiva não gera compromisso de explicar os fenômenos, mas, sim,
descrevê-los. Para Castro (1976), a pesquisa descritiva apenas captura e mostra o cenário,
expressando, em números, a relação entre as variáveis.
Para Cooper e Schindler (2011), os estudos descritivos tendem a descrever os
fenômenos ou as características de uma população-alvo, podendo, assim, ser simples ou
complexa; o pesquisador precisa saber o que quer com a pesquisa. Segundo Aaker, Kumar e
Day (2004), a pesquisa descritiva, normalmente, usa dados dos levantamentos e caracteriza-se
pela descrição de uma população.
Quanto à estratégia, a presente pesquisa é considerada um estudo de caso múltiplo.
Segundo Yin (2016), o estudo de caso pode ser único ou de várias unidades, caracterizando-se
este como estudo de caso múltiplo, em que as unidades podem ser pessoas, organizações,
instituições, bairros, processos. O estudo de caso múltiplo, por ter provas mais convincentes, é
visto como uma estratégia de pesquisa muito mais robusta, fazendo com que o pesquisador
necessite de mais recursos, e aumentando as exigências.
Para Yin (2016), o estudo multicaso requer que o pesquisador, na fase inicial, encontre
as definições na teoria, bem como estabeleça a caracterização do problema. Definidos os
indicadores, iniciam-se as análises. Os indicadores são de grande importância para a análise e
têm como objetivo tirar as conclusões necessárias sobre os dados coletados. Assim sendo, o
processo de coleta de dados objetiva atender tais indicadores. Ainda para Yin (2016), o estudo
multicaso não permite generalização dos resultados, mas sim a previsão de resultados
similares ou resultados contrários.
Conforme Triviños (1987), nos estudos de multicaso, não há necessidade de se
perseguir objetivos de natureza comparativa, dando liberdade para o pesquisador trabalhar
com dois ou mais sujeitos, podendo retratá-los de forma completa e profunda. Segundo Boyd
e Westfall (1987), o estudo multicaso tem se mostrado conveniente, apresentando os fatores
comuns e não incomuns a todos os casos do grupo.
A presente pesquisa caracteriza-se, ainda, com uma pesquisa longitudinal. Os estudos
longitudinais, segundo Hair Jr et al. (2005), se caracterizam por estudar os eventos ao longo
do tempo, exigindo, assim, que os dados sejam coletados em várias amostras em período mais

66
longo do tempo, representando uma série temporal de observações. Além disso, os estudos
longitudinais possibilitam mapear os elementos, a fim de melhor se observar as tendências.
Ainda quanto aos estudos longitudinais, Cooper e Schindler (2011) argumentam que
se caracterizam, porque são repetidos por um período maior, trazendo como vantagem o fato
de permitir ao pesquisador acompanhar as mudanças ocorridas ao longo do tempo.
Pelo exposto, pode-se concluir que, quanto ao tempo, esta pesquisa se caracteriza
como longitudinal, tendo em vista que analisou os períodos de 2010 a 2017. Caracteriza-se,
também, como pesquisa quantitativa, porque quantificou os balanços e, por meio do índice-
padrão, permitiu comparar os dados das entidades com setor estudado.
Quanto à coleta de dados, esta pesquisa caracteriza-se como documental, que, segundo
Gil (2002), muito se assemelha à pesquisa bibliográfica. A diferença está entre a natureza das
fontes: enquanto a bibliográfica utiliza fundamentalmente contribuições de diversos autores; a
documental vale-se de materiais que já foram tratados, que podem ser reestruturados de
acordo com os objetivos da nova pesquisa.
Para Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental consiste na coleta de dados
primários, como em documentos escritos, pertencentes a arquivos públicos; arquivos
particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas. No entendimento de Gil (2002),
esse tipo de pesquisa é importante quando os dados estão dispersos pelo espaço, exigindo do
pesquisador mais atenção para as fontes que utilizará evitando se equivocar, e, assim, evita,
também, a possibilidade de erros.
3.2 OBJETO DO ESTUDO
O objetivo desta pesquisa centrou-se em avaliar o desempenho econômico-financeiro
das universidades comunitárias de Santa Catarina, por meio de índices-padrão, no período de
2010 a 2017.
Para Creswell (2007), a pesquisa quantitativa exige uma carga substancial da literatura
no início do estudo, visando justificá-lo, dar uma direção sobre o que vai ser pesquisado, para
descrever os detalhes da pesquisa, resumindo, a literatura é apresentada no começo da
pesquisa, para apresentar o problema da pesquisa. Segundo o mesmo autor, ao se realizar uma
revisão na literatura, está se compartilhando os resultados encontrados em outros estudos,
além de que, como os estudos encontrados têm uma proximidade muito aderente com o tema,
por meio do levantamento da literatura acaba-se preenchendo as lacunas. Outro ponto

67
importante no levantamento da literatura é que permite a comparação com outros estudos já
realizados e, consequentemente, a comparação entre as pesquisas já consolidadas.
Neste estudo, a pesquisa bibliométrica foi realizada em dois momentos: no primeiro
momento, usou-se o ProKnow-C, que consiste em uma metodologia construtivista, conforme
afirmam Ensslin, Ensslin e Pinto (2013). Nesse levantamento, constatou-se a inexistência de
estudos com este mesmo objetivo, constituindo um dos motivos que justificaram a presente
pesquisa. No segundo momento, realizou-se um levantamento na literatura nacional, a fim de
identificar as pesquisas mais relevantes, e que foram usadas para a construção do referencial
teórico. Para Cooper e Schindler (2011), a estratégia da busca da literatura, através da
exploração, deve ocorrer no início da pesquisa.
No campo teórico da pesquisa, antes de se fazer a análise dos dados, foi realizado
estudo aprofundado, de acordo com os seguintes tópicos, apresentados no referencial teórico:
a universidade como organização complexa e sua gestão, o surgimento das prestações de
contas, a contabilidade voltada para fundações, os índices a serem usados para análise dos
demonstrativos das ICES, índices-padrão - o uso da estatística para análise das demonstrações
contábeis
Quanto à definição da amostra, buscou-se as universidades comunitárias, vinculadas
ao sistema ACAFE, escolhendo-se, entre estas, as universidades constituídas sob a forma de
fundação privada. Esse recorte fez-se necessário para tornar possível a análise dos dados, já
que as universidades constituídas como fundações públicas possuem uma característica
contábil diferente das instituições constituídas sob a forma jurídica de fundação privada. De
acordo Ferreira e Marchesini (2011), as entidades públicas estão sujeitas às normas da
contabilidade pública, estabelecida pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as entidades
sem fins lucrativos estão regulamentadas pela Norma Brasileira de Contabilidade – NBC ITG
2002 (R1), aprovada pela Resolução nº 1.409/2012, de 21 de setembro de 2012, estabelecendo
os procedimentos específicos para as entidades consideradas do terceiro setor. A partir dessa
norma, regulamentando os procedimentos contábeis, como as variações patrimoniais, os
reconhecimentos de receitas e despesas entre outros, a contabilidade das entidades
constituídas sob a forma de fundação privada, foram harmonizadas CFC ITG 2002(R1).
Com base nessa harmonização das normas contábeis é que foram escolhidas as ICES,
constituídas sob a forma de Fundação Privada, pois entende-se que estas entidades estão
sujeitas à aplicação da mesma norma contábil. Como elas têm a contabilidade harmonizada, a
consolidação dos balanços, bem como a estruturação para se calcular os índices ficará

68
comparável, uma vez que todas as entidades reconhecem os itens patrimoniais e de resultado
sob o mesmo entendimento.
Assim, a amostra foi definida entre as fundações privadas, organizadas de acordo com
a padronização conceitual estabelecida pelas normas contábeis do setor. Das 16 universidades
vinculadas ao sistema ACAFE, que é formado por essa população, foram retiradas 03, por se
constituírem na forma de fundação pública, restando a amostra de 13 universidades
constituídas sob a forma de fundação privada.
Para se chegar a essa amostra de 13 universidades, adotou-se o seguinte procedimento:
no site no sistema ACAFE, foram identificadas as 16 instituições vinculadas. Então, mediante
o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada fundação, localizado no
site do Ministério da Educação e Cultura (MEC):
<http://emec.mec.gov.br/emec/nova#simples>, em 25/11/2017, realizou-se, nesse mesmo dia,
uma pesquisa no site da Receita Federal:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp>
, usando a consulta pública do CNPJ. Com isso, foram identificadas as universidades
constituídas sob forma de Fundação Pública ou Fundação Privada, concluindo pela amostra
de 13 ICES, que tiveram seus demonstrativos contábeis analisados nesta pesquisa.
No Quadro 7, a seguir, consta a relação discriminada das ICES que formam a amostra.
Quadro 7- Relação das ICES componentes da amostra
Nº NOME SIGLA NATUREZA JURÍDICA
ANO
1 Centro Universitário de Brusque UNIFEBE Fundação Privada 2017
2 Centro Universitário Barriga Verde UNIBAVE Fundação Privada 2017
3 Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
UNIDAVI Fundação Privada 2017
4 Católica de Santa Catarina CATÓLICA SC Fundação Privada 2017
5 Universidade do Planalto Catarinense UNIPLAC Fundação Privada 2017
6 Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC Fundação Privada 2017
7 Universidade da Região de Joinville UNIVILLE Fundação Privada 2017
8 Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI Fundação Privada 2017
9 Universidade do Contestado UNC Fundação Privada 2017
10 Universidade do Oeste Catarinense UNOESC Fundação Privada 2017
11 Universidade Comunitária da Região de Chapecó UNOCHAPECÓ Fundação Privada 2017
12 Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP Fundação Privada 2017
13 Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL Fundação Privada 2017
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

69
A título de informação, entende-se interessante mencionar as três instituições que,
embora vinculadas ao sistema ACAFE, foram excluídas da amostra. Estas entidades: FURB -
Universidade Regional de Blumenau; UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina; e
USJ - Centro Universitário Municipal de São José, não fizeram parte do estudo pelo fato de
possuírem conceitos contábeis diferentes, interferindo na comparação com as demais
instituições.
3.3 COLETA DE DADOS
Para a realização desta pesquisa, os dados foram coletados dos balanços das
Universidades, período de 2010 a 2017. Para tanto, foram verificados e baixados, dos sites das
universidades, os demonstrativos publicados. Em seguida, esses demonstrativos foram
planilhados, visando unificar os balanços.
No Quadro 8 estão relacionadas as ICES e os sites onde buscaram-se os respectivos
demonstrativos.
Quadro 8 - Sites das ICES componentes da amostra
ORDEM NOME SITE
1 UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque site: www.unifebe.edu.br
2 UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde site: www.unibave.net
3 UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
site: www.unidavi.edu.br
4 CATÓLICA SC - Católica de Santa Catarina site: www.catolicasc.org.br
5 UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinenses site: www.uniplac.net
6 UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense site: www.unesc.net
7 UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville site: www.univille.br
8 UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí site: www.univali.br
9 UNC - Universidade do Contestado site: www.unc.br
10 UNOESC - Universidade do Oeste de Santa Catarina site: www.unoesc.edu.br
11 UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária da Região de Chapecó
site: www.unochapeco.edu.br
12 UNIARP - Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe site: www.uniarp.edu.br
13 UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina site: www.unisul.br
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
Os dados primários, conforme Hair Jr. et al. (2005), são coletados com o propósito de
atender a pesquisa, e serão transformados pelo pesquisador em conhecimento, estruturando-os
de modo a usá-los da melhor forma possível. Foi a partir desse entendimento que, nesta
pesquisa, foram coletados os dados primários, observando o seguinte roteiro:

70
a) Primeiro Passo: Verificar os demonstrativos contábeis, publicados no site de cada
instituição.
b) Segundo Passo: Se a entidade que não publicou todos os demonstrativos no site,
contatar diretamente a instituição, e solicitar, junto ao setor contábil, os
demonstrativos.
c) Terceiro Passo: Caso a entidade, mesmo após o contato junto ao setor contábil, não
enviou os demonstrativos, recorrer ao Ministério Público, solicitado os
demonstrativos.
d) Quarto Passo: Por último, se o Ministério Público, não enviar os demonstrativos,
recorrer ao Diário Oficial, do estado de Santa Catarina. Este passo, porém, não
precisou ser executado.
3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Na execução da análise dos dados adotou-se o método de aplicação dos índices-
padrão, demonstrado por Matarazzo (2017). análise por índices é uma forma de avaliação que
só adquire consistência quando comparados com índices padrão do setor; caso contrário, a
opinião fica sujeita ao humor do analista. O modelo adotado por Matarazzo (2017) é um
modelo estatístico para cálculo dos índices-padrão do setor, que permite a comparação entre
os indicadores apresentados pela empresa, comparados com o indicador-padrão para o setor.
Assim, após a coleta dos demonstrativos contábeis das ICES, eles foram digitados em
planilha do Microsoft Excel, procedimento necessário para se fazer uma reestruturação dos
balanços, a fim de padronizar os demonstrativos, facilitando as análises.
No referencial teórico, foi escolhido um grupo de indicadores, identificados como
indicadores que representam a melhor análise para uma fundação privada. Foram, então,
calculados os indicadores das 13 entidades selecionadas, referente ao período de 2010 a 2017,
conforme a delimitação da pesquisa.
Para a análise dos dados, segundo a metodologia de índice-padrão estabelecida por
Matarazzo (2017), após calculados, os indicadores foram classificados por ano, e agrupados
para se calcular o índice-padrão do setor. A aplicação desta metodologia consiste no uso da
estatística para fazer os cálculos, separando-se os indicadores em decis, do mais baixo para o
mais alto (ordem crescente); os índices-padrão serão dados pelos decis.
Matarazzo (2017) aponta algumas medidas que a estatística oferece: a média, a moda,
e a mediana. Para ele, a média deve ser usada para algo que é característico do universo; a

71
moda mostra o elemento que mais se repete na amostra; já a mediana apresenta o indicador
que está no meio, ao se colocar os elementos em ordem, seria o valor que teriam 50% acima e
50% abaixo do valor da mediana. O papel da mediana é comparar um elemento do universo
com os demais elementos.
Por outro lado, Matarazzo (2017) afirma que a mediana, quando usada isoladamente, é
insuficiente para se fazer a análise. Sendo assim, devem-se usar outras medidas estatísticas
para se fazer a comparação, como, por exemplo: quartis, decis ou percentis. Recomenda-se,
nesse caso, que se usem os decis, pois assim não se tem uma única medida, mas uma divisão
em 10 fatias, deixando os dados dispostos de forma proporcional, e fazendo-se a distribuição
estatística dos elementos (MATARAZZO, 2017). Os dados ficam distribuídos em fatias de
10%, conforme ilustrado na Figura 4, apresentada a seguir. Vale ressaltar aqui que essa
mesma metodologia de cálculo comparativo foi usada por Jahara, Melo e Afonso (2016), e
Duarte e Lamounier (2007).
Figura 4 - Posição dos decis na distribuição normal
Fonte: Matarazzo (2017, p. 124)
Matarazzo (2017, p. 128) estabelece e orienta que um procedimento para a criação dos
índices-padrão seja seguido, nos seguintes termos:
1º definir os ramos de atividade próprios para o fim a que se destinam; 2º criar subdivisões dentro desses ramos, de maneira que uma empresa possa ser comparada a outras de atividade mais ou menos semelhante à sua; 3º separar grandes, pequenas e médias empresas; e 4º para cada subconjunto assim obtido, calcular os decis.
Para a presente pesquisa, não houve necessidade de aplicação do item “1º”, uma vez
que, na delimitação da pesquisa, já se definiu que seriam calculados os índices-padrão para o
setor, das universidades comunitárias de Santa Catarina.

72
Definidos os índices-padrão para cada ano, foi calculada uma nota para cada
indicador, e, por meio dessa nota, esses indicadores foram classificados como: ótimo, bom,
satisfatório, razoável, fraco, deficiente e péssimo. Para os índices de capitais, a classificação
começa como ótimo, pois o indicador, segundo Matarazzo (2017), quanto menor melhor. Já
para os índices de liquidez e rentabilidade, que, segundo Matarazzo (2017), quanto menor
melhor, iniciam-se, portanto, como péssimo. A seguir, no Quadro 9, apresenta-se como foi
montada essa escala.
Quadro 9 - Conceitos atribuídos aos índices, segundo a sua posição relativa
Fonte: Matarazzo (2017) p. 141
Após identificar uma nota para cada indicador, dentro da sua posição relativa, foram
usados pesos para cada indicador, visando calcular a média ponderada, mediante a
multiplicação do peso pela nota de cada indicador, que, somada ao produto de cada indicador,
permite chegar-se a uma média ponderada para cada grupo. Para cálculo da média ponderada
de cada indicador, foram usados os seguintes pesos, (MATARAZZO, 2017, p.145):
a) Indicadores de Capitais: CT/PL 0,06, PC/CT 0,01, AP/PL 0,02, AP/PL+ELP 0,10. b) Indicadores de Liquidez: LG 0,30, LC, 0,05, LS 0,2. c) Indicadores de Rentabilidade: V/AT 0,2, LL/V 0,1, LL/AT 0,10 E LL/PL 0,6.
O cálculo das médias, usando os pesos, foi realizado para cada ano e, dentro de cada
ano, foi realizado um cálculo para cada universidade, chegando-se no cálculo de cada ICES,
os respectivos notas e pesos, para isso foi usada uma tabela, de acordo com o modelo sugerido
por Matarazzo (2017), apresentado a seguir, no Quadro 10.

73
Quadro 10 - Modelo de avaliação de índices financeiros
Fonte: Matarazzo (2017, p. 444)
Após calcular as médias ponderadas de cada indicador, o resultado da soma de cada
grupo, foi, novamente, transportada para outra planilha, onde foram calculados os pesos para
cada grupo de indicador. Para calcular os pesos de cada grupo, foram usados os pesos
definidos por Matarazzo (2017): capitais peso; 0,4, liquidez peso 0,20; e rentabilidade peso
0,4, e, para cálculo destes indicadores, foi usada uma planilha, conforme demonstrado no
Quadro 11.
Quadro 11 - Avaliação das categorias de índices financeiros
PESO
ICE - 1 ICE 2
NOTA PESO X NOTA
NOTA PESO X NOTA
ESTRUTURA DE CAPITAIS 0,40
LIQUIDEZ 0,20
RENTABILIDADE 0,40
NOTA GLOBAL 0,00 0,00
Fonte: Matarazzo (2017), p. 145
Após efetuados os cálculos, os dados foram validados, mediante revisão. A análise
iniciou-se pelos índices-padrão, a fim de avaliar como as ICES estavam em relação aos
índices-padrão, começando-se uma análise sobre o aspecto do setor econômico, região,

74
passando-se pelas categorias, de acordo com as notas apresentadas, os grupos de indicadores,
e os próprios indicadores. Para a análise dos índices-padrão, foram consideradas as médias de
índice-padrão para cada região, comparando as ICES. Foi verificado se os indicadores estão
dentro do padrão ou se existe alguma dispersão para ser considerada. Para a análise das notas,
usou-se o mesmo critério de nota estabelecido no Quadro 9, anteriormente apresentado,
comparando-se com a posição relativa de cada categoria, grupo e indicador.

75
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo apresentam-se os dados, os resultados apurados, acompanhados das
discussões em torno do assunto. Avaliam-se os indicadores extraídos dos balanços das
entidades e realizam-se os comparativos com os índices-padrão. A partir dos índices-padrão,
os indicadores foram convertidos em notas, acrescidos de pesos, e comparados com o setor, os
grupos de indicadores e os indicadores das ICES-SC.
4.1 ANÁLISE DOS INDICADORES POR MEIO DO ÍNDICE-PADRÃO
As análises iniciaram-se pelos índices-padrão criados para o setor, sendo possível
avaliar o comportamento de cada um. Assim, foi possível verificar o comportamento de cada
um dos índices, para cada ano, comparando-se com os índices-padrão do período de 2010 a
2017. Desse modo, com esta análise foi possível verificar como o setor se comportou.
Ainda neste tópico, expõem-se o estudo das variações de um ano para o outro,
avaliando-se as suas tendências, bem como demonstrando se existe alguma discrepância que
deva ser levada em conta no momento da análise.
Após o estudo dos índices-padrão de forma individual por ICES, os respectivos
indicadores foram agrupados em macro regiões para avaliação, sendo possível dimensionar
como está aquele conjunto de ICES, na sua respectiva região, de forma consolidada.
O Quadro 12, a seguir, mostra o resultado obtido dos índices-padrão para o setor, e
estes indicadores ordenados desde 2010 até o ano de 2017.

76
Quadro 12 - Índice-padrão para o setor
Fonte: Dados da pesquisa
PADRÃO - 2010
PADRÃO - 2011
PADRÃO - 2012
PADRÃO - 2013
PADRÃO - 2014
PADRÃO - 2015
PADRÃO - 2016
PADRÃO - 2017
MÉDIA
01. CT/PS Participação de Capitais de Terceiros (Endividamento)52,55 54,10 55,37 52,72 43,96 35,53 34,70 38,25 45,90
02. PC/CT Composição do endividamento61,81 67,56 52,52 34,50 35,58 49,82 65,47 56,46 52,97
03. AI/PS Imobilização do Patrimônio Social129,67 128,65 110,89 112,71 118,03 96,98 98,43 102,52 112,24
04. AI/PS + ELP Imobilização dos recursos não correntes 94,33 97,16 92,83 88,32 82,33 85,49 79,42 81,07 87,62
05. LG Liquidez Geral0,60 0,65 0,64 0,67 0,72 3,69 0,76 0,78 1,06
06. LC Liquidez Corrente0,89 0,86 1,09 0,91 1,01 1,13 1,84 1,78 1,19
07. LS Liquidez Seca 0,87 0,80 0,97 0,80 0,79 1,11 1,66 1,33 1,04
08. RL/AT Giro do Ativo0,72 0,72 0,55 0,53 0,02 0,67 0,72 0,72 0,58
09 . SL/RL Margem Líquida0,30 1,34 -0,09 6,62 3,04 3,96 4,88 3,00 2,88
10. SL/AT Rentabilidade do Ativo0,15 0,82 -0,08 2,95 2,33 2,89 3,13 2,06 1,78
11. SL/PS Rentabilidade do Patrimônio Social 0,19 1,42 -0,09 4,68 5,64 6,06 3,70 3,07 3,08
CA
PIT
AL
LIQ
UID
EZ
RE
NT
AB
ILID
AD
E
ÍNDICE

77
A análise dos indicadores foi realizada seguindo a ordem apresentada no Quadro 12,
observando-se os índices de capital, liquidez e rentabilidade.
4.1.1 Análise dos índices de capital por meio do índice-padrão
A participação do capital de terceiros indica a composição do endividamento,
conforme afimam Rosa e Gartner (2018); Flach, Castro e Mattos (2017; Jahara, Mello e
Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Silva e Miranda (2016); Souza et al. (2013); Lucente e
Bressan (2015); Souza et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013). Os índices de
endividamento mostram participação do capital de terceiros nas entidades, tendo a presente
pesquisa apurado uma média 45,90%, isso significa que 45,90% das dívidas são com capitais
de terceiros. Para cada R$ 100,00 em capital próprio, a entidade possui R$ 45,90 de capital de
terceiros, este indicador, ao longo do período estudado, vem diminuindo, como pode ser visto
no Gráfico 1, seguinte, que ilustra a evolução das estruturas de capitais.
Gráfico 1- Participação de capitais de terceiros avaliação da tendência
Fonte: Dados da pesquisa
Observando-se o gráfico, nota-se que os índices estão próximos, que não existe
variação considerável de um ano para o outro. É possível indentificar, ainda, tendência de
queda, oscilando entre o ano de 2012, que apresentou o maior índice, e o ano de 2016, com o
menor indicador, voltando a subir em 2017.
A composição dos endividamento, que representa as obrigações de curto prazo em
relação às obrigações totais, indica quanto as entidades devem de curto prazo, correpondendo
ao apresentado nos estudados de Rosa e Gartner (2018); Flach, Castro e Mattos (2017; Jahara,
Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Silva e Miranda (2016); Souza et al. (2013);

78
Lucente e Bressan (2015); Souza et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013). Este
índice-padrão mostra que, em média, as entidades estão com 52,97% de dívidas de curto
prazo. Este indicador tem uma relação com a liquidez corrente, pois a entidade necessitará de
recurso de curto e longo prazo para saldar as suas dívidas.
Se o percentual de endividamento está em 52,97% para as dívidas de curto prazo, o
restante das dívidas está no longo prazo; neste caso, as entidades estão com 47,03% de dívidas
no longo prazo. Este indicador também vem mostrando uma queda, conforme apontado no
Gráfico 2, a seguir.
Gráfico 2 - Composição do endividamento
Fonte: Dados da pesquisa
Nota-se, no Gráfico 2, que os indicadores apresentam uma leve queda; que, embora
nos últimos três anos houve acréscimo, a linha de tendência continua em queda; a composição
do endividamento vem reduzindo, mesmo que, nos anos de 2014, 2015 e 2016, tenha
apresentado acréscimo.
A imobilização do patrimônio social representa o quanto a entidade está destinando do
capital próprio para o imobilizado. Este indicador aponta quanto de recursos estão
concentrados no imobilizado, observando que quando mais investir os recursos no
imobilizado, menos recursos sobrará para investir no circulante, conforme apontam Fanti et
al. (2016); Silva, Miranda (2016); Souza et al. (2013); Souza et al. (2009); Backes et al.
(2009); Teles, Gomes e Lunkes (2013); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Ribeiro, Macedo
e Marques (2012).
Nesta pesquisa, a média dos recursos destinados ao imobilizado, para o período
estudado, ficou em 112,24, notando-se que, na maioria dos anos, essas entidades destinaram

79
recursos além do capital próprio para o imobilizado. A pesquisa apontou que essas entidades
investiram grande parte dos recursos em imobilizado (bens tangíveis), tais como: em prédios,
laboratórios, e estruturas físicas para atender aos alunos. Este indicador relaciona-se com o
índice de liquidez, tendo em vista que, uma vez destinados os recursos para o imobilizado,
poderá faltar recursos para saldar as contas de curto prazo, levando a entidade a captar
recursos no mercado. O Gráfico 3 demonstra a evolução deste índice-padrão.
Gráfico 3 - Imobilização do patrimônio social
Fonte: Dados da pesquisa
Analisando-se o Gráfico 3, constata-se uma leve tendência de queda, porém estes
índices, conforme a literatura, ainda continuam elevados, ou devem ser analisados com uma
certa preocupação por parte do gestor. Nota-se, ainda, que estes índices não apresentam
dispersão, não apontam variação representativa para ser analisada em separado, pois os
números mostram-se em torno da reta.
O índice-padrão que trata das imobilizações de recursos não correntes tem relação com
os indicadores de imobilização do patrimônio social, pois este indicador é capaz de medir o
quanto a empresa está destinando de capital próprio e de capitais de terceiros de longo prazo
para ao imobilizado, conforme apontam as pesquisas de Fanti et al. (2016); Silva e Miranda
(2016); Souza et al. (2013); Souza et al. (2009); Ribeiro, Macedo e Marques (2012). Nesse
sentido, esses mesmos autores, em suas pesquisas, enfatizam que, ao destinar recursos não
correntes para o imobilizado, a entidade deve verificar se o imobilizado tem vida útil maior
que o financiamento em questão. Nesta pesquisa, não foi possível avaliar esse aspecto, mas
constatou-se que 87,62% dos recursos não correntes, em média, estão destinados ao
imobilizado, ou seja, 12,38% desses recursos estão financiando o giro dessas universidades. O
Gráfico 4, apresentado a seguir, demonstra a evolução do índice-padrão das imobilizações dos
recursos não correntes.

80
Gráfico 4 - Imobilização dos recursos não correntes
Fonte: Dados da pesquisa
Este indicador, visualizado no Gráfico 4, mostra tendência de queda, bem como os
resultados muito próximos da reta, indicando uma proximidade entre os índices. Mesmo com
os números apontando resultado alto, não se pode afirmar que todas as entidades estão com
indicador alto. Assim, foram analisados, posteriormente, cada ICES comparada com o índice-
padrão.
Sobre os índices-padrão de capital, estão em níveis considerados elevados, com os
gráficos apontando que estes indicadores vêm diminuindo ao longo do período estudado. Isso
mostra que as entidades, mesmo com investimentos altos, e, consequentemente, indicando
endividamento também alto, vêm saldando as dívidas. Conforme mostra a pesquisa
apresentada no Colóquio Internacional de Gestão Universitária (2019), essas entidades
fizeram, no passado, grandes investimentos, a fim de atender as avaliações do MEC, visando
atingirem bons resultados nos conceitos estabelecidos pelo Ministério.
4.1.2 Análise dos índices de liquidez por meio do índice-padrão
Neste tópico, foram analisados os índices-padrão, para os indicadores de liquidez, que
representam a capacidade de pagamento de curto e longo prazo. Essa análise foi feita por
meio dos índices: liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca.
A liquidez geral mostra o quanto a entidade dispõe de recurso para saldar as dívidas de
curto e longo prazo, tornando possível identificar se ela terá condições de saldar as dívidas,
conforme afirmam: Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e Afonso
(2016); Fanti et al. (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e

81
Bressan (2015); Vieira (2014); Francisco et al. (2012); Souza et al. (2009); Backes et al.
(2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Couto, Fabiano e Ribeiro (2012).
Considerando-se os indicadores calculados nesta pesquisa, chegou-se a uma média de
1,06, ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida total, o setor dispõe de R$ 1,06, para quitar as
dívidas de curto e longo prazo. Embora este indicador aponte, por meio do índice-padrão, uma
condição saudável, algumas entidades não dispõem dos recursos para saldar as suas dívidas,
pois os índices calculados, mostram-se abaixo de 1. Essa informação pode ser relacionada
com os indicadores de endividamento, pois, como afirma Matarazzo (2017), se a empresa,
destinar os recursos para o imobilizado, faltarão recursos para saldar as dívidas. Para melhor
explicar este indicador, segue o Gráfico 5, com posterior análise.
Gráfico 5 - Liquidez geral
Fonte: Dados da pesquisa
Analisando-se os dados, segundo o Gráfico 5, nota-se que, no ano de 2015,
apresentou-se um resultado de 3,69, fora do padrão comparando-se com os demais anos. Este
índice-padrão está, de certa forma, distorcendo o resultado da média para o período, tanto que,
ao simular a média sem este valor, obteve-se um resultado de índice-padrão médio de 0,69.
Essa variação/aumento ocorreu, por conta da UNIFEBE, que apresentou uma liquidez de
7,79, enquanto o índice mais alto ficou em 1,72, e apenas 4 ICES obtiveram indicador acima
de 1, as demais ICES ficaram abaixo de 1.
Outro ponto importante a se observar no Gráfico 5 é a tendência de crescimento,
ocasionada por este indicador que está fora do padrão. Segundo Matarazzo (2017) o ideal é
que os índices de liquidez cresçam e, neste caso, mesmo tirando-se do Gráfico este indicador,
a linha de tendência continua em crescimento.

82
A liquidez corrente tem por objetivo verificar a evolução da capacidade de pagamento,
envolvendo apenas os valores de ativo e passivo circulantes. Segundo Silva et al. (2019);
Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Duarte e
Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e Bressan (2015); Santos (2015); Vieira
(2014); Francisco et al. (2012); Souza et al. (2009); Ferreira e Macedo (2011); Backes et al.
(2009); Bomfim, Macedo e Marques (2013); Couto, Fabiano e Ribeiro (2012); e Ribeiro,
Macedo e Marques (2012), quando as entidades têm um ativo circulante maior que o passivo
circulante, significa dizer que ela tem condições de suprir os pagamentos de curto prazo.
Sendo assim, quando este indicador apresenta um resultado maior que 1, pode-se afirmar que
a entidade tem condições de liquidar as dívidas de curto prazo.
Analisando-se os índices-padrão da liquidez corrente, os indicadores mostraram-se
oscilando entre 0,89 e 1,78, apresentando uma média de 1,19. Com base nos números
calculados, pode-se afirmar que o setor está com uma liquidez corrente que possibilita saldar
as contas de curto prazo. Os números, ao longo desse período avaliado, mostraram uma
evolução, a qual tem ocorrido com os indicadores de capital, ocorrendo o mesmo com os
indicadores de liquidez, escolhidos para este estudo. Para melhor esclarecer, apresenta-se, a
seguir, o Gráfico 6, cujo objetivo, além de demonstrar a dispersão ocorrida neste indicador, é
demonstrar a tendência identificada para este indicador.
Gráfico 6 - Liquidez corrente
Fonte: Dados da pesquisa
Os índices-padrão do setor, nos anos de 2010 a 2017, não apresentaram nenhum
indicador que possa ser considerado fora do padrão. E, ainda, analisando-se os indicadores, ao
longo do tempo, nota-se uma evolução positiva dos indicadores, que pode ser comprovada por
meio do gráfico, o qual mostra que não há dispersão dos valores, estando todos em torno da

83
reta. Embora alguns dos indicadores estejam abaixo de 1, como se verifica nos anos de 2010,
2011 e 2013, estes indicadores não comprometeram a tendência de crescimento.
A liquidez seca demonstra a capacidade de pagamento de curto prazo, porém
considerando somente as contas capazes de se converterem em caixa, de forma rápida,
seguindo o que confirmam Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Jahara, Mello e
Afonso (2016); Fanti et al. (2016); Duarte e Lamounier (2007); Souza et al. (2013); Lucente e
Bressan (2015); Vieira (2014); Francisco et al. (2012); Souza et al. (2009); Backes et al.
(2009); e Couto, Fabiano e Ribeiro (2012). Sendo assim, para o cálculo do índice-padrão
foram desconsiderados no cálculo contas que: foram convertidas em recurso imediato como,
por exemplo, adiantamentos a empregados e a fornecedores, valores a recuperar, estoques de
almoxarifado, e outras contas não identificadas como contas a receber.
A liquidez seca apresentou um índice-padrão médio de 1,04 em média, podendo-se
dizer que as entidades têm uma liquidez dentro do que se espera, liquidez maior que 1, mas
isso não é regra para todos os anos, pois, nos anos de 2010 a 2014, o índice-padrão ficou
abaixo de 1; e, nos anos de 2015 a 2017, maior do que 1, elevando a média para 1,04.
Logicamente que o índice-padrão apresentado remete a análise a uma ideia do setor, porém
não se pode afirmar que todas a entidades estão com índice acima de 1. Assim, o mais
importante, de fato, é que o setor tem mostrado evolução ao longo dos anos. A seguir, para
melhor ilustrar esta análise, apresenta-se o Gráfico 7, elaborado para este indicador,
apontando a dispersão dessas informações e sobre a tendência deste indicador.
Gráfico 7 - Liquidez seca
Fonte: Dados da pesquisa
Assim como nos demais gráficos sobre a liquidez, também neste constata-se que a
linha de tendência está crescendo, observando-se a evolução positiva nos indicadores. Para

84
este mesmo gráfico, ainda, percebe-se que os números estão muito próximos da reta e que
todos os índices-padrão não apresentam dispersão.
4.1.3 Análise dos índices de rentabilidade, por meio do índice-padrão
Neste tópico analisam-se os resultados encontrados, calculados para os índices de
rentabilidade das ICES. Com base nos índices-padrão, os índices de rentabilidade
proporcionam uma análise sobre os rendimentos e sobre os resultados econômicos, a partir
das operações. As informações foram extraídas da DRE, tornando possível analisar a
capacidade de geração de resultado dessas entidades.
O primeiro indicador a ser analisado é o giro do ativo. Por meio deste indicador pode-
se verificar o quanto o ativo é capaz de girar e gerar resultados. O sucesso da entidade
depende muito das receitas geradas, em relação ao volume de investimentos, conforme
apontam Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Fanti et al. (2016); Souza et al.
(2013); Bressan et al. (2014); Vieira (2014); Souza et al. (2009); Bomfim, Macedo e Marques
(2013); e Fischmann e Zilber (2000). Sendo assim, é possível analisar o quanto se obtém de
resultado para cada R$ 1,00 investido. Logicamente que as ICES não visam lucro, mas é
necessário que obtenham bons resultados para que consigam manter-se no mercado.
Analisando-se o índice-padrão do giro do ativo, não se pode afirmar, com base nos
números, que houve evolução, pois os números mostram-se uniformes, com o índice
apresentando uma média de 0,58. Isso significa que, para cada R$ 1,00 investido pela
entidade, em média, o ativo destas entidades estão rendendo 0,58. Nesta análise, não existe a
possibilidade de afirmar se este resultado é bom ou não, para isso teria que ser comparado
com as metas da entidade, além de não ser o objetivo deste estudo, não se tem estas
informações. Para melhor esclarecer sobre esta análise, o Gráfico 8, apresentado a seguir,
aponta tanto a dispersão como a tendência.

85
Gráfico 8 - Giro do ativo
Fonte: Dados da pesquisa
Observando-se o Gráfico 8, em análise, reporta-se ao fato de que os indicadores de
índice-padrão estão próximos da reta, exceto o ano de 2014, que apresentou um resultado de
0,02, tornando-se objeto de uma análise específica. O gráfico demonstra, ainda, a tendência de
queda, ou seja, os resultados tendem a diminuir. Fazendo-se uma análise da média e da
dispersão deste indicador, ao se tirar da análise o indicador 0,02 de 2014, o gráfico mostra que
os indicadores têm uma tendência de crescimento. Desse modo, pode-se dizer que este
indicador vem influenciado no resultado, pois, sem ele, a média passa para 0,66. A
interferência neste resultado deu-se por conta do déficit de 3,289 (milhões), apresentado pela
UNC, fazendo com que o indicador sofresse alteração considerável.
A margem líquida representa o quanto a entidade obtém de lucro para cada R$ 100,00
vendidos. Na análise sobre a margem líquida, o índice-padrão médio apresentou um resultado
de 2,88. Apesar de apresentar uma média positiva, este indicador apresentou índices
negativos, apontando, no ano de 2012, o pior resultado. No ano de 2012, apenas cinco ICES
apresentaram resultado positivo, fazendo com que o índice-padrão para o setor fosse negativo.
Outro aspecto importante a se destacar é que, no ano de 2013, o índice-padrão subiu para
6,62. Portanto, estes dois anos, 2012 e 2013, mostram dois pontos bem distantes, conforme se
pode visualizar, a seguir, no Gráfico 9.

86
Gráfico 9 - Margem líquida
Fonte: Dados da pesquisa
Analisando-se o Gráfico 9, verifica-se que, os anos de 2012, com resultado negativo e
2013, com resultado positivo, são os dois pontos que merecem atenção. O ano de 2010 a 2012
as ICES: UNOCHAPECÓ, UNESC, CATÓLICA, UNIDAVI, UNC, UNIVALI E UNIFEBE,
apresentaram déficit. Sobre o ano de 2013, a UNC e a UNIVALI continuaram com déficit, e a
UNIVILLE apresentou déficit; as demais instituições (10) apresentaram resultado positivo,
elevando o indicador de índice-padrão para 6,62. Mesmo com essas oscilações, o Gráfico 9
apresenta uma linha de tendência em ascensão, apontando resultados positivos e muito
próximos da reta.
A rentabilidade do ativo representa o quanto que o ativo rendeu para cada R$ 100,00
investidos, segundo estudos de Silva et al (2019); Fanti et al (2016); Souza et al. (2013);
Vieira (2014); Souza et al. (2009); Backes et al. (2009); Silva e Costa (2003); Bomfim,
Macedo e Marques (2013); Ribeiro, Macedo e Marques (2012). Este indicador mede o quando
a entidade é capaz de gerar resultado com base nos ativos investidos, sendo possível verificar
o retorno desses investimentos. Ao calcular o índice-padrão médio para este indicador,
chegou-se a um índice de 1,78, de retorno. No ano de 2012, este indicador apresentou um
resultado negativo, pois as ICES: UNOCHAPECÓ, UNESC, CATÓLICA, UNIDAVI, UNC,
UNIVALI e UNIFEBE, apresentaram déficit, motivando um índice-padrão negativo,
conforme resultado demonstrado no Gráfico 10.

87
Gráfico 10 - Rentabilidade do ativo
Fonte: Dados da pesquisa
Conforme ilustra o Gráfico 10, verificam-se os resultados crescendo, demonstrado
pela linha de tendência, com os dados distribuídos, uniformemente, em torno da linha de
tendência. Apesar de, no ano de 2012, apresentar um resultado negativo, em função do déficit
antes mencionado, no ano de 2013, os resultados voltam a ser positivos, obtendo um índice de
2,95. Observa-se que este não foi o melhor resultado encontrado, mas permitiu recuperar a
média de crescimento.
O índice-padrão da rentabilidade do patrimônio social é capaz de demonstrar o quanto
a entidade obteve de rendimento para cada 100,00 de patrimônio social, conforme avaliam
Silva et al. (2019); Flach, Castro e Mattos (2017); Fanti et al. (2016), Souza et al. (2013); e
Bomfim, Macedo e Marques (2013). Para esses autores, capitais próprios são aqueles gerados
pela entidade, e que estão contabilizados no patrimônio social dessas entidades. Assim, como
as entidades estudadas nesta pesquisa têm o objetivo de investir todo recurso gerado, saber o
quanto este capital está rendendo é muito importante, para a continuidade dos projetos.
A rentabilidade do capital social apresentou um índice-padrão de 3,08. Este resultado
não é unânime entre todas as instituições por se tratar de uma média, porém o estudo aponta,
que, para cada 100,00 investidos, em média, tem-se um resultado de 3,08%. No ano de 2012,
esse indicador apresentou um resultado negativo, cabendo evidenciar que, em 2012, as ICES:
UNOCHAPECÓ, UNESC, CATÓLICA, UNIDAVI, UNC, UNIVALI E UNIFEBE,
apresentaram prejuízo. Sendo assim, este indicador acabou apresentando resultado negativo.
Para melhor analisar, cabe visualizar o que se expõe no seguinte Gráfico 11.

88
Gráfico 11 - Rentabilidade do patrimônio social
Fonte: Dados da pesquisa
Ao analisar o Gráfico 11, percebe-se que os resultados vêm crescendo, o que pode ser
percebido pela reta de tendência que apresenta. Apesar de que, no ano de 2012, obteve-se um
índice-padrão negativo, este foi recuperado nos anos seguintes, possibilitando que as
entidades continuassem crescendo.
Com base nos dados dos gráficos dos índices-padrão, nota-se que os índices de capital
vêm baixando, enquanto os índices de liquidez vêm demonstrando crescimento; e, nos
gráficos de rentabilidade, vem demonstrando que a rentabilidade está numa tendência de
crescimento, apenas o giro do ativo que vem demonstrando queda. Corroborando o que
destaca Matarazzo (2017), sobre a importância de que os números dos endividamentos
diminuam, os índices-padrão vêm demonstrando esta tendência; que os índices de liquidez
devem ser “o quanto maior melhor”, conforme demonstrado nos gráficos de índices-padrão,
essa tendência também se manifesta; nos gráficos de rentabilidade, o único índice que
demonstrou queda figura no gráfico de rentabilidade do ativo.
4.1.4 Análise comparativa dos indicadores por região
Neste tópico realizam-se as análises das ICES, agrupando-as por região, permitindo
uma visão consolidada de suas respectivas performances. Os índices-padrão foram agrupados
e obteve-se uma média por região.
Os índices de capital apontaram como está o endividamento das ICES de cada região,
demonstrando-se no Gráfico 12, a média dos índices-padrão do setor.

89
Gráfico 12 - Índices-padrão médio de capital por região
Fonte: Dados da pesquisa
A região Serrana apresenta o maior índice de participação de capitais de terceiros,
assim como a maior imobilização de capital. Sobre esta região são importantes alguns
esclarecimentos, que foram constatados a partir de uma análise nos demonstrativos contábeis,
em específico da UNIPLAC, pois a região Serrana é composta apenas por esta universidade.
Na elaboração desta pesquisa, conforme recomenda Matarazzo (2017), os índices de
participação dos capitais de terceiros foram multiplicados por 100. Nesse caso, para melhor
explicar a dispersão na análise deste indicador, ocasionado pela região serrana, fez-se um
cálculo sem a multiplicação por 100, objetivando facilitar o entendimento de quantas vezes o
capital de terceiros é maior que o capital próprio. Para entender esta divergência, procurou-se,
nas notas explicativas apresentadas desde 2007, alguma evidência que pudesse esclarecer
quaisquer dúvidas inerentes sobre este índice. Contudo, nenhuma evidência foi encontrada,
fazendo-se, então uma média comparada da UNIPLAC com as demais ICES, por meio das
seguintes informações, constantes na Tabela 1.

90
Tabela 1- Ranking do capital de terceiros em relação ao patrimônio social
Fonte: Dados da pesquisa
Na Tabela 1 constam algumas informações, a principal é verificar que a UNIPLAC
apresenta um índice de 13,32, significando dizer que o capital de terceiros é 13 vezes maior
que o capital próprio. Enquanto isso, as demais universidades apresentam capital inferior a 2,
sendo que oito universidades apresentam indicador menor do que 1. Fazendo uma média,
retirando-se os dados da UNIPLAC, tem-se uma média de: 0,65, ou seja, a diferença da média
para o indicador da UNIPLAC é de 12,67, equivalendo dizer que a UNIPLAC apresenta um
indicador 12,67 maior que média das demais instituições.
Analisando-se os indicadores, sem apresentar os dados da UNIPLAC, os números
apontam que a região Oeste apresentou o menor indicador para os capitais de terceiros, com
48,54, e a região Sul apresentou o maior índice para esse indicador, com 128,06. Com relação
ao endividamento, a região Norte apresentou o menor endividamento, com 46,47; e a região
do Vale do Itajaí com o maior endividamento. Sobre a imobilização do patrimônio social, a
região Norte apresentou o maior indicador, com 144,14, e região Oeste o menor indicador
com 99,90, sendo que, com exceção da região Sul, todas as demais regiões apresentaram
indicador acima de 100, mostrando que as ICES estão investindo além do capital próprio no
imobilizado. Quanto à imobilização dos recursos não correntes, a região Oeste apresentou o
menor índice, enquanto a região Norte apresentou o maior, com indicador de 83,31; porém
todas as regiões apresentaram indicador abaixo de 100, mostrando que, dos recursos não
correntes, nem tudo está sendo destinado para o imobilizado.
Concluída a exposição sobre como estão os índices-padrão médios das estruturas de
capitais, parte-se para um estudo sobre os indicadores de liquidez, sendo necessário, para este
ICESUNIPLACUNIBAVEUNISULUNESCUNOCHAPECÓUNCUNOESCCATÓLICAUNIVILLEUNIARPUNIVALIUNIDAVIUNIFEBE
328.831.864,00 72.411.695,00 0,220,090,08
2.223.807,823.241.532,74
25.691.197,0938.510.963,00
206.910.216,55 71.250.553,33 0,3412.080.632,35 4.000.830,12 0,33
0,5357.162.117,79108.767.894,350,3611.448.431,1431.755.294,76
1,711,291,010,950,89
8.761.191,74106.630.878,2840.697.460,8854.533.363,7337.295.529,52
5.108.972,9282.480.106,8340.482.574,8357.248.863,6941.812.970,27
CAPITAL DE TERCEIROSPATRIMÔNIO SOCIAL
2.986.343,91 39.774.967,82 13,32
ÍNDICE

91
estudo, saber como estão os indicadores médios por região sobre a liquidez. O Gráfico 13, a
seguir, indica como está a liquidez de forma regionalizada.
Gráfico 13 - Índices-padrão médio de liquidez, por região
Fonte: Dados da pesquisa
Os números da liquidez geral apontam a região Serrana com o índice mais baixo,
com indicador de 0,54, significando dizer que, para cada R$ 1 real a pagar no circulante, a
região Serrana dispõe de R$ 0,54, sendo esta a principal análise da liquidez; já a região do
Vale do Itajaí apresentou um indicador de 1,76. Cabe, neste ponto, uma observação quanto à
liquidez geral, apontando que as três piores regiões, Serrana, Sul e Norte, são as que
apresentaram os maiores índices de capital. O indicador de liquidez geral considera as contas
de curto e longo prazo. Esta relação existe e é corroborada por Pinheiro (2009), Lucente e
Bressan (2015) e Gitman (2010). Além disso, este indicador mostra a capacidade de
pagamento das dívidas totais, podendo-se verificar, ainda, a capacidade de pagamento de
curto e longo prazo sendo demonstrada por este indicador.
A liquidez corrente demonstra a capacidade de pagamento no curto prazo, sendo
assim, a região Sul apresenta o pior indicador, ou seja, um indicador de 0,77. Desse modo, por
meio deste indicador, chega-se à conclusão de que as dívidas de curto prazo são maiores que
os recursos disponíveis. Menor que 1 temos é o que se observa na região Serrana, mas o
destaque, com o maior indicador, é para região Oeste, com indicador de 1,97. Fazendo-se uma
comparação com o indicador de endividamento da região Oeste, esta possui o menor
indicador.
Sobre a liquidez seca, que visa medir a capacidade de pagamento, considerando-se a
possibilidade de converter em pagamento o mais rápido possível, o menor índice ficou com a

92
região Sul. O índice maior ficou para a região do Vale do Itajaí, seguindo pela região Oeste.
Os números remetem a uma indicação de que estas entidades estão com leve sinal de
endividamento para o logo prazo, se comparados os números dos indicadores de capital com
os indicadores de liquidez geral, com liquidez seca. O Gráfico 14, está demonstrado a
composição do endividamento, sendo possível visualizar, o quanto cada região necessita de
liquidez, para saldar as dívidas.
Gráfico 14 - Composição do endividamento por região
Fonte: Dados da pesquisa
O Gráfico 14 foi construído a partir da composição do endividamento que mede as
contas de curto prazo; a diferença são as dívidas de longo prazo. A partir desta análise, o
gráfico remente seguinte situação: na parte superior registram-se as contas de curto prazo; na
parte inferior, as contas de longo prazo, não constando os capitais próprios.
A região Serrana apresentou a pior liquidez geral de 0,54 e uma liquidez corrente de
0,90, aparecendo, no Gráfico 14, como as menores dívidas de curto prazo. A região Oeste
apresentou uma liquidez geral de 1,29, e uma liquidez corrente de 1,97. Como a liquidez
corrente mede as dívidas de curto prazo, estas informações consolidam-se com o Gráfico 14,
pois esta região tem a maior dívida de curto prazo, apresentando, assim, o pior índice de
liquidez corrente. A região Sul tem mais dívidas de curto prazo que a região Serrana, sendo
assim a liquidez corrente ficou com um índice de 0,77, portanto, menor que a região Serrana.
A região Norte tem menos dívidas de curto prazo que a região Sul, neste caso, com índice
melhor que as regiões Sul e do Vale do Itajaí, apresentou mais dívidas de curto prazo do que a
regiões Sul, Norte e Serrana, apresentando, por isso, indicador de liquidez corrente maior do
que estas regiões.

93
Analisando-se as rentabilidades, optou-se por dividir em dois gráficos a análise da
categoria rentabilidade. Um gráfico apenas com o giro do ativo; e outro com a margem
líquida, a rentabilidade do ativo, e a rentabilidade do patrimônio social, por se tratar de
grandezas diferentes. Para esta análise, apresenta-se e analisa-se, na sequência o Gráfico 15.
Gráfico 15 – Índice-padrão médio de rentabilidade por região
Fonte: Dados da pesquisa
O Gráfico 15 aponta a região Serrana com o maior indicador de 9,16; e a região Sul
com o menor índice em 1,71. Fazendo-se uma comparação das gerações de resultados, que
consequentemente, o recurso acaba sendo alocado nos equivalentes de caixas e nos recebíveis,
a região Sul, obteve lucratividade menor que a região Serrana, e indicadores de liquidez
menor. A região Oeste, que apresentou a maior lucratividade, resultou na maior liquidez
corrente; ao contrário da região do Vale do Itajaí, que resultou em uma liquidez corrente de
1,94, muito próximo da região Oeste, obtendo um resultado de margem 2,52 menor que a
região Oeste.
A rentabilidade do ativo apontou um resultado de 6,47 para região Oeste, significando
que, nesta região, os ativos estão sendo remunerados em 6,47, contudo, não se pode afirmar
que este indicador venha a ser bom ou não, pois, para isso, deve ser comparado com o
mercado. A região Sul apresentou o pior indicador, de 0,92, valendo-se observar que se estas
entidades estão operando com margem baixa, pode-se esperar uma rentabilidade baixa do
ativo.
Sobre a rentabilidade do patrimônio social, a região Serrana no ano de 2016,
apresentou um resultado de margem líquida de 314,18, sendo assim este indicador médio
acabou elevando-se. Considerando a análise sem a região Serrana, a região Oeste apresentou o
maior indicador com 8,63, e a região Sul apresentou o pior indicador de 2,10.

94
A seguir, será realizada, a partir do Gráfico 16, a análise do giro do ativo. Este
indicador de rentabilidade foi analisado em separado, exclusivamente, para esta análise, pois
este indicador foi calculado sem ser multiplicado por 100.
Gráfico 16 - Índice-padrão médio do giro do ativo por região
Fonte: Dados da pesquisa
Conforme o Gráfico 16, do giro do ativo para cada região, os números apontam a
região Oeste como o melhor indicador de 0,93, sendo que o pior indicador ficou com a região
Sul em 0,54, antecedido da região do Vale do Itajaí com 0,56. Este indicador representa o
rendimento que o ativo está gerando. Sendo assim, comparando-se com os demais indicadores
de rentabilidade, tomando-se por base a região Oeste e a região Sul, têm-se que a região Oeste
apresentou os menores indicadores de capital, com os maiores indicadores de liquidez, e os
maiores indicadores de rentabilidade. Já a região Sul está entre os maiores indicadores de
capital, os menores de liquidez e os menores de rentabilidade.
4.1.5 Análise comparativa das ICES por meio do índice-padrão médio
Neste tópico, apresenta-se uma análise das ICES em relação ao índice-padrão médio,
individualizada por indicador, permitindo fazer-se uma comparação entre o índice-padrão
médio e os indicadores médios das ICES.
O primeiro indicador a ser a analisando é o índice de capital de terceiros, que
apresentou um resultado de 46,99. Com esta média, significa dizer que as instituições estão
operando com 46,99% de capitais de terceiros, em média, observando-se que a UNIDAVI
vem operando com 10,03. Deixa-se melhor este entendimento, observando-se o Gráfico 17

95
Gráfico 17 - Índice de capital de terceiros médio x média do índice-padrão
Fonte: Dados da pesquisa
Cabe uma observação importante quanto ao índice de UNIPLAC, que apresentou uma
média de 944,19, ao longo do período de 2010 a 2017. Esta instituição tem um patrimônio
social 13 vezes menor que o imobilizado, ocasionando uma discrepância no resultado. As
ICES, UNIDAVI, UNIFEBE, UNOESC, CATÓLICA, UNIARP e UNIVILLE, estão com o
indicador abaixo da média de índice-padrão, e operando com capital de terceiros menor que
46,99.
Na composição do endividamento, os números apresentam um índice-padrão médio de
52,97, sendo que, em média, as ICES estão operando com 52,97% de dívidas de curto prazo,
sem ser, contudo, uma regra entre as instituições. O Gráfico 18, a seguir, mostra que a
UNIARP está operando com 86,06 de capital de terceiros, sendo que esta informação deve ser
avaliada, levando em consideração que estas dívidas deverão ser pagas, e devem ser
comparadas com os projetos de cada instituição, a fim comparar o retorno. Neste estudo, não
foi possível verificar estas questões em função do objetivo da pesquisa.

96
Gráfico 18 – Índice de composição do endividamento x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
O Gráfico 18 demonstra que a composição do endividamento índice-padrão oscilou
entre 67,56 e 34,50. Esta análise, se comparada com o índice de cada universidade, permite
constatar que os índices variam, porém o que está sendo comparado é o índice-padrão médio
com a média de cada universidade, nos períodos de 2010 a 2017. Com esta comparação, é
possível ter uma visão de como estão se comportando estes índices. Neste caso do
endividamento, não se pode afirmar que estão altos ou baixos; isso vai depender da política de
cada instituição, devendo ser avaliado sob ótica de cada uma.
O índice de imobilização do patrimônio social vem demonstrando manter-se na média,
acima de 100, levando a entender, por meio da análise do índice-padrão e das médias das
regiões, que as instituições estão imobilizando todo o patrimônio social. Para entender como
cada ICES vem se comportando, são analisados estes indicadores, com o intuito de comparar
cada ICES diante da sua média ao longo do período, com o índice-padrão médio. O Gráfico
19 aponta como está esta relação.

97
Gráfico 19 - Grau de imobilização x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa.
O Gráfico 19 apresenta o índice-médio de 112,24, sendo assim pode se afirmar que as
instituições estão com grau de imobilização acima de 100, porém isso não pode ser afirmado
para todas as instituições, pois algumas instituições estão operando com indicadores, abaixo
de 100. As ICES UNIARP, UNOESC e UNIDAVI estão com indicadores abaixo de 100,
cabendo ressaltar que a UNIPLAC, por constituir-se com situação diferente das demais
entidades, está apresentando uma imobilização média de 608,08. Como foi citado na análise
das regiões, esta instituição tem uma situação peculiar a ser considerada, causando algumas
divergências na análise.
O grau de imobilização leva em consideração os recursos não correntes, ou seja, os
valores do exigível a longo prazo, sendo assim, espera-se um indicador menor. Apenar de ser
menor em relação ao grau de imobilização, este indicador padrão médio ficou em 87,62,
significando dizer que, de cada 100 de recursos não correntes (patrimônio social + realizável a
longo prazo), 87,62 estão alocados no imobilizado, restando apenas 12,38 usados pelo
circulante. Com a análise do Gráfico 20, a seguir, será possível fazer a comparação com o
indicador médio de cada instituição.

98
Gráfico 20 - Imobilização dos recursos correntes médios x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
Conforme o Gráfico 20, o indicador de imobilização dos recursos correntes médios,
seis ICES vem mostrando-se abaixo do índice-padrão médio. Sendo assim, este indicador
apresenta-se dividido entre as universidades que estão acima e abaixo da média.
Passando-se para os indicadores de liquidez, sobre a liquidez geral, pode-se constatar
que, na média, os índices ficaram acima de 1; o índice-padrão para este indicador resultou em
1,06. Comparando-se com o indicador de cada ICES, têm-se os mais variados indicadores,
durante o período em análise. Para simplificar esta análise, as ICES foram agrupadas e, então,
usando-se a média destes indicadores, é possível apontar como estão as ICES em relação ao
índice-padrão. Para ilustrar esse entendimento, apresenta-se e faz a análise do Gráfico 21.
Gráfico 21 - Índice de liquidez geral médio x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa

99
Quando foram realizadas as análises do setor, observou-se que o setor se mostrou com
um índice abaixo de 1. Sendo assim, entendeu-se que as ICES, em sua maioria, estão
operando com poucos recursos para saldar as dívidas de curto e longo prazo. Em análise do
Gráfico 21, constata-se que a maioria das ICES estão com índice abaixo de 1, obtendo o
índice médio de 1,06, o qual deu-se em função da UNIDAVI, que apresentou um índice de
3,39. Este resultado acabou elevando a média, tirando a UNIDAVI da média. Este indicador
resulta abaixo de 1, resultado que vem se consolidado com análise da região.
O índice-padrão médio da liquidez corrente resultou em 1,19, podendo ser entendida
como uma média melhor que a liquidez geral. Na análise dos grupos, a liquidez geral
apresentou indicadores menores, diante dos números apresentados, e, assim como as regiões,
as ICES vêm operando com liquidez corrente melhor, significando dizer que as ICES têm
mais dívidas de longo prazo do que de curto prazo, conforme demonstrado a seguir, no
Gráfico 22.
Gráfico 22 - Índice médio de liquidez corrente x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
Analisando-se o Gráfico 22, constata-se que a UNIDAVI apresentou um índice de
4,34, fazendo que esta média se elevasse. Os dados apontaram que cinco universidades
obtiveram índice abaixo de 1; e seis ficaram entre 1,00 e 2,00. Combinado com a análise do
setor, observa-se que as ICES vêm operando com alto endividamento e, ainda, com liquidez
baixa. Este apontamento pode ser explicado pela imobilização alta, demonstrando os dados
que as ICES estão usando recursos de terceiros para manter os investimentos em imobilizado.

100
O índice liquidez seca é o indicador que vai além dos valores apresentados no
circulante, operando com valores de rápida conversibilidade em recursos. Este indicador
possibilita mostrar, de forma mais apurada, a capacidade de pagamento destas ICES. O
indicador médio padrão ficou em 1,04, porém, com este indicador não se pode afirmar que as
ICES estão todas com uma boa capacidade de pagamento; isso depende de entidade para
entidade. O Gráfico 23, seguinte, expõe essas informações, permitindo melhor visualização e
análise.
Gráfico 23 - Liquidez seca média x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
Com base no apresentado no Gráfico 23, constata-se a UNIDAVI, com o índice de
4,58, fez com que a média se apresentasse em 1,04. Contudo ao tirar esta universidade, a
média fica abaixo de 1, demonstrando que a UNIDAVI vem apresentando bons resultados de
liquidez. Com o menor indicador, aparece a UNIFEBE, com 0,38, observando-se que esta
posição, extraída do balanço, é uma posição estática.
A rentabilidade das ICES, como foi apontado nos indicadores, tanto no padrão como
nos médios por região, vem demonstrando-se baixa em algumas regiões, em outras, contudo,
aparece elevada. O índice-padrão médio resultou em um indicador de 0,58, para o giro do
ativo, sendo assim, para cada R$ 1,00, rendeu 0,58 em média.
Na sequência, a partir do Gráfico 24, pode-se verificar como estão em médias as ICES
em relação ao índice-padrão.

101
Gráfico 24 - Giro do ativo médio x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
Com base no Gráfico 24, verifica-se que a entidade UNIARP apresentou um indicador
médio de 1,64, representando a instituição com o maior indicador, a única com indicador
acima de 1. Este rendimento pode ser um bom resultado, porém tem que ser considerado se
comparado com as demais instituições. A UNIARP está situada na região Oeste, região que
vem mostrando bons indicadores, o que fez com que o indicador desta região fosse elevado.
Se considerar as ICES, UNISUL, em segundo lugar; UNESC e UNIDAVI empatadas em
terceiro lugar, as ICES UNISUL e UNESC estão localizadas na região Sul, região que vem
demonstrando resultados que não estão entre os melhores indicadores, mas, se os ativos estão
rendendo.
Por meio da margem líquida, é possível entender quanto que as entidades
apresentaram de resultado. O índice-padrão ficou em 2,88, porém este indicador tem variado
entre as universidades, algumas até apresentaram resultado negativo. No contexto das regiões,
os indicadores se apresentaram um pouco melhores, porém algumas entidades mostraram-se
mais rentáveis que outras. O Gráfico 25 demonstra esta relação.

102
Gráfico 25 - Margem líquida média x índice-padrão médio
Fonte: dados da pesquisa
Em observação ao Gráfico 25, ressalta participação da UNC, que apresentou resultado
negativo médio. Sobre a UNC vale registrar que apresentou em vários anos resultado
negativo, tendo em apenas três anos do período de 2010 a 2017, apresentado resultado
positivo. Mesmo com rendimentos considerados baixos, 6 universidades apresentaram
resultado acima da média, mas se considerar as ICES da região sul e norte são que estão entre
os resultados abaixo da média, apenas a UNC que é da região oeste entre as que estão abaixo
da média.
A rentabilidade do ativo representa o quanto os ativos renderam. Este indicador tem
uma função especial, que permite identificar se os rendimentos recuperaram os investimentos.
Com este indicador, o resultado obtido foi um índice-padrão médio de 1,78, para cada R$ 100
de investimento, as ICES e vem obtendo, em média, 1,78 de resultado. O contexto das ICES,
individualmente, não é muito diferente do contexto das regiões, apresentando uma variação
entre os resultados de cada região, e os resultados de cada universidade, como demonstrado
no Gráfico 26, que permitirá esta comparação

103
Gráfico 26 - Rentabilidade média do ativo x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
Analisando-se o Gráfico 26, sobre a rentabilidade do ativo, percebe-se que a UNIARP
aparece como a entidade mais rentável, lembrando-se que o mesmo já aconteceu com o giro
do ativo e com a margem líquida, indicando que esta universidade, em relação aos índices de
liquidez, vem mostrando-se em um patamar intermediário. A UNC, como é uma entidade que
vem apresentando déficits, automaticamente, neste indicador de rentabilidade do ativo,
resultou em valores negativos.
A rentabilidade dos capitais próprios mede o quando esses capitais renderam. As
instituições avaliadas neste estudo, por serem fundações, têm por obrigação reinvestir os seus
resultados, esperando-se que sejam positivos, já que são eles que irão garantir a continuidade
da entidade. Logicamente que não somente estes indicadores garantem a continuidade da
entidade, mas, como um todo, este é bastante importante.
O índice-padrão médio apresentou um indicador de 3,08, significando que, em média,
para cada R$ 100,00 de patrimônio social, rendeu 3,08. Este resultado, porém, não é unânime
entre as instituições, variando para cada entidade, de acordo com o seu contexto, conforme
comparação facilitada pela visualização do Gráfico 27, a seguir.

104
Gráfico 27 - Rentabilidade do patrimônio social médio x índice-padrão médio
Fonte: Dados da pesquisa
A UNC tem apresentado seguidos anos de déficit, fazendo com que os piores
indicadores de rentabilidade ficassem com esta instituição. Justamente, por esse acúmulo de
vários anos de déficit, o patrimônio social vem diminuindo, sendo assim não se poderia
esperar um bom indicador. Deve-se ter atenção especial também para a UNIPLAC que, por
apresentar um patrimônio social baixo, nos últimos anos, acumulou um resultado positivo
considerável, além de apresentar, em suas demonstrações, uma reserva de reavaliação
considerável, fazendo com que os valores do patrimônio social se elevem. A UNIPLAC,
assim, apresentou uma rentabilidade considerável, demonstrando que, se não fosse esta
reserva, por apresentar o patrimônio social baixo, o patrimônio social seria negativo.
4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES DOS GRUPOS POR MEIO DE NOTA
Os grupos de indicadores selecionados para uso nesta pesquisa representam a situação
geral de cada entidade avaliada, e os índices-padrão apontaram a situação geral do grupo
econômico. Desta forma, as ICES foram classificadas seguindo as estruturas de indicadores
definidas por Matarazzo (2017). Os indicadores foram agrupados e calculados
individualmente e, em seguida, agrupados em categorias, foram analisadas as médias das
categorias. Por fim, foi, então, calculada a posição relativa do grupo econômico das ICES
selecionada do conjunto que compõe o sistema ACAFE, visando atender os objetivos gerais e
específicos propostos para esta pesquisa.
As análises anteriores foram fundamentadas nos índices e, para isso, foram analisados
os índices-padrão, permitindo que fosse apresentada uma visão numérica das ICES e dos

105
indicadores. Assim, foi possível, mediante o estudo por regiões, comparar os indicadores
médios das universidades, com os índices-padrão, além de definir um indicador padrão para o
setor. Na sequência, as análises foram conduzidas no sentido de qualificar esses indicadores,
possibilitando entender se ele pode ser considerado, ótimo, bom, satisfatório, razoável, fraco,
deficiente ou péssimo.
As análises iniciaram-se pelo grupo econômico; em seguida, foram analisadas as
categorias, e os índices, chegando-se no resultado da análise com a atribuição de pesos aos
grupos de categoria. Esses pesos foram atribuídos da seguinte forma: estrutura de capitais -
0,40; estrutura de liquidez - 0,20; e estrutura de rentabilidade; 0,40. Essa análise dos pesos das
categorias permitiu identificar como as ICES se encontram dentro de cada categoria, e, mais
ainda, como está a situação de cada categoria para o setor que está sendo estudado. O Quadro
13 representa a análise consolidada do setor.
Quadro 13 -Posição consolidada do setor, por nota
ANO
1 -
UN
OE
SC
2 -
UN
IPL
AC
3 -
UN
IBA
VE
4 -
UN
OC
HA
PE
CÓ
5 -
UN
ISU
L
6 -
UN
ESC
7 -
CA
TÓ
LIC
A
8 -
UN
IDA
VI
9 -
UN
C
10 -
UN
IVIL
LE
11 -
UN
IAR
P
12 -
UN
IVA
LI
13 -
UN
IFE
BE
MÉ
DIA
2010 6,92 1,54 2,08 5,92 4,70 3,56 3,40 8,08 3,22 5,60 8,06 5,74 5,18 4,92 2011 7,26 1,84 4,76 5,60 4,66 5,14 4,24 8,44 3,32 5,08 3,98 6,00 3,68 4,92 2012 6,70 4,70 4,00 5,10 4,88 4,04 3,00 7,68 2,62 5,40 7,12 4,96 3,80 4,92 2013 7,22 4,84 4,78 4,42 4,36 5,70 4,00 7,28 3,68 3,62 6,78 2,30 5,02 4,92 2014 7,56 2,50 5,80 4,86 4,38 4,26 7,76 8,68 2,44 3,74 4,68 3,42 3,92 4,92 2015 5,32 6,28 3,84 7,42 2,92 3,08 6,66 7,00 3,40 2,90 5,76 3,50 3,10 4,71 2016 6,30 5,42 3,52 7,54 3,04 1,76 6,22 7,72 3,90 4,08 7,04 5,54 1,92 4,92 2017 6,84 4,60 3,80 6,38 2,76 2,22 6,52 8,78 4,64 5,34 5,06 3,50 3,56 4,92
MÉDIA 6,77 3,97 4,07 5,91 3,96 3,72 5,23 7,96 3,40 4,47 6,06 4,37 3,77 Fonte: Dados da pesquisa
Os dados do Quadro 13 apontam uma média ponderada de 4,92. Sendo assim, o setor
apresenta-se com uma média satisfatória, a média da nota entre 6,01 a 4,00, conforme
Matarazzo (2017), é considerada como satisfatória. Apesar de o perfil deste setor ser
considerado satisfatório, pela média de cada ano entre as ICES, percebe-se a ocorrência de
universidades, com média acima da média geral, enquanto outras apresentam média abaixo do
contexto. Essas variações são reflexo do cálculo individual de cada índice, os quais são
analisados em tópicos adiante.

106
As ICES que participam deste mercado estão espalhadas pelo estado. Assim, as
universidades foram agrupadas em cinco regiões, da seguinte forma: Serrana: UNIPLAC,
região Oeste: UNOCHAPECÓ, UNOESC e UNIARP, região Sul: UNISUL, UNIBAVE e
UNOESC, região Norte: UNIDAVI, CATÓLICA e UNC, e região do Vale do Itajaí:
UNIVILLE, UNIVALI e UNIFEBE). A seguir, o Gráfico 28 mostra a composição, das
médias obtidas por região.
Gráfico 28 - Média geral das notas por região
Fonte: Dados da pesquisa
O Gráfico 28 aponta a região Oeste com melhor indicador, seguida, em ordem
decrescente das regiões do Vale do Itajaí, Norte, Serrana e Sul. A região Serrana, mesmo
sendo representada por uma só universidade, apresentou um resultado acima da região Sul,
que é composta por três universidades. Com base nos dados, do Gráfico 28, pode-se afirmar
que as ICES da região Oeste estão bem posicionadas com relação ao conjunto de indicadores.
Sendo assim, pode-se visualizar, de forma geral e de forma regionalizada, este contexto, ou
seja, o contexto geral das ICES.
Uma vez realizada a análise global das categorias, fez uma análise das categorias de
forma individualizada, ou seja, como cada universidade está situada em relação a cada
categoria. Com isso, foi possível avaliar cada instituição, comparando-se as médias de cada
uma delas com a média geral. O resultado da média geral permitiu identificar a posição
relativa, conforme apresentado, por entidade, no Quadro 14, a seguir.
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
OESTE VALE DO ITAJAI NORTE SERRA SUL
Série1 6,24 5,37 4,37 3,97 3,92

107
Quadro 14 - Média ponderada das entidades x categoria, por ano
Fonte: Dados da pesquisa
A média geral dos grupos indica que as instituições estão dentro de um mesmo
contexto econômico. E, mesmo o resultado das médias acumuladas por grupos de indicadores,
apontando um padrão geral para as ICES, não se pode afirmar, por esses indicadores, que
todas as entidades estão em uma situação econômica satisfatória.
Os índices foram agrupados quanto à posição relativa, podendo ser analisados os
dados dos grupos. A Tabela 2, apresentada a seguir, expõe a classificação dos índices como
satisfatória. Segundo Matarazzo (2017), esses indicadores devem seguir na ordem do quanto
ANO
1 - U
NO
ESC
2 -
UN
IPL
AC
3 - U
NIB
AV
E
4 - U
NO
CH
AP
EC
Ó
5 - U
NIS
UL
6 - U
NE
SC
7 - C
AT
ÓL
ICA
8 - U
NID
AV
I
9 - U
NC
10 -
UN
IVIL
LE
11 -U
NIA
RP
12 -
UN
IVA
LI
13 -
UN
IFE
BE
MÉ
DIA
2010 5,90 1,50 2,10 5,30 3,60 3,00 5,50 8,40 4,70 7,40 7,10 7,30 8,20 5,382011 7,50 2,00 2,10 5,70 3,60 3,60 6,10 8,90 3,90 6,70 4,60 7,60 7,70 5,382012 7,50 1,80 2,00 5,00 3,40 5,20 4,80 8,80 4,60 6,30 6,40 7,30 6,90 5,382013 7,70 1,90 7,90 4,90 3,10 5,20 4,50 8,50 4,70 5,60 6,10 2,70 7,20 5,382014 7,80 1,90 8,20 5,00 3,30 4,40 5,90 8,80 4,40 5,50 6,40 2,50 5,90 5,382015 5,80 9,30 7,60 6,70 3,40 2,70 7,20 8,20 3,30 4,80 5,70 1,20 4,10 5,382016 8,00 1,80 6,00 7,80 3,20 2,40 6,80 9,00 3,70 5,40 6,60 5,50 3,80 5,382017 8,50 1,70 6,60 8,40 2,50 3,00 6,50 8,40 3,80 5,40 5,10 5,80 4,30 5,38
MÉDIA 7,34 2,74 5,31 6,10 3,26 3,69 5,91 8,63 4,14 5,89 6,00 4,99 6,01
2010 7,20 1,10 1,40 6,80 4,30 3,60 2,00 10,00 4,70 7,00 6,10 5,30 0,50 4,622011 7,30 2,40 2,00 7,40 4,50 4,50 1,20 10,00 5,00 6,80 3,70 5,00 0,20 4,622012 7,30 1,90 2,00 7,10 3,80 5,80 1,20 10,00 2,90 6,20 5,60 6,00 0,20 4,622013 7,70 2,60 2,30 6,70 3,80 6,30 0,60 10,00 3,80 5,70 5,10 4,10 1,30 4,622014 8,00 1,10 2,20 6,70 4,70 3,10 7,00 10,00 3,40 5,70 4,00 2,90 1,20 4,622015 5,90 0,00 1,60 5,50 2,80 1,40 5,20 9,40 3,50 4,20 3,80 1,90 0,70 3,532016 7,70 5,90 2,00 7,30 2,20 1,60 5,30 10,00 3,10 6,20 5,60 3,10 0,00 4,622017 8,00 6,40 2,20 7,90 2,20 1,90 5,40 9,10 3,60 5,70 5,30 2,30 0,00 4,62
MÉDIA 7,39 2,68 1,96 6,93 3,54 3,53 3,49 9,81 3,75 5,94 4,90 3,83 0,51
2010 7,80 1,80 2,40 6,10 6,00 4,10 2,00 6,80 1,00 3,10 10,00 4,40 4,50 4,622011 7,00 1,40 8,80 4,60 5,80 7,00 3,90 7,20 1,90 2,60 3,50 4,90 1,40 4,622012 5,60 9,00 7,00 4,20 6,90 2,00 2,10 5,40 0,50 4,10 8,60 2,10 2,50 4,622013 6,50 8,90 2,90 2,80 5,90 5,90 5,20 4,70 2,60 0,60 8,30 1,00 4,70 4,622014 7,10 3,80 5,20 3,80 5,30 4,70 10,00 7,90 0,00 1,00 3,30 4,60 3,30 4,622015 4,70 6,40 1,20 9,40 2,50 4,30 7,00 5,80 3,30 0,20 6,80 6,30 2,10 4,622016 3,90 8,80 1,80 7,40 3,30 1,20 6,10 5,30 4,50 1,70 8,20 6,80 1,00 4,622017 4,60 6,60 1,80 3,60 3,30 1,60 7,10 9,00 6,00 5,10 4,90 1,80 4,60 4,62
MÉDIA 5,90 5,84 3,89 5,24 4,88 3,85 5,43 6,51 2,48 2,30 6,70 3,99 3,01
Índices de capital
Índices de liquidez
Índices de rentabilidade

108
menor melhor. Assim, retomando o Quadro 14, nota-se que as entidades estão com média de
endividamento de 5,38, considerada uma média satisfatória.
Tabela 2 - Posição relativa dos indicadores de capital ÍNDICE DE CAPITAL - QUANTO MENOR, MELHOR
POSIÇÃO RELATIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
De 0,00 a 1,00 Péssimo
De 1,01 a 2,00 Deficiente
De 2,01 a 3,00 Fraco
De 3,01 a 4,00 Razoável
De 4,01 a 6,00 Satisfatório X X X X X X X X
De 6,01 a 8,00 Bom
De 8,01 a 10,00 Ótimo Fonte: Dados da Pesquisa
A análise do endividamento das ICES resultou em considerá-los satisfatórios, contudo,
não se pode afirmar que todas as instituições estão ou não endividadas. Assim sendo, este
resultado pode ser comparado com os resultados apontados nos índices-padrão e nos
resultados das médias dos índices-padrão, por região.
Os indicadores de liquidez oscilaram na média de 4,62, trazendo esta análise para os
indicadores relativos, percebendo-se que oscilaram entre satisfatório ou fraco. Apesar de o
indicador ter se comportado, em todos os anos, com a mesma média, considerada por
Matarazzo (2017) como satisfatória, em uma análise mais detalhada, resumida na Tabela 2,
verifica-se o resultado por instituição. Esses resultados mostram uma variabilidade desses
indicadores, podendo-se constatá-la comparando-se, cada instituição com a tabela de índice
relativo, sugerida por Matarazzo (2017). Nesse sentido verificam-se algumas universidades
com indicadores ótimo, e, ao mesmo tempo, outras com indicadores péssimos.
Para melhor entender a posição relativa do setor, os índices de liquidez foram
agrupados, conforme apresenta-se a seguir, na Tabela 3. Assim, tratando da posição relativa
dos indicadores de liquidez, foi possível chegar-se a uma conclusão geral sobre as entidades.
Enquanto no Quadro 14 mostraram-se as médias ponderadas de cada indicador para cada
instituição, na Tabela 3, mostra o cenário apenas da categoria índices de liquidez.

109
Tabela 3 - Posição relativa dos índices de liquidez ÍNDICE DE LIQUIDEZ - QUANTO MAIOR, MELHOR
POSIÇÃO RELATIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 De 0,00 a 1,00 Péssimo De 1,01 a 2,00 Deficiente De 2,01 a 3,00 Fraco De 3,01 a 4,00 Razoável X De 4,01 a 6,00 Satisfatório X X X X X X X De 6,01 a 8,00 Bom De 8,01 a 10,00 Ótimo Fonte: Dados da pesquisa
Os indicadores de liquidez representam o quando a empresa possui de recursos para
saldar as suas dívidas. Nesta pesquisa, este grupo de indicador foi classificado como
satisfatório, apresentando-se muito acima da mediana, que é a posição relativa razoável. O
quadro geral do cenário catarinense mostra que os gestores das universidades catarinenses
devem ficar atentos para a gestão financeira de curto prazo, uma vez que os indicadores estão
em uma posição apenas satisfatória.
Analisados os índices de liquidez, que apresentaram uma média considerada
satisfatória, não se pode, ainda, afirmar que todas as entidades estão dentro do mesmo padrão,
pois, para estes indicadores, foram identificadas ICES com média ponderada ótima, mas
também algumas com média ponderada péssima. O Quadro 14 também mostra este cenário.
Prosseguindo, na análise dos indicadores de rentabilidade, o contexto não se
apresentou diferente, nas universidades estudadas apontando, em seus demonstrativos, uma
rentabilidade satisfatória. Contudo, o conceito de satisfatório, segundo a metodologia de
Matarazzo (2017), remete a se afirmar que todas estão dentro do padrão para o setor, como se
pode verificar na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4 - Posição relativa dos índices de rentabilidade ÍNDICE DE RENTABILIDADE - QUANTO MAIOR MELHOR
POSIÇÃO RELATIVA 2010 211 2012 2013 2014 2015 2016 2017 De 0,00 a 1,00 Péssimo De 1,01 a 2,00 Deficiente De 2,01 a 3,00 Fraco De 3,01 a 4,00 Razoável De 4,01 a 6,00 Satisfatório X X X X X X X X De 6,01 a 8,00 Bom De 8,01 a 10,00 Ótimo Fonte: Dados da pesquisa
As médias de indicadores de rentabilidade, apesar do resultado identificado como
satisfatório, não representam o setor, uma vez que, mesmo mostrando-se satisfatório, as

110
entidades oscilam entre as melhores posições consideradas como ótimo e os indicadores
considerados péssimos.
Numa análise sobre os grupos de indicadores, finalizando este tópico, o Gráfico 29,
mostra como eles se apresentam por região. Assim, permitindo uma visão da média das
categorias, com o Gráfico 29, a seguir, pode-se entender como está o cenário, referente aos
índices de liquidez, de rentabilidade, e como estão as estruturas de capital.
Gráfico 29 - Médias das categorias de índices, por região
Fonte: Dados da pesquisa
Sobre as estruturas de capital, observando-se o Gráfico 29, nota-se que, no sentido
geral, apresentou uma média de 5,38, considerada satisfatória, com a região do Vale
apresentando-se acima do contexto geral, com 6,54. Apenas as regiões Sul, Serrana e Norte
estão abaixo do indicador geral. Sendo assim, estas regiões levaram o indicador para baixo,
enquanto a região Vale se encontra em destaque no conjunto de categorias.
Sobre os indicadores de liquidez, que apresentou média geral de 4,62, considerada
satisfatória, as regiões Oeste do Vale do Itajaí apresentaram média acima, sendo considerada
uma média boa. Já as regiões Sul e Serrana e Norte apresentaram média abaixo do grupo, com
a pior nota (2,68) para a região Serrana.
Sobre os índices de rentabilidade, que apresentou uma nota geral 4,62, considerada
satisfatória, as regiões Oeste e Serrana apresentaram um indicador médio acima, sendo que
estas duas regiões, embora estando acima da média, obtiveram nota satisfatória. Por outro
lado, as regiões Sul e do Vale do Itajaí mesmo apresentando nota abaixo da média, também
obtiveram conceito satisfatório, enquanto a região Norte está com conceito razoável,
apresentando uma média de 3,40.
SERRA OESTE SUL NORTE VALE ITAJAÍ
Capital 2,74 6,48 4,09 5,31 6,54
Liquidez 2,68 6,37 3,01 4,40 4,74
Rentabilidade 5,84 5,95 4,20 3,40 4,50
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

111
Concluindo-se a análise por índices, aplicando-se a média ponderada, e encontrando-
se a posição relativa de cada indicador, nota-se que o cenário das ICES estudadas nesta
pesquisa encontra-se abaixo da mediana que é representada pela categoria razoável, ou seja,
pelo contexto, os indicadores não poderão ser considerados como os melhores, embora
encontrem-se ICES com bons indicadores, mas, em contrapartida, também se encontram
universidades com indicadores péssimos. Nesse sentido, merece destaque a região Oeste, por
apresentar, para os três indicadores, capital, liquidez e rentabilidade, as melhores notas do
estado, elevando esta média.
No próximo tópico, conforme referido anteriormente, são analisados os indicadores de
forma individualizada.
4.3 ANÁLISE DOS INDICADORES POR NOTAS
Apresentado os indicadores, de forma agrupada, primeiro dos grupos de modo geral,
seguido dos grupos de indicadores como estavam se comportando, passa-se a analisar os
indicadores que serviram para que se chegasse a um estudo dos grupos e do cenário geral do
setor.
4.3.1 Análise dos indicadores de capital por nota
Com a análise desses indicadores iniciando pela categoria dos índices de capital,
estrutura que permite posicionar a entidade quanto ao patrimônio. Como já foi mencionado
anteriormente, esses indicadores apontam como está a composição das estruturas de capitais.
O Quadro 15, a seguir, detalha essas informações.

112
Quadro 15 - Média ponderada dos indicadores, por ICES
ANO 1
- U
NO
ESC
2 -
UN
IPL
AC
3 -
UN
IBA
VE
4 -
UN
OC
HA
PE
CÓ
5 -
UN
ISU
L
6 -
UN
ESC
7 -
CA
TÓ
LIC
A
8 -
UN
IDA
VI
9 -
UN
C
10 -
UN
IVIL
LE
11 -
UN
IAR
P
12 -
UN
IVA
LI
13 -
UN
IFE
BE
MÉ
DIA
01. CT/OS - Participação de Capitais de Terceiros (Endividamento)
2010 5,00 0,00 2,00 4,00 3,00 3,00 6,00 9,00 5,00 7,00 8,00 8,00 10,00 5,38 2011 3,00 10,00 5,00 8,00 5,00 4,00 6,00 1,00 8,00 9,00 1,00 7,00 3,00 5,38 2012 8,00 0,00 2,00 4,00 3,00 1,80 5,00 10,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 5,29 2013 8,00 0,00 8,00 4,00 3,00 3,00 5,00 10,00 5,00 6,00 7,00 2,00 9,00 5,38 2014 8,00 0,00 9,00 4,00 3,00 3,00 6,00 10,00 5,00 5,00 8,00 2,00 7,00 5,38 2015 5,00 10,00 8,00 6,00 3,00 2,00 8,00 9,00 3,00 4,00 7,00 0,00 5,00 5,38 2016 9,00 0,00 5,00 8,00 3,00 2,00 8,00 10,00 3,00 5,00 7,00 6,00 4,00 5,38 2017 10,00 0,00 6,00 9,00 2,00 3,00 8,00 8,00 3,00 5,00 4,00 7,00 5,00 5,38
MÉDIA 7,00 2,50 5,63 5,88 3,13 2,73 6,50 8,38 4,63 5,88 6,13 5,00 6,50
02. PC/CT - Composição do Endividamento
2010 3,00 8,00 5,00 9,00 5,00 4,00 6,00 1,00 7,00 10,00 1,00 8,00 3,00 5,38 2011 3,00 10,00 5,00 8,00 5,00 4,00 6,00 1,00 8,00 9,00 1,00 7,00 3,00 5,38 2012 3,00 9,00 4,00 10,00 5,00 8,00 5,00 0,00 7,00 8,00 2,00 6,00 3,00 5,38 2013 7,00 6,00 3,00 9,00 3,00 8,00 5,00 0,00 8,00 5,00 2,00 10,00 4,00 5,38 2014 8,00 7,00 3,00 9,00 4,00 3,00 3,00 0,00 5,00 8,00 2,00 10,00 5,00 5,15 2015 8,00 7,00 4,00 6,00 5,00 3,00 3,00 0,00 8,00 9,00 2,00 10,00 5,00 5,38 2016 5,00 10,00 6,00 3,00 7,00 4,00 3,00 0,00 8,00 9,00 2,00 5,00 8,00 5,38 2017 5,00 10,00 5,00 2,00 6,00 4,00 0,00 8,00 8,00 9,00 3,00 3,00 7,00 5,38
MÉDIA 5,25 8,38 4,38 7,00 5,00 4,75 3,88 1,25 7,38 8,38 1,88 7,38 4,75
03. AI/PS - Imobilização do Patrimônio Social
2010 9,00 0,00 2,00 5,00 4,00 3,00 5,00 10,00 3,00 7,00 8,00 6,00 8,00 5,38 2011 9,00 0,00 2,00 5,00 4,00 3,00 5,00 10,00 3,00 7,00 6,00 8,00 8,00 5,38 2012 9,00 0,00 2,00 4,00 3,00 8,00 5,00 10,00 3,00 6,00 8,00 7,00 1,00 5,08 2013 8,00 2,00 10,00 4,00 3,00 8,00 5,00 9,00 3,00 5,00 7,00 0,00 6,00 5,38 2014 8,00 2,00 9,00 4,00 3,00 5,00 8,00 10,00 3,00 6,00 7,00 0,00 1,00 5,08 2015 6,00 10,00 8,00 8,00 3,00 4,00 7,00 9,00 2,00 5,00 5,00 0,00 3,00 5,38 2016 7,00 0,00 8,00 9,00 2,00 3,00 6,00 10,00 4,00 5,00 8,00 5,00 3,00 5,38 2017 7,00 0,00 8,00 2,00 3,00 3,00 6,00 9,00 4,00 5,00 8,00 5,00 3,00 4,85
MÉDIA 7,88 1,75 6,13 5,13 3,13 4,63 5,88 9,63 3,13 5,75 7,13 3,88 4,13
04. AI/PS + ELP
2010 8,00 7,00 0,00 10,00 5,00 2,00 3,00 9,00 4,00 7,00 6,00 5,00 3,00 5,31 2011 6,00 10,00 0,00 9,00 5,00 2,00 3,00 8,00 7,00 8,00 3,00 5,00 4,00 5,38 2012 6,00 9,00 0,00 8,00 5,00 10,00 3,00 8,00 3,00 7,00 4,00 5,00 2,00 5,38 2013 6,00 9,00 8,00 8,00 10,00 10,00 0,00 7,00 3,00 5,00 3,00 5,00 2,00 5,85 2014 6,00 8,00 7,00 9,00 5,00 10,00 4,00 8,00 3,00 5,00 0,00 3,00 2,00 5,38 2015 8,00 6,00 8,00 9,00 5,00 4,00 7,00 10,00 3,00 5,00 3,00 2,00 0,00 5,38 2016 7,00 8,00 8,00 9,00 3,00 2,00 5,00 10,00 3,00 5,00 6,00 4,00 0,00 5,38 2017 6,00 7,00 9,00 8,00 3,00 2,00 5,00 10,00 4,00 5,00 8,00 3,00 0,00 5,38
MÉDIA 6,63 8,00 5,00 8,75 5,13 5,25 3,75 8,75 3,75 5,88 4,13 4,00 1,63 Fonte: Dados da pesquisa

113
Resgatando-se a análise do perfil dos grupos de indicadores, chegou-se num resultado
satisfatório. Essa informação permitiu visualizar como a entidade está perante as estruturas de
capitais, mostrando neste quesito uma média de 5,38, considerada satisfatória. No entanto,
analisando-se os indicadores, individualmente, percebe-se que algumas instituições estão
abaixo, e outras apresentam média muito acima.
A UNIDAVI apresentou uma média de 8,38 para os capitais de terceiros, considerada
como ótima. Porém oito instituições apresentaram nota acima do padrão para o grupo, que é
de 5,38. Quanto à composição do endividamento, a UNIPLAC e a UNIVILLE, apresentaram
média de 8,38, sendo considerada como ótima este indicador. Com isso foi possível constatar
que essas duas entidades têm pequena participação de capital de terceiros, tendo sete
universidades apresentado indicador abaixo da média, ou seja, com uma participação de
capital de terceiros a ser observada.
Sobre a imobilização do patrimônio social, a UNIDAVI apresentou uma média 9,63,
considerada ótima, pois significa informar que esta universidade apresenta-se com uma
instituição que imobilizou pouco os capitais próprios. Em contrapartida, a maioria das
universidades apresentaram uma imobilização do patrimônio social com uma nota muito
baixa, devendo ser observadas, pois apontam uma imobilização do patrimônio social acima de
100%, fazendo com que elas usem todos os recursos próprios para imobilizar.
Por seu turno, o indicador que trata das imobilizações dos recursos não correntes segue
o mesmo ritual dos demais indicadores de capitais, sendo que a UNIDAVI e a
UNOCHAPECÓ apresentaram um indicador considerado ótimo, enquanto a maioria das
outras universidades estão com indicador abaixo da média do grupo. Esta nota abaixo da
média remete a observar um alto grau de imobilização dos recursos não correntes. Sendo
assim, nesse contexto, pode ser que as entidades venham a necessitar de capital de giro, ou
lhes faltem recursos para usarem nas contas de curto prazo.
Estabelecendo um comparativo entre os indicadores das instituições com os das
regiões, é possível visualizar como as regiões estão uma relação à outra, O Gráfico 30, a
seguir, demonstra a posição de cada indicador perante sua região.

114
Gráfico 30 - Média dos índices de capitais
Fonte: Dados da pesquisa
O Gráfico 30 mostra que as regiões Oeste e do Vale do Itajaí apresentaram uma nota
considerada boa; a região Norte, uma nota satisfatória; a região Sul, com nota considerada
razoável e a a região da Serra, com nota considerada fraca. Na composição do endividamento,
a região Serrana apontou uma ótima nota; a região Norte, nota considerada boa; as demais
apresentaram nota satisfatória. Sobre a imobilização do patrimônio social, a região Oeste
apresentou nota boa; as regiões Sul, Norte e do Vale do itajaí apresentaram nota satisfatória; e
a Serrana apresentou nota deficiente. Cabe resaltar, nesse quesito, que a região Serrana
apresentou um grau de imobilização acima das demais, compromentendo aplicação dos
capitais próprios. Na imobilização dos recursos não correntes, as regiões Serrana e Oeste
apresentaram uma nota boa, enquanto as demais região ficaram com nota considerada
satisfatória.
Com relação à variação considerada para a região Serrana, cabe ressaltar que essa
região é representada por uma instituição, cabendo, ainda, uma breve discussão sobre os
indicadores, imobilização do patrimônio social, que apresentou uma nota 1,75, e imobilização
dos recursos não correntes com nota 8. O indicador que trata da imobilização do patrimônio
social representa o quanto a empresa está imobilizando em relação ao patrimônio social.
Nesse caso, a universidade está imobilizando acima de 100% do patrimônio social. Quando se
apura a imobilização dos rercurso não correntes, leva-se em consideração o ativo exigível a
longo prazo. Sendo assim, se a entidade possui um exigível a longo prazo com um patrimônio
social baixo, automaticamente, esses indicadores se invertem.
De qualquer forma, fechando a análise sobre os indicadores de capitais, obtém-se um
resultado, em que as instituições estão com notas que merecem uma atenção especial por parte

115
dos gestores, pois apresentam, na sua maioria, notas consideradas baixas, apontando que esses
indicadores estão sendo operados com valores altos. Regionalmente falando, os números
mostram que a região Oeste apresenta as melhores notas, em média, apresentandos os
menores indicadores para este grupo. Já a região Sul apresenta as menores médias, levando-se
a entender que estes indicadores, para a região Sul, estão altos.
No tópico seguinte faz-se uma análise descritiva dos indicadores de liquidez, os quais
apresentam uma perspectiva financeira de capacidade de pagamento, e de que a liquidez é
capaz de demonstrar como está a capacidade de pagamento de cada instituição.
4.3.2 Análise dos indicadores de liquidez
Descritos os indicadores de capital, analisam-se os indicadores de liquidez, os quais
mostram a situação financeira da empresa, ou seja, avaliam a capacidade de pagamento que
ela vem operando. Esses indicadores podem ser comparados com os indicadores de capital,
estabelecendo-se uma relação entre os dois. O Quadro 15, na sequência, apresenta os índices
de liquidez de forma detalhada, por indicador e ICES, e por ano.

116
Quadro 16 - Média ponderada dos índices de liquidez das entidades, por ano
ANO 1
- U
NO
ESC
2 -
UN
IPL
AC
3 -
UN
IBA
VE
4 -
UN
OC
HA
PE
CÓ
5 -
UN
ISU
L
6 -
UN
ESC
7 -
CA
TÓ
LIC
A
8 -
UN
IDA
VI
9 -
UN
C
10 -
UN
IVIL
LE
11 -
UN
IAR
P
12 -
UN
IVA
LI
13 -
UN
IFE
BE
MÉ
DIA
05. LG - Liquidez geral
2010 7,00 2,00 0,00 6,00 5,00 5,00 2,00 10,00 4,00 7,00 8,00 3,00 1,00 4,62 2011 8,00 3,00 2,00 6,00 4,00 5,00 1,00 10,00 2,00 7,00 7,00 5,00 0,00 4,62 2012 8,00 3,00 2,00 5,00 4,00 7,00 1,00 10,00 2,00 6,00 7,00 5,00 0,00 4,62 2013 7,00 4,00 3,00 6,00 5,00 8,00 2,00 10,00 1,00 5,00 7,00 0,00 2,00 4,62 2014 8,00 0,00 2,00 6,00 4,00 7,00 7,00 10,00 2,00 5,00 5,00 0,00 1,00 4,38 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 1,00 2016 7,00 5,00 2,00 8,00 2,00 3,00 6,00 10,00 1,00 5,00 7,00 4,00 0,00 4,62 2017 7,00 2,00 0,00 6,00 5,00 5,00 2,00 10,00 4,00 7,00 8,00 3,00 1,00 4,62
MÉDIA 6,50 2,38 1,38 5,38 3,63 5,00 2,63 8,75 2,13 5,38 6,25 2,75 1,63
06. LC - Liquidez corrente
2010 7,00 1,00 2,00 8,00 4,00 3,00 2,00 10,00 5,00 7,00 5,00 6,00 0,00 4,62 2011 7,00 3,00 2,00 8,00 5,00 4,00 1,00 10,00 6,00 7,00 2,00 5,00 0,00 4,62 2012 7,00 2,00 2,00 8,00 4,00 5,00 1,00 10,00 3,00 6,00 5,00 7,00 0,00 4,62 2013 8,00 2,00 2,00 7,00 3,00 5,00 0,00 10,00 5,00 6,00 4,00 7,00 1,00 4,62 2014 8,00 0,00 2,00 7,00 5,00 2,00 7,00 10,00 4,00 6,00 3,00 5,00 1,00 4,62 2015 8,00 0,00 2,00 7,00 4,00 2,00 7,00 10,00 5,00 6,00 5,00 3,00 1,00 4,62 2016 8,00 6,00 2,00 7,00 2,00 1,00 5,00 10,00 4,00 7,00 5,00 3,00 0,00 4,62 2017 7,00 1,00 2,00 8,00 4,00 3,00 2,00 10,00 5,00 7,00 5,00 6,00 0,00 4,62
MÉDIA 7,50 1,88 2,00 7,50 3,88 3,13 3,13 10,00 4,63 6,50 4,25 5,25 0,38 07. LS - Liquidez seca
2010 8,00 0,00 2,00 5,00 4,00 3,00 2,00 10,00 5,00 7,00 6,00 7,00 1,00 4,62 2011 7,00 0,00 2,00 8,00 4,00 5,00 2,00 10,00 7,00 6,00 3,00 5,00 1,00 4,62 2012 7,00 0,00 2,00 8,00 3,00 6,00 2,00 10,00 4,00 7,00 5,00 5,00 1,00 4,62 2013 8,00 2,00 2,00 7,00 4,00 7,00 0,00 10,00 5,00 6,00 5,00 3,00 1,00 4,62 2014 8,00 1,00 3,00 7,00 5,00 0,00 7,00 10,00 4,00 6,00 5,00 2,00 2,00 4,62 2015 8,00 0,00 3,00 7,00 4,00 2,00 7,00 10,00 5,00 6,00 5,00 2,00 1,00 4,62 2016 8,00 7,00 2,00 7,00 3,00 1,00 5,00 10,00 4,00 6,00 5,00 2,00 0,00 4,62 2017 8,00 0,00 2,00 5,00 4,00 3,00 2,00 10,00 5,00 7,00 6,00 7,00 1,00 4,62
MÉDIA 7,75 1,25 2,25 6,75 3,88 3,38 3,38 10,00 4,88 6,38 5,00 4,13 1,00 Fonte: Dados da pesquisa

117
Ao fazer a análise da categoria liquidez, chegou-se numa média de 4,62, que é
considerado um indicador satisfatório, segundo Matarazzo (2017). Porém, o indicador do
grupo permitiu que se traçasse um perfil do grupo dos indicadores de liquidez. Indicada a
posição do grupo, tornou-se necessário identificar como estão as ICES em relação ao perfil do
grupo, já que o grupo representa o setor econômico onde estas instituições estão inseridas.
Fazendo-se uma relação com os indicadores de capital, a instituição UNIDAVI, que
apresentou uma boa nota nos indicadores de capital, consequentemente, apresentou uma boa
nota para os indicadores de liquidez. Assim, vem se demonstrando, para esta universidade, a
relação de quanto menos capital de terceiros, mais capital próprio, e, ainda, destinando poucos
recursos para imobilização, pode fazer com que a entidade, disponha de mais recursos para
sanar as dívidas, defendida pelos autores já referidos.
O inverso das baixas para os indicadores de capital vem se relacionando com as notas
baixas apresentadas na liquidez, ou seja, a nota abaixo da média dos indicadores de capitais
significa que a entidade está com uma estrutura de capitais comprometida com capitais de
terceiros, e, ainda, destinando acima de 100% dos capitais próprios para o imobilizado.
Observou-se um número elevado de universidades com esta situação, e as notas baixas nos
indicadores de liquidez, reforçam que as entidades então com liquidez baixa, o que se justifica
pelos números apurados, comparados com o que está sendo defendido pelos autores
discutidos na base teórica, esta relação afeta diretamente os recursos disponíveis.
Quanto à liquidez geral, apenas seis universidades apresentaram nota acima da média
do grupo, tendo a UNIDAVI apresentado uma liquidez geral considerada boa, conforme
sugere Matarazzo (2017). As demais entidades apresentaram média abaixo da média do
grupo, significando dizer que essas universidades operam com uma liquidez baixa.
Quanto _à liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no curto prazo, a
UNIDAVI apresentou uma média de 10,00, considerada como ótima, e significando dizer que
esta instituição tem a melhor capacidade de pagamento do setor. Com média acima do padrão,
foram identificadas apenas cinco ICES, das 13 em estudo. A liquidez corrente das demais
universidades, ou seja, a maioria delas, está abaixo da média do grupo, isto é, operam com
uma liquidez muito baixa.
Na liquidez seca quanto à UNIDAVI, que apresenta, desde 2010, nota 10,00. A
universidade vem mantendo uma regularidade para esta categoria, e apenas cinco instituições
estão com nota acima da média. Cabe ressaltar que a maioria das universidades estão
operando com nota abaixo da média, quando o padrão para o setor é operar com baixa
liquidez.

118
Como pode ser observado, as instituições de ensino vêm operando com uma liquidez
baixa. Essa contrapartida pode ser visualizada nas categorias de capitais, que estão com
indicador considerado elevado, pela literatura. O Gráfico 31, a seguir, apresenta a posição das
notas dos índices de liquidez, por região, sendo possível visualizar como estão estes
indicadores, em relação à região.
Gráfico 31 - Médias dos índices de liquidez por região
Fonte: Dados da pesquisa
Com base nos dados do Gráfico 31, constata-se que a região Oeste, com relação à
liquidez geral, apresenta a maior nota (6,4), considerada uma nota boa. A região do Vale do
Itajaí apresenta uma nota satisfatória, as regiões Sul e Norte apresentam uma nota razoável, e
a região Serrana, uma nota fraca. Quanto à liquidez corrente, a região Oeste apresenta uma
nota boa, as regiões Norte e do Vale do Itajaí apresentam uma nota satisfatória, a região Sul,
uma nota considerada fraca, é a Serrana, uma nota deficiente. Quando à liquidez seca, a região
Oeste apresenta uma nota considerada boa, as regiões Norte e do Vale do Itajaí, uma nota
considerada satisfatória, a região Sul, uma nota considerada razoável, e a região Serrana
apresenta uma nota deficiente.
A seguir, é apresentada uma análise sobre a rentabilidade, na qual são expostos os
resultados apurados, destes indicadores, demonstrando a rentabilidade de cada instituição, e
em relação à região onde está inserida.
4.3.3 Análise dos indicadores de rentabilidade
SERRA OESTE SUL NORTE VALE ITAJAÍ
Liquidez Geral 2,38 6,04 3,33 3,38 4,38
Liquidez Corrente 1,88 6,42 3,00 4,75 5,21
Liquidez Seca 1,25 6,50 3,17 4,88 5,04
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

119
Neste tópico, analisam-se os indicadores de rentabilidade, a partir dos quais tornou-se
possível mensurar como estão os rendimentos dos capitais das entidades estudadas, conforme
exposto a seguir, no Quadro 17.

120
Quadro 17 - Média ponderada dos índices de rentabilidade das entidades, por ano
ANO 1
- U
NO
ESC
2 -
UN
IPL
AC
3 -
UN
IBA
VE
4 -
UN
OC
HA
PE
CÓ
5 -
UN
ISU
L
6 -
UN
ESC
7 -
CA
TÓ
LIC
A
8 -
UN
IDA
VI
9 -
UN
C
10 -
UN
IVIL
LE
11 -
UN
IAR
P
12 -
UN
IVA
LI
13 -
UN
IFE
BE
MÉ
DIA
08. RL/AT - Giro do Ativo
2010 7,00 2,00 5,00 3,00 7,00 8,00 2,00 6,00 5,00 0,00 10,00 2,00 1,00 4,46 2011 2,00 5,00 7,00 4,00 7,00 8,00 2,00 6,00 5,00 0,00 10,00 3,00 1,00 4,62 2012 3,00 6,00 7,00 5,00 8,00 5,00 4,00 7,00 2,00 0,00 10,00 2,00 1,00 4,62 2013 3,00 7,00 1,00 6,00 8,00 2,00 5,00 7,00 5,00 0,00 10,00 4,00 2,00 4,62 2014 7,00 2,00 7,00 5,00 3,00 4,00 10,00 8,00 0,00 1,00 6,00 2,00 5,00 4,62 2015 2,00 8,00 1,00 7,00 4,00 5,00 6,00 0,00 3,00 0,00 10,00 5,00 2,00 4,08 2016 3,00 4,00 1,00 8,00 5,00 5,00 7,00 7,00 2,00 0,00 10,00 6,00 2,00 4,62 2017 2,00 4,00 1,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 2,00 0,00 10,00 6,00 3,00 4,62
MÉDIA 3,63 4,75 3,75 5,75 5,88 5,50 5,38 5,75 3,00 0,13 9,50 3,75 2,13
09. SL/RL - Margem Líquida
2010 8,00 2,00 1,00 6,00 5,00 4,00 2,00 7,00 0,00 3,00 10,00 5,00 7,00 4,62 2011 10,00 2,00 7,00 4,00 3,00 5,00 6,00 8,00 1,00 5,00 2,00 7,00 0,00 4,62 2012 7,00 10,00 7,00 4,00 5,00 2,00 1,00 5,00 0,00 6,00 8,00 3,00 2,00 4,62 2013 10,00 7,00 6,00 2,00 3,00 7,00 5,00 4,00 2,00 0,00 5,00 1,00 8,00 4,62 2014 8,00 2,00 7,00 5,00 2,00 5,00 10,00 7,00 0,00 1,00 3,00 4,00 6,00 4,62 2015 7,00 0,00 2,00 10,00 2,00 4,00 8,00 7,00 5,00 1,00 5,00 6,00 3,00 4,62 2016 5,00 10,00 2,00 8,00 2,00 1,00 5,00 4,00 6,00 3,00 7,00 7,00 0,00 4,62 2017 6,00 5,00 2,00 4,00 3,00 1,00 7,00 10,00 7,00 8,00 2,00 0,00 5,00 4,62
MÉDIA 7,63 4,75 4,25 5,38 3,13 3,63 5,50 6,50 2,63 3,38 5,25 4,13 3,88 10. SL/AT - Rentabilidade do Ativo
2010 8,00 2,00 1,00 7,00 5,00 3,00 2,00 7,00 0,00 4,00 10,00 5,00 6,00 4,62 2011 8,00 2,00 7,00 4,00 5,00 7,00 5,00 10,00 2,00 3,00 1,00 6,00 0,00 4,62 2012 7,00 8,00 7,00 4,00 6,00 2,00 0,00 5,00 1,00 5,00 10,00 2,00 3,00 4,62 2013 7,00 8,00 3,00 2,00 4,00 6,00 7,00 5,00 2,00 0,00 10,00 1,00 5,00 4,62 2014 7,00 2,00 7,00 5,00 3,00 4,00 10,00 8,00 0,00 1,00 6,00 2,00 5,00 4,62 2015 6,00 0,00 2,00 10,00 3,00 5,00 8,00 7,00 4,00 1,00 7,00 5,00 2,00 4,62 2016 4,00 10,00 2,00 8,00 3,00 1,00 6,00 5,00 5,00 2,00 7,00 7,00 0,00 4,62 2017 6,00 5,00 2,00 4,00 2,00 1,00 8,00 10,00 7,00 7,00 3,00 0,00 5,00 4,62
MÉDIA 6,63 4,63 3,88 5,50 3,88 3,63 5,75 7,13 2,63 2,88 6,75 3,50 3,25
11. SL/OS - Rentabilidade do Patrimônio Social
2010 8,00 1,00 2,00 7,00 6,00 3,00 2,00 7,00 0,00 4,00 10,00 5,00 5,00 4,62 2011 8,00 0,00 10,00 5,00 6,00 7,00 4,00 7,00 1,00 3,00 2,00 5,00 2,00 4,62 2012 6,00 10,00 7,00 4,00 7,00 1,00 2,00 5,00 0,00 5,00 8,00 2,00 3,00 4,62 2013 7,00 10,00 3,00 2,00 6,00 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 8,00 0,00 5,00 4,62 2014 7,00 5,00 4,00 3,00 7,00 5,00 10,00 8,00 0,00 1,00 2,00 6,00 2,00 4,62 2015 5,00 8,00 1,00 10,00 2,00 4,00 7,00 5,00 3,00 0,00 6,00 7,00 2,00 4,62 2016 4,00 10,00 2,00 7,00 3,00 0,00 6,00 5,00 5,00 2,00 8,00 7,00 1,00 4,62 2017 5,00 8,00 2,00 2,00 3,00 0,00 7,00 10,00 7,00 6,00 4,00 0,00 5,00 4,54
MÉDIA 6,25 6,50 3,88 5,00 5,00 3,38 5,38 6,38 2,25 2,75 6,00 4,00 3,13 Fonte: Dados da Pesquisa

121
O indicador apurado pela média ponderada do setor ficou em 4,92, e a média
ponderada para o grupo de indicadores de rentabilidade ficou em 4,62, apresentando-se como
uma posição satisfatória. Isso, contudo, não significa dizer que a rentabilidade, em todas as
instituições, foi considerada satisfatória.
Sobre o giro do ativo, este indicador mede o quanto o ativo movimentou, indicando o
quanto renderam os valores investidos do ativo. Para melhorar esse entendimento, os
resultados deste indicador foram classificados em nota, e, sendo assim, classificados dentro da
sua posição relativa. Este indicador representou uma média considerada satisfatória, porém,
em algumas entidades, resultaram em notas que podem ser consideradas como péssima e
deficiente. Esse resultado pode estar relacionado com a baixa rentabilidade da instituição,
além de que, este rendimento baixo faz com que a entidade busque recursos para continuar
sanando as dívidas.
Sobre a margem líquida, que representa o quanto a entidade apresentou de superávit,
as médias deste indicador ficaram em 4,62, igual ao indicador gerado para o grupo. Porém, ao
se comparar com as entidades, observam-se que algumas ICES, como a UNOESC e a
UNIDAVI obtiveram conceito bom, ao contrário da UNISUL, UNESC, UNC e UNIVALI,
que tiveram conceito considerado fraco.
Passando-se para a rentabilidade do ativo, que mostra o quanto a instituição obteve de
resultado com base no ativo, este indicador apresentou média 4,62, igual a média do setor.
Algumas instituições, porém, foram bem classificadas, como o caso das ICES: UNOESC,
UNIDAVI, UNIARP, enquanto as demais oscilaram em torno de: fraco, razoável e
satisfatório.
Por último, analisam-se as rentabilidades do patrimônio social, indicador capaz de
mostrar o quanto os capitais próprios estão rendendo. Este indicador apresentou uma média de
4,62, a qual, se comparada com o indicador apurado para o setor, apontou média igual; e
ainda, se comparada com a média para a classe de indicadores continuou apresentando
resultado igual. As ICES: UNOESC, UNIDAVI e a UNIARP, apresentaram conceito bom,
porém as demais universidades apresentaram conceitos oscilando em torno de: fraco, razoável
e satisfatório.
Analisando os indicadores de rentabilidade, nota-se que todos estão muito próximos,
assim como as demais classes de indicadores. Com isso, pode-se constatar, pelos resultados,
que as ICES operam com rendimentos muito semelhantes, pois as médias estão muito
próximas. Desse modo, reportando-se, na análise dos índices-padrão, os indicadores podem
ser divididos em dois conjuntos: os que estão acima da média e os que estão abaixo da média.

122
Visando esclarecer o contexto dos rendimentos por região, o que permite entender
melhor como cada região está se comportando, aponta-se, no Gráfico 32, como cada indicador
se comportou em cada região.
Gráfico 32 - Média das notas dos índices de rentabilidade por região
Fonte: Dados da pesquisa
Sobre o giro do ativo, a região Oeste apresentou a nota 6,29, considerada boa; as
regiões Sul e Serrana, uma nota satisfatória; razoável para a região do Vale do Itajaí; e a
região Norte, uma nota considerada fraca. Sobre a margem líquida, a região Oeste obteve nota
considerada boa; as regiões do Vale e Serrana, nota considerada satisfatória, e as regiões Sul e
Norte, nota razoável. A rentabilidade do ativo apresentou as seguintes notas: a região Oeste
com uma nota considera boa, regiões Sul e Norte com uma nota razoável, e as regiões Serrana
e do Vale do Itajaí, com uma nota considerada satisfatória. A rentabilidade do patrimônio
social resultou com as seguintes notas: a região Serrana apresentou uma nota considerada boa,
nas regiões Oeste, Sul e do Vale do Itajaí um uma nota considerada satisfatória, e a região
Norte com uma nota considerada razoável.
Concluídas as análises, percebe-se que as entidades vêm operando com endividamento
alto; os capitais de terceiros têm influenciado na liquidez corrente; os indicadores de liquidez,
mesmo estando acima de 1,00, apresentam-se com uma margem pequena; as entidades estão
destinando grande parte os capitais próprios para a imobilização.
Constatou-se, ainda, uma coerência entre os resultados apontados pelos índices-padrão
e os resultados obtidos pelas notas, apresentando-se de forma satisfatória. Este resultado
satisfatório, combinado com a evolução dos indicadores, levam ao entendimento de que as
entidades vêm evoluindo ao longo tempo. Além desses pontos importantes já referidos, estas

123
análises possibilitam uma visão geral sobre os indicadores e o cenário das Instituições
Comunitárias de Ensino Superior de Santa Catarina.

124
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito desta pesquisa, conforme definido no objetivo geral foi avaliar o
desempenho econômico-financeiro das universidades comunitárias de Santa Catarina, por
meio de índices-padrão, no período de 2010 a 2017. Assim, para atender ao objetivo proposto,
todos os esforços foram concentrados em ordenar o estudo e os resultados, no sentido de
mensurar o desempenho do setor, mediante o uso dos índices-padrão. Entende-se que o
objetivo principal foi atendido com a criação dos índices-padrão para o setor, bem como com
a identificação das relações entre os indicadores, apontados nesta pesquisa.
Focando no atendimento do objetivo geral, foram selecionados três objetivos
específicos: O primeiro objetivo específico foi: Identificar os principais indicadores
econômico-financeiros que poderiam ser usados pelas universidades comunitárias de Santa
Catarina, tendo a escolha dos indicadores se dado por meio do estudo da literatura. Esses
indicadores foram comparados com os indicadores recomendados por Matarazzo (2017),
como indicadores sugeridos para o terceiro setor. A opção pelos indicadores sugeridos por
Matarazzo (2017) deu-se por razões como: a literatura vem consolidando estes indicadores,
diferente dos indicadores sugeridos pelo manual do terceiro setor, que, além de alguns
apresentarem a mesma característica dos sugeridos por Matarazzo (2017); para alguns
indicadores não foi possível localizar os dados, junto às instituições; e, ainda, não foram
encontradas pesquisas que consolidassem estes indicadores.
O segundo objetivo: Criar referenciais (índices-padrão) de comparação para as
universidades, de acordo com o cálculo dos indicadores financeiros selecionados, foi atendido
com a criação dos índices-padrão para o setor. Ainda quanto a esses índices criados, eles
foram avaliados entre as regiões, os grupos de indicadores, comparando-os entre as ICES, e
relacionados entre os grupos, as ICES e o contexto do setor.
O terceiro objetivo específico visava utilizar uma função de valor concomitantemente
aos índices-padrão. Assim, para alcançá-lo e relacioná-lo com os indicadores, estes foram
categorizados e, com isso, foram agrupados e calculada a média ponderada, chegando-se na
posição relativa do indicador. O uso da posição relativa, além de permitir comparar com os
indicadores-padrão, permitiu que a pesquisa qualificasse cada indicador, dando uma visão de
que ele possa estar: ótimo, bom, satisfatório, razoável, fraco, deficiente e péssimo. Sendo
assim foi possível avaliar, não só os valores numéricos dos indicadores, mas ter uma ideia da

125
qualificação de cada um, ter uma visão da categoria, uma visão de indicador, e uma
contextualização das entidades dentro deste cenário.
As ICES desempenham um papel fundamental na sociedade que estão inseridas, sendo
assim esta pesquisa deu uma grande contribuição para a comunidade, no sentido de definir um
grupo de indicadores, capaz de avaliar estas instituições. Além disso criar os índices-padrão,
que podem ser usados para comparar se cada instituição está operando acima ou abaixo dos
índices-padrão. Como as instituições geram impactos financeiros e econômicos no seu
entorno, foi possível avaliar as regiões, versos as instituições, possibilitando fazer com que a
sociedade, tenha uma percepção sobre as questões financeiras e econômicas de cada entidade,
em relação ao grupo de indicadores e em relação a região, podendo avaliar o seu desempenho
institucional.
A contribuição trazida por esta pesquisa, ainda, foram os estudos no campo das
referências teóricas, pois permitiram conceitualizar essas instituições, trazendo maior
percepção sobre a complexidade da gestão universitária. Além do mais, foram debatidas as
questões que envolvem os conceitos sobre as universidades comunitárias, permitindo que se
tenha uma visão dessas entidades perante a sociedade; vendo-as como entidades devem
prestar contas dos recursos obtidos, e que a contabilidade é uma grande geradora destas
informações.
Outra contribuição de grande valia consiste na discussão que se possibilitou em torno
das teorias que envolvem a avaliação de desempenho, baseada em indicadores financeiros e
econômico. Essa discussão é relevante para os estudos e para a comunidade científica, pois
permitiu definir um grupo de indicadores, capaz de avaliar as ICES. Foi fundamental, ainda,
pois respondeu a indagação constante sobre quantos indicadores devem ser usados em uma
avaliação. Enfim, com os estudos desta pesquisa foi possível perceber e concluir que não é um
número exagerado de indicadores que vai avaliar bem ou mal uma entidade, mas sim um
grupo capaz de fazer com que o usuário da informação contábil tenha uma visão clara sobre o
desempenho de uma entidade, e esta pesquisa permitiu ter esta visão clara.
No campo teórico, esta pesquisa ainda fez um levantamento na literatura nacional, e na
literatura internacional, tornando possível o entendimento sobre como os autores
internacionais e nacionais estão tratando este assunto. Esta pesquisa, realizada nas bases de
dados nacionais e internacionais, deu-se por meio do levantamento bibliométrico, usado no
item referencial teórico.
No campo da análise por meio de indicadores financeiros e econômicos, esta pesquisa
selecionou um grupo de indicadores, e, mediante estes indicadores, foi possível calcular os

126
índices-padrão. Mediante a aplicação destes conjuntos de índices, permitiu-se ter uma visão
de como estão estas entidades, possibilitando compará-las entre si, por meio de indicadores
que foram qualificados por meio dos pesos. E ainda mais, este mesmo trabalho poderá ser
replicado em outros setores da economia, como também em universidades comunitárias de
outros estados da federação brasileira.
Quanto aos índices-padrão, os índices de capital demonstraram que existe uma
tendência de queda; os indicadores de liquidez apontaram que, ao longo do período estudado,
há uma tendência de crescimento, igualmente como aconteceu com os indicadores de
lucratividade. A análise permitiu constatar, ainda, que as entidades vêm operando com uma
média de capital de terceiros de 45,90%, que imobilizam os recursos próprios em média de
112,24%, avaliou a imobilização dos recursos não correntes com um resultado de 87,62%,
demonstrando todos estes indicadores queda ao longo do período.
Os indicadores de liquidez geral apresentaram uma média de 1,06. Com base nesses
números, é possível afirmar que as entidades, a longo prazo, têm possibilidade de pagamento,
porém com uma margem muito pequena. Já a liquidez corrente apresentou uma média 1,19,
demonstrado que as entidades têm maior capacidade de pagamento das contas de curto prazo.
A liquidez seca apresentou uma média 1,04, e, mesmo não sendo uma regra ao longo do
período, este indicador demonstrou crescimento, assim como ocorreu em todos os
indicadores de liquidez.
Sobre os índices de rentabilidade, o ativo apresentou giro de 0,58 em média, tendo este
indicador demonstrado queda na linha de tendência do gráfico. A margem líquida, apesar de
algumas entidades apresentarem resultado negativo, apresentou uma média positiva de 2,88.
O retorno do ativo apresentou um resultado de 1,78 em média, e a rentabilidade do patrimônio
social, um rendimento médio de 3,08. Não foi possível determinar se esses indicadores foram
considerados ruins. Contudo, para o contexto, mais importante foi poder identificar uma
evolução positiva, ao longo do período estudado.
Os resultados nos índices-padrão, vistos sob o aspecto regional, mostraram a região
Oeste com os menores indicadores de endividamento; em contrapartida, com os maiores
indicadores de liquidez. Com este estudo, pode-se comprovar, pelo exposto no Gráfico 14,
que as regiões com os maiores indicadores de dívidas de curto prazo, estão com os piores
indicadores de liquidez corrente, visão defendida por diversos autores. Sobre as
rentabilidades, a região Oeste apresentou as melhores rentabilidades, e o melhor desempenho
na avaliação do giro do ativo. Nessas análises, não foram consideradas a região Serrana, por
representar esta uma variação muito grande. Na análise dos índices-padrão por universidades,

127
confirmou-se a relação das universidades com as regiões, exceto a UNIPLAC que é única
entidade que representa a região Serrana, sendo ela a determinar a variação.
Na análise por nota dos indicadores, considerando-se uma nota geral dos grupos de
indicadores, a região Oeste apresentou as melhores notas, podendo-se afirmar que esta região
apresenta os melhores indicadores, seguidos das regiões do Vale do Itajaí, Norte, Serrana e
Sul. Sobre os grupos de indicadores, os índices de capital apresentaram média considerada
satisfatória; os índices de liquidez média satisfatória, os indicadores de rentabilidade média
satisfatória; analisando separadamente cada categoria, a região Oeste confirmou os melhores
indicadores.
Numa análise, sobre os indicadores avaliados pelo ponto de vista das notas, a região
Oeste, seguida da região do Vale, vem demonstrando as melhores notas dos indicadores de
capital, assim como as melhores notas dos indicadores de liquidez e as melhores notas dos
indicadores de rentabilidade. Mesmo que alguma instituição de alguma região houvesse
apresentado nota abaixo do esperado, foram contatadas instituições com grandes notas na,
fazendo com que a região obtivesse bons resultados.
Fazendo-se um fechamento e relacionando os índices-padrão, as entidades que
apresentaram bons indicadores avaliados, sob a ótica dos índices-padrão, apresentaram as
melhores notas. Por este estudo, podem-se perceber algumas situações defendidas pelos
autores, em suas pesquisas, como o fato de que as entidades com grande participação de
capital de terceiros no curto prazo apresentam liquidez corrente comprometida. Esta situação
pode ser constatada neste trabalho, conforme se expôs no Gráfico 14. O fato de destinar
grande parte dos capitais próprios para o imobilizado faz com que faltem recursos para serem
aplicados em outras contas. Isso também pode ser constatado nesta pesquisa.
Como limitação para esta pesquisa têm-se que ela ficou restrita a avaliar as entidades
com base nos indicadores, sendo assim, não foram identificados os motivos pelos quais
alguma entidade apresentou tais resultados, assim como uma região apresentou resultado
diferente de outras. De acordo com a delimitação da pesquisa, não foi possível identificar as
causas dos resultados, e tão pouco as causas de uma região apresentar resultado diferente da
outra.
Outra limitação da pesquisa consiste em que não foram levados em conta os
planejamentos estratégicos das entidades, comparando os resultados com as metas de cada
entidade. Não foram considerados os aspectos econômicos, que envolveram o cenário de cada
instituição, ou região, o cenário econômico catarinense, ou a situação econômica do país.

128
Diante dessas limitações, propõem-se estudos, levando em consideração os resultados
apontados nesta pesquisa, considerando os motivos pelos quais uma região apresentou
resultado diferente, procurando qualificar estes aspectos regionais. Recomenda-se que sejam
feitos estudos, considerando os fatores externos que vêm influenciando a gestão universitária
catarinense, que, de certa forma, também influenciam nos resultados de cada instituição, e,
consequentemente, em cada região.

129
REFERÊNCIAS
AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2004.
ABREU, F. O. et al. Integração de sistemas no departamento contábil: um estudo com os prestadores de serviços contábeis no município de Itajaí/SC. Caderno Científico Ceciesa – Gestão, v.2, n.1, p. 125-135, 2016.
ACAFE. Disponível em < http://new.acafe.org.br/acafe/ >. Acesso em: 29 jan 2019.
AFONINA, A. Strategic management tools and techniques and organizational performance: Findings from the Czech Republic. Journal of Competitiveness, v. 7, n. 3, 2015.
ANDRADE, A. R. A universidade como organização complexa. Revista de negócios Blumenau, v. 7, n. 3, p. 3-65, abr/jul 2002.
ARAUJO, O. C.; ARAUJO, M. I. G. A determinação de indicadores de desempenho para organizações sociais: o caso do Instituto CENTEC no Estado do Ceará. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2005.
ASSAF NETO, A. Estrutura e Análise de Balanços. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1987.
ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: Um enfoque econômico-financeiro. 11. ed. São Paulo: Atlas 2018.
BACKES, N. A. et al. Indicadores contábeis mais apropriados para mensurar o desempenho financeiro das empresas listadas na BOVESPA. Revista eletrônica de estratégia & negócios, v. 2, n. 1, p. 117-135, 2009.
BARBOSA, H. M. A análise de demonstrativos financeiros como ferramenta para tomada de decisão nas micro e pequenas empresas. Scientia FAER, Olímpia-SP, v. 2, p. 32-52, 2010.
BOAS, Ana Alice Vilas; JONES, Graciela Dias Coelho. Planejamento financeiro e controle orçamentário: Um estudo de caso em uma empresa industrial. Revista Contemporânea de Economia e Gestão. V.3. n. 1, p. 25-34, 2005.
BOMFIM, P. R. C. M.; MACEDO, M. A. S.; MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Indicadores financeiros e operacionais para a avaliação de desempenho de empresas do setor de petróleo e gás. Revista Contabilidade, Gestão e Governança, v. 16, n. 1, 2013.
BORBA, J. A.; PEREIRA, R.; VIEIRA, E. M. F. Terceiro Setor: Aspectos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis das fundações privadas mantenedoras de universidades do Estado de Santa Catarina. ABCustos, v. 2, n. 2, 2007.
BOYD, H. W.; WESTFALL, R. Pesquisa mercadológica: texto e casos. 7.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1987.
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019.
BRASIL, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 jan 2019.
BRASIL, Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013. Dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de Educação Superior - ICES, disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências. Disponível em: <

130
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12881.htm>. Acesso em: 13 jan. 2019.
BRASIL, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis no 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 9.790, de 23 de março de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art85>. Acesso em 13 jan. 2019.
BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 13 jan. 2019.
BRASIL, Lei no 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm>. Acesso em: 13 jan. 2019.
BREITENBACH, M.; ALVES, T. W.; DIEHL, C. A. Indicadores financeiros aplicados à gestão de instituições de ensino de educação básica. Contabilidade vista & revista, v. 21, n. 3, p. 167-203, 2010.
BRESSAN, V. G. F. et al. Quais indicadores contábeis financeiros do Sistema PEARLS são relevantes para análise de insolvência das cooperativas centrais de crédito no Brasil. Contabilidade vista & revista, v. 25, n. 1, p. 74-98, 2014.
BRINCKMANN, J.; SALOMO, S.; GEMUENDEN, H. G. Financial management competence of founding teams and growth of new technology–based firms. Entrepreneurship theory and practice, v. 35, n. 2, p. 217-243, 2011.
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. Análise do desempenho econômico-financeiro e da criação de sinergias em processos de fusões e aquisições do mercado brasileiro ocorridos entre 1995 e 1999. REGE Revista de Gestão, v. 12, n. 2, p. 99-115, 2005.
CARNEIRO JUNIOR, J. B. A.; MARQUES, J. A. V. C. Planejamento financeiro a curto prazo: um estudo de caso da análise dinâmica do capital de giro aplicado a uma indústria têxtil, no período de 1999-2004. Pensar contábil, v. 7, n. 29, 2008.
CARVALHO, F. L.; NETO, S.B Indicadores de avaliação de desempenho econômico em cooperativas agropecuárias: um estudo em cooperativas paulistas. Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 10, n. 3, p. 420-437, 2008
CASTRO, C. M. Estrutura e apresentação de publicações científicas. São Paulo: McGraw-Hill, 1976. 70p
COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA, 19., 2019, Florianópolis. O patrimônio social e seus impactos nos indicadores de qualidade das universidades comunitárias catarinenses: uma investigação quantitativa sobre suas relações. Florianópolis: UFSC, 2019.
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. ITG 2002 (R1), de 21 de agosto de 2015. Disponível em: <

131
http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2015/ITG2002(R1)>. Acesso em: 13 jan. 2019.
COOPER, D. R; SCHINDLER, P. S. Método de pesquisa em Administração. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
COUTO, A. F. et al. A relevância da gestão financeira de curto prazo. Contabilidade Vista & Revista, v. 12, n. 3, p. 35-50, 2001.
COUTO, V. D.; FABIANO, D.; RIBEIRO, K. C. S. Gestão financeira de curto prazo: uma análise do comportamento das empresas do Ibovespa em resposta à crise econômica. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 16, n. 3, p. 46-64, 2012.
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2.ed. Porto Alegre: Artmed/ Bookman, 2007.
DA SILVA, L. C.; SOARES, S. V.; CASAGRANDE, M. D. H. Evidenciação contábil de entidades do terceiro setor: uma análise da conformidade das demonstrações contábeis da universidade do sul de santa catarina-unisul. ConTexto, v. 19, n. 43, 2019.
DEMING, D; GOLDIN, C.; KATZ, L. For-profit colleges. The future of children, p. 137-163, 2013.
DIAS SOBRINHO, J. Avaliação e transformações da educação superior brasileira (1995-2009): do provão ao SINAES. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, v. 15, n. 1, p. 195-224, mar. 2010.
DUARTE, H. C. F.; LAMOUNIER, W. M. Análise financeira de empresas da construção civil por comparação com índices-padrão. Enfoque: reflexão contábil, v. 26, n. 2, p. 09-28, 2007.
ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; PINTO, H. M. Processo de investigação e análise bibliométrica: Avaliação da qualidade dos serviços bancários. Revista de administração contemporânea, v. 17, n. 3, p. 325-349, 2013.
EVRARD, H. S.; CRUZ, J. A. W. Indicadores Financeiros e de Mercado Para Previsão do Retorno de Ações do Ibovespa Entre os Anos de 2003 e 2013 . Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 11, n. 1, p. 7-28, 2016.
FALAHATI, L. et al. Assessment of university students financial management skills and educational needs. African journal of business management, v. 5, n. 15, p. 6085-6091, 2011.
FANTI, L. D. et al. Análise dos principais indicadores contábeis e financeiros: Um estudo de caso sobre a Vale S/A nos anos de 2011 E 2012. Desafio Online, v. 4, n. 1, p. 100-116, 2016.
FERREIRA, A. B.; MARCHESINI, C. F. A contabilidade pública em face da padronização contábil. Revista científica semana acadêmica, v. 1, n. 5, p. 1-14, 2011.
FERREIRA, C. C.; MACEDO, M. A. S. Desempenho financeiro de curto prazo no setor brasileiro de Telecomunicações. Revista Pretexto, v. 12, n. 4, art. 4, p. 80-104, 2011.
FISCHMANN, Adalberto Américo; ZILBER, Moises Ari. Utilização de indicadores de desempenho para a tomada de decisões estratégicas: um sistema de controle. Revista de Administração Mackenzie (Mackenzie Management Review), v. 1, n. 1, 2000.

132
FLACH, L.; CASTRO, J. K.; MATTOS, L. K. Avaliação de desempenho financeiro de empresas brasileiras de energia a partir da análise fatorial e árvore de decisão. Revista eletrônica de estratégia & negócios, v. 10, n. 1, p. 201-225, 2017.
FRANCISCO, J. R. S. et al. Gestão financeira do segmento bancos como processo de tomada de decisão: aplicação do modelo dinâmico. Pensar contábil, v. 14, n. 55, p. 41-51, 2012
FREZATTI, F. Indicadores financeiros de longo prazo: comparação entre o retorno sobre o investimento e o lucro residual. Revista de Administração da Universidade de São Paulo, v. 36, n. 1, p. 35-45, 2001.
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GIMENES, R. T.; GIMENES, F. P. Análise dinâmica do financiamento das necessidades líquidas de capital de giro em cooperativas agropecuárias. Gestão & Planejamento-G&P, v. 1, n. 9, p. 129-150, 2008.
GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira – essencial. Tradução Jorge Ritter. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
GITMAN, L. J.; MADURA, J. Administração financeira: uma abordagem gerencial. São Paulo: Pearson: Addison Wesley, 2003.
GOMAA, M. I.; MARKELEVICH, A.; SHAW, L. Introducing XBRL through a financial statement analysis project. Journal of Accounting Education, v. 29, n. 2-3, p. 153-173, 2011.
GONÇALVES, H. S. et al. ANÁLISE DE INDICADORES DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR: ESTUDO DAS MELHORES ONGS DO BRASIL. Revista de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor, v. 5, n. 2, p. 764-780, 2019.
GRAZZIOLI, A. et al. Manual de procedimentos para o Terceiro Setor. Aspectos de gestão e de contabilidade para entidades de interesse social. Brasília: CFC: FBC: profis,2015.
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, E.; CASTRO, A. O. M. C. Administração financeira. São Paulo: Saraiva, 1998.
HAIR, Joseph et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
HAJDU, Z.; ANDREJKOVIČ, M.; MURA, L. Utilizing experiments designed results during error identification and improvement of business processes. Acta Polytechnica Hungarica, v. 11, n. 2, p. 149-166, 2014.
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: <http://inep.gov.br/sinaes>. Acesso em: 08 jan. 2019.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produto Interno Bruto dos Municípios. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?t=pib-por-municipio&c=4208203>. Acesso em: 17 jun. 2019.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Superior 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em: 17 jun 2019.
IUDÍCIBUS, S. Análise de Balanços. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
IUDÍCIBUS, S. Contabilidade Gerencial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1987.

133
JAHARA, R. C.; MELLO, J. A. V. B.; AFONSO, H. C. A. G. Proposta de índice-padrão e análise de performance financeira dos clubes brasileiros de futebol da série A, no Ano 2014. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, v. 5, n. 3, p. 20-40, 2016.
KASSAI, S. Utilização da análise por devolutória de dados (DEA) na análise de demonstrações contábeis. Tese Doutorado. Faculdade de Econômica, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo: USP, 2002.
KOCH, A. M. et al. Evidenciação contábil de entidades do terceiro setor: análise da conformidade das demonstrações contábeis de uma associação beneficente. REAVI-Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí, v. 7, n. 11, p. 85-102, 2018.
KORUTARO NKUNDABANYANGA, S. et al. Lending terms, financial literacy and formal credit accessibility. International Journal of Social Economics, v. 41, n. 5, p. 342-361, 2014. KOS, S. R.; ESPEJO, M. M. S. B.; RAIFUR, L.; ANJOS, R. P. Compreensão e utilização da informação contábil pelos micro e pequenos empreendedores em seu processo de gestão. Enfoque: Reflexão Contábil, v. 33, n. 3, p. 35-50, set./dez. 2014.
KRÜGER, L. M.; BORBA, J. A. ; SILVEIRA, D. Análise da conformidade das demonstrações contábeis das fundações privadas de saúde do estado de Santa Catarina. RIC-Revista de Informação Contábil, v. 6, n. 1, p. 01-22.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Fundamentos metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
LEE, P. T.W; LIN, C.W.; SHIN, S.H. A comparative study on financial positions of shipping companies in Taiwan and Korea using entropy and grey relation analysis. Expert Systems with Applications, v. 39, n. 5, p. 5649–5657, 2012.
LIMA, M. de et al. Autoavaliação de instituições de educação superior: Exame de dificuldades organizacionais e gerenciais. Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), n. 10, 2013.
LUCENTE, A. R.; BRESSAN, P. E. R. Análise de índices financeiros: Estudo de caso do Sport Club Corinthians Paulista, no período de 2008 a 2013. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, v. 4, n. 3, p. 185-196, 2015.
LÜCKMANN, L. C.; CIMADON, A. A dimensão pública das instituições de educação superior comunitárias. Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 7, n. 12, p. 67-80, jan./jun. 2015.
LUZ, E. R. Indicadores tradicionais de liquidez e de rentabilidade: Um estudo comparativo da média setorial das empresas brasileiras nos anos 2000 a 2010. Revista ADMPG, v. 6, n. 2, 2013.
MACEDO, M.A. S.; CORRAR, L. J. Análise do desempenho contábil-financeiro de seguradoras no Brasil, no ano de 2007: um estudo apoiado em Análise Hierárquica (AHP). Contabilidade Vista & Revista, v. 21, n. 3, p. 135-165, 2010.
MARION, J. C. Análise das demonstrações contábeis. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2012.
MARTINS, E. ; MIRANDA, G. J.; DINIZ, J. A. Análise didática das demonstrações contábeis. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
MATARAZZO, D. C. Análise financeira de balanços: Abordagem gerencial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
MEIRELLES JÚNIOR, J. C.; SÁ, L. P. Gestão financeira de curto prazo. Revista Mineira de Contabilidade, v. 2, n. 30, p. 6-14, 2008.

134
MEYER JR, V; PASCUCCI, L.; MANGOLIN, L. Gestão estratégica: um exame de práticas em universidades privadas. Revista de Administração Pública-RAP, v. 46, n. 1, p. 49-70, 2012.
MEYER JÚNIOR, V. Planejamento universitário: ato racional, político ou simbólico-um estudo de universidades brasileiras. Revista Alcance, v. 12, n. 3, p. 373-389, 2005.
MEYER JUNIOR, V; LOPES, M. C.(2004). Planejamento e estratégia: um estudo de caso em universidades brasileiras [CD-ROM]. Anais do Congresso da Sociedade Latino-Americana de Estratégia, 12. Itajaí: Univali.
MICHALSKI, G. Value maximizing corporate current assets and cash management in relation to risk sensitivity: Polish firms case. Economic computation and economic cybernetics studies and research, v. 48, n. 1, p. 259-276, 2014.
MOREIRA, R. L. et al. A importância da informação contábil no processo de tomada de decisão nas micro e pequenas empresas. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 10, n. 12, p. 119-140, 2013.
MURA, L. et al. Quantitative financial analysis of small and medium food enterprises in a developing country. Transformations in business & economics, v. 14, n. 1, 2015.
NUERNBERG, E. G. et al. Gestão Universitária: identificação e análise dos indicadores utilizados na literatura. 2017.
PADOVEZE, C. L. Sistemas de informações contábeis. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
PADOVEZE, C. L.; BENEDICTO, G. C.; LEITE, J. S. J. Manual de Contabilidade Internacional, IFRS – US Gaap – BR Gaap, teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
PAIM, J. Q. Contribuições das universidades comunitárias de Santa Catarina para o desenvolvimento regional na sociedade do conhecimento. 2017. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Mestrado da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico. Criciúma, 2017.
PEREZ JÚNIOR, J. H.; BEGALLI, G. A. Elaboração das demonstrações contábeis. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
PHILIPPE, F.; FELICIANO, J. B.; DA SILVA, L. H. G. Evidenciação contábil de entidades do terceiro setor: análise da conformidade das fundações do sistema Acafe. 2017.
PIZA, S. C. T. et al. A aderência das práticas contábeis das entidades do terceiro setor às normas brasileiras de contabilidade: um estudo multicaso de entidades do município de São Paulo-SP. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 17, n. 3, p. 78-97, 2013.
RAJNOHA, R. et al. Business intelligence as a key information and knowledge tool for strategic business performance management. Economics and management, v. 01, p. 001-013, 2016.
REHBEIN, Airton Roberto; ENGELMANN, Daniel; GONÇALVES, Odair. Índices-padrão: uma ferramenta para contabilidade regulatória. Conselho Superior da Agergs, v. 90, p. 77, 2008.
RIBEIRO, C. A.; LEITE FILHO, G. A. Perfil econômico-financeiro das companhias energéticas brasileiras: análise da liquidez no período de 1998 a 2000. Contabilidade Vista & Revista, v. 14, n. 2, p. 145-162, 2003.

135
RIBEIRO, M. G. C.; MACEDO, M. Á. S.; MARQUES, J. A. V. C. Análise da relevância de indicadores financeiros e não financeiros na avaliação de desempenho organizacional: um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 6, n. 15, p. 60-79, 2012.
ROLIM, C.; KURESKI, R. Impacto econômico de curto prazo das universidades estaduais paranaenses-2004. Revista Paranaense de Desenvolvimento-RPD, n. 112, p. 111-130, 2011.
ROLIM, C.; SERRA, M. Ensino superior e desenvolvimento regional: avaliação do impacto econômico de longo-prazo. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, v. 3, n. 1, 2009.
ROSA, P. S.; GARTNER, I. R. Financial distress em bancos brasileiros: um modelo de alerta antecipado. Revista Contabilidade & Finanças, v. 29, n. 77, p. 312-331, 2018.
SANTA CATARINA. Orientação técnica contábil CIP N. 003. Disponível em: <http://portal.mp.sc.gov.br/portal/instituicao/centros-de-apoio-operacional/direitos-humanos-e-terceiro-setor/terceiro-setor.aspx>. Acesso em: 13 jan. 2019.
SANTOS, D. F. L. Modelo de gestão financeira aplicada em empresa do setor de construção civil. Tecnologias de Administração e Contabilidade, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 119-135, 2015.
SANTOS, L. M.; FERREIRA, M. A. M.; FARIA, E. R. Gestão financeira de curto prazo: características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Revista de Administração Unimep, v. 7, n. 3, p. 70-92, 2009.
SCHMIDT, J. P. O comunitário em tempos de público não estatal. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, v. 15, n. 1, p. 9-39, 2010.
SCHOBEL, K; SCHOLEY, C. Balanced Scorecards in education: focusing on financial strategies. Measuring Business Excellence, v. 16, n. 3, p. 17-28, 2012.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Estatísticas e indicadores socioeconômicos e tributários referentes a municípios catarinenses. <http://www.sef.sc.gov.br/transparencia/relatorio/31/Estat%C3%ADsticas_e_Indicadores_-_Munic%C3%ADpios>. Acesso em: 16 jun. 2019.
SILVA, A. et al. Análise exploratória de indicadores de desempenho. RACE-Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 18, n. 1, p. 157-176, 2019.
SILVA, F. P. M. Tomada de decisão financeira: aplicando o processo orçamentário. Revista Administração em Diálogo, v. 14, n. 3, p. 1-23, 2012.
SILVA, J. P. Análise financeira das empresas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
SILVA, T. D.; MIRANDA, G. J. Os indicadores relativos à Gestão do Capital de Giro antes e depois da adoção dos Padrões Internacionais de Contabilidade no Brasil. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, v. 10, n. 3, p. 258-271, 2016.
SILVA, W. A. C.; COSTA, L.O. Modelo de decisão financeira em cluster econômico. Revista de Economia e Administração, v. 2, n. 1, 2003.
SILVEIRA, D. Evidenciação contábil de fundações privadas de educação e pesquisa: uma análise da conformidade das demonstrações contábeis de entidades de Santa Catarina. 2007. Dissertação (mestrado em contabilidade). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

136
SOLTES, V.; GAVUROVA, B. Modification of performance measurement system in the intentions of globalization trends. Polish Journal of Management Studies, v. 11, 2015.
SOUZA, A. A. et al. Análise financeira de hospitais: um estudo sobre o hospital metropolitano de urgência e emergência. Revista Evidenciação contábil & finanças, v. 1, n. 2, p. 90-105, 2013.
SOUZA, A. A. et al. Indicadores de desempenho econômico-financeiro para hospitais: um estudo teórico. RAHIS-Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, v. 3, n. 2, p. 44-55, 2009.
TAVARES, A. L.; SILVA, C. A. T. A análise financeira fundamentalista na previsão de melhores e piores alternativas de investimento. Revista Universo Contábil, v. 8, n. 1, p. 37- 52, 2012.
TEIXEIRA, N. M. D.; AMARO, A. G. C. Avaliação do desempenho financeiro e da criação de valor–um estudo de caso. Revista Universo Contábil, v. 9, n. 4, p. 157-178, 2013.
TELES, J.; GOMES, R. K.; LUNKES, R. J. Utilização de indicadores de desempenho financeiros em hotéis no sul do Brasil. Turismo-Visão e Ação, v. 15, n. 3, p. 354-366, 2013.
TRIVIÑOS, A. N. S. A pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.
VIEIRA, E. M. M. et al. Melhores grupos de índices e demonstrações contábeis para análise da situação econômico-financeira das empresas na percepção de analistas do mercado de capitais. Contabilidade, Gestão e Governança, v. 17, n. 3, 2014.
YIN, R. K. Pesquisa qualitativa: do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016.