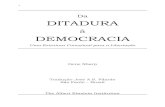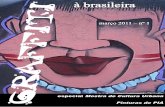Ambientes Educacionais Distribuídos: A Web moderna na Educação
AMetaFisicadeArthurSchopenhauer
-
Upload
daniela-gomes -
Category
Education
-
view
55 -
download
2
description
Transcript of AMetaFisicadeArthurSchopenhauer
- 1. A METAFSICA DO BELO DE ARTHUR SCHOPENHAUER
2. Humanitas FFLCH/USP fevereiro 2001 UNIVERSIDADE DE SO PAULO Reitor: Prof. Dr. Jacques Marcovitch Vice-Reitor: Prof. Dr. Adolpho Jos Melfi FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS Diretor: Prof. Dr. Francis Henrik Aubert Vice-Diretor: Prof. Dr. Renato da Silva Queiroz CONSELHO EDITORIAL DA HUMANITAS Presidente: Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento (Filosofia) Membros: Profa . Dra . Lourdes Sola (Cincias Sociais) Prof. Dr. Carlos Alberto Ribeiro de Moura (Filosofia) Profa . Dra . Sueli Angelo Furlan (Geografia) Prof. Dr. Elias Thom Saliba (Histria) Profa . Dra . Beth Brait (Letras) Vendas LIVRARIA HUMANITAS/DISCURSO Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 Cid. Universitria 05508-900 So Paulo SP Brasil Tel.: 3818-3728 / 3818-3796 e-mail: [email protected] http://www.fflch.usp.br/humanitas Capa: TURNER, J. M. W. Iate a aproximar-se da costa, cerca de 1835-1840. leo sobre tela, 102 x 142 cm. Londres: The Tate Gallery. Repro- duzido de: BOCKEMHL, M. J. M. W. Turner: o mundo da luz e da cor. Kln: Benedikt Taschen, 1993. FFLCH FFLCH/USP 3. 2001 UNIVERSIDADE DE SO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS JAIR BARBOZA A METAFSICA DO BELO DE ARTHUR SCHOPENHAUER ISBN 85-7506-012-0 4. Copyright 2001 da Humanitas FFLCH/USP proibida a reproduo parcial ou integral, sem autorizao prvia dos detentores do copyright Servio de Biblioteca e Documentao da FFLCH/USP Ficha catalogrfica: Mrcia Elisa Garcia de Grandi CRB 3608 Este trabalho recebeu o apoio financeiro da FAPESP B239 Barboza, Jair A metafsica do belo de Arthur Schopenhauer / Jair Barboza. - So Paulo: Humanitas / FFLCH / USP, 2001. 146 p. Originalmente apresentada como Dissertao (Mestrado - Faculda- de de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, 1995). ISBN 85-7506-012-0 1. Schopenhauer, Arthur 2. Plato 3. Kant, Immanuel 4. Artes 5. Belo I. Ttulo CDD 193.7 HUMANITAS FFLCH/USP e-mail: [email protected] Tel./Fax: 3818-4593 Editor responsvel Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento Coordenao editorial, projeto M Helena G. Rodrigues MTb n. 28.840 Capa Diana Oliveira dos Santos Diagramao Marcos Eriverton Vieira Reviso autor/Claudenice Vinhote Costa 5. Sumrio Abreviaturas ...................................................................................... 7 Introduo......................................................................................... 9 1 A Efetividade .......................................................................... 15 1.1 A representao ....................................................................... 15 1.2 Princpio de razo do devir e corpo ...................................... 17 1.3 Sensao e percepo .............................................................. 26 2 Vontade e Idia...................................................................... 29 2.1 Transio para o Em-si .......................................................... 29 2.2 As Idias.................................................................................... 43 3 Idia e Negao da Vontade ............................................. 53 3.1 O modo de conhecimento esttico ....................................... 53 3.2 Genialidade ............................................................................... 65 3.3 Genialidade e loucura.............................................................. 70 3.4 Os sentimentos do belo e do sublime .................................. 76 4 Hierarquia das Artes............................................................ 93 4.1 Arquitetura................................................................................ 93 4.2 Escultura e pintura ................................................................ 101 4.3 Poesia....................................................................................... 114 6. 6 NATALIA MARUYAMA 5 A Msica ............................................................................... 125 5.1 Linguagem direta do Em-si .................................................. 125 5.2 Msica e mundo..................................................................... 133 Concluso...................................................................................... 137 Bibliografia citada......................................................................... 143 7. 7BIBLIOGRAFIA Abreviaturas Schopenhauers Smtliche Werke (SW), 7 Bnde, Wiesbaden, F.A.Brockhaus, 1972. Edio de Arthur Hbscher. G = ber die vierfache Wurzel des Satzes vom zurreichenden Grunde, SW I. W = Die Welt als Wille und Vorstellung, SW II. Erg. = Die Welt als Wille und Vorstellung, Band II (Ergnzungen), SW III. E = Die beiden Grundprobleme der Ethik, SW IV. N = ber den Willen in der Natur, SW IV. P = Parerga und Paralipomena, I/II, SW V/VI. HN = Schopenhauer, A. Der Handschriftliche Nachlass, 5 Bnde, Mnchen, Deutscher Taschenbuch, 1985. Edio de Arthur Hbscher. KdU = Kant, I. Kritik der Urteilskraft. In: Werkausgabe, Suhrkamp, 1990, v. X. 8. INTRODUO 9 Introduo As linhas que se seguem propem o exame da metafsica do belo de Arthur Schopenhauer. Metaphysik des Schnen uma expresso do prprio filsofo e delimita um projeto de compreen- so daquilo que tem sua realidade para alm do fenmeno, apare- cendo aos olhos de um sujeito, puro, como beleza artstica ou natural, expressivas de uma Idia. No designa o conhecimento de entidades extramundanas, que ultrapassam os fenmenos, ao contrrio, uma meditao que se pretende ancorada no solo fir- me da experincia, recorrendo a contedos intelectuais que mos- tram algo, intuvel, atrs da natureza, que a possibilita. O princ- pio de razo (nada , sem uma razo pela qual ) a tudo explica, todavia encontra o seu limite na resposta ao por que (Warum) das coisas, no fornecendo o que (Was) das mesmas; quando entra em cena o meta-fsico, suprime sua explicao e penetra na com- preenso intuitiva do ncleo daquilo que fsico; ora, a metafsica do belo de Schopenhauer ser justamente a que se ater abertu- ra esttica para o ntimo das coisas, que apontar os arqutipos brilhosos dos quais a realidade fenomnica turvado ctipo. A esttica propriamente dita pensada por ele mais relacionada a normas para o bem-fazer artstico (fadadas, sempre, ao insucesso, pois se at hoje ningum se tornou um nobre carter pelo estudo da tica, do mesmo modo nunca se produziu um gnio pelo estu- do da esttica). Quando lecionava em Berlim, no ano de 1820, alertava os seus alunos: Esttica ensina o caminho atravs do 9. JAIR BARBOZA10 qual o efeito do belo atingido, d regras arte, segundo as quais ela deve produzir o belo. Metafsica do belo, entretanto, investiga a essncia ntima da beleza, tanto em relao ao sujeito, que pos- sui a sensao do belo, quanto em relao ao objeto, que a ocasio- na.* Mas nossas linhas querem ir alm do mero exame de uma metafsica; ao mesmo tempo adotam um eixo: a Idia, o belo en- quanto negao da Vontade. Como a arte exposio de Idias, isso implica que a abordagem dela ser o principal satlite a girar em torno desse eixo; ela ser mostrada, nos seus diversos ramos, como negao da Vontade, de modo que ao final ficar claro para o leitor como o gnio o correlato do asceta, como toda genuna vivncia do belo um momento beatfico, de iluminao. Ao lado disso, queremos ainda evidenciar que o autor de O Mundo... cons- tri a sua metafsica trilhando as sendas abertas por Kant na pri- meira parte da Crtica da Faculdade de Juzo, mormente por via das noes de gnio e sublime, de modo que sua filosofia do belo sai da terceira crtica como um galho do tronco. J Nietzsche delineia alguns dos principais conceitos do seu pensamento aproveitan- do-se de uma oposio, por assim dizer, criativa a Schopenhauer. o caso da arte como excitante da vontade de potncia, da afir- mao desta vontade pelo belo, da possibilidade de uma existn- cia trgica: conceitos estabelecidos, nos seus traos marcantes, por inverso de teses de O Mundo... Quanto disposio dos captulos, na medida em que a Idia representao independente do princpio de razo, fez-se mister tratarmos do outro dela, do fenmeno, da representa- o submetida ao princpio de razo, da o captulo 1 dedicado * SCHOPENHAUER, A. Metaphysik des Schnen. Mnchen: Piper, 1985. p. 37. Edio de Volker Spierling a partir das Philosophische Vorlesungen (1820). 10. INTRODUO 11 efetividade. No , todavia, suficiente tratar da efetividade para se ter acesso Idia, requer-se ainda a exposio do mtodo que Schopenhauer adota para estabelecer o conceito de Vontade en- quanto Em-si do mundo, do qual provm as Idias, ditas atos originrios da Vontade; da, ento, a justificativa para o captulo 2, que trata da transio para o Em-si csmico e, em seguida, do retorno para o fenmeno atravs da Idia. assim que se aplana definitivamente o terreno para adentrarmos, pelos captulos 3, 4 e 5, no objeto desta dissertao, a qual privilegia o terceiro livro de O Mundo... . * * * Este texto foi originalmente concebido como dissertao de mestrado, defendida na USP. A meus primeiros leitores, seve- ros e benevolentes, os meus agradecimentos: Maria Lcia Cacciola, Franklin Leopoldo e Silva, Osvaldo Giacia Jr. 11. INTRODUO 13 Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Sria a vida, jovial a arte. SCHILLER 12. A EFETIVIDADE 15 1 A Efetividade 1.1 A representao O mundo minha representao. Eis a frase de abertura de O Mundo... Ponto de partida de uma filosofia concebida na juventude, mais precisamente entre os 20 e 26 anos de idade, com ela, Scho- penhauer pretende desviar-se de duas correntes filosficas, ao seu ver falhas e dogmticas, explicativas da marcha do conhecimento. De um lado o realismo abrangendo materialistas, eleatas, espinoseanos, pitagricos, escolsticos e filosofia chinesa do Y- King 1 , que coloca o objeto como ponto de partida e dele deduz o sujeito, seu efeito; de outro o idealismo, representado por Fichte 2 , que coloca o sujeito como ponto de partida, dele deduzindo o objeto, por sua vez efeito. De ambos estes erros, opostos entre si, diferencia-se o nosso procedi- mento toto genere, conquanto no partimos do objeto nem do sujeito, mas da representao como primeiro fato (Thatsache) da cons- cincia, cuja forma primeira fundamental, mais essencial, a diviso em objeto e sujeito, a forma do objeto sendo o princpio de razo... (W #7 40) 1 Cf. W #7 37. 2 Cf. W #7 38. 13. 16 JAIR BARBOZA O ponto de partida de Schopenhauer, pois, a representao como primeiro fato da conscincia. Representao a ter por forma primeira e mais essencial a diviso em objeto e sujeito; mas diviso no no sentido de novamente, pelas portas do fundo, reintroduzir- se a teoria de que objeto e sujeito sejam partes tiradas uma da outra, como pretendiam faz-lo realista e idealista, e sim de que h uma ntida fronteira demarcando a ambos, portanto h domnios dife- rentes, irredutveis: onde comea o objeto termina o sujeito, onde comea o sujeito termina o objeto. Contudo, de uma outra pers- pectiva, um termo no pode ser pensado sem o outro. Estas duas metades so...inseparveis, mesmo para o pensamento, pois cada uma delas tem sentido e existncia apenas para e atravs da outra; so e cessam de ser conjuntamente.3 Ser-objeto significa ser conhe- cido por um sujeito. Ser-sujeitosignifica ter um objeto. Estamos diante de uma ligao analtica. Acontece que, em certo momento, Schopenhauer equipara as noes de ser-objeto e ser-representa- o: Ser-objeto para um sujeito e ser nossa representao o mes- mo.4 Ora, por que fazer pender a representao para um lado se h um outro imprescindvel que a define, o sujeito? ... que o registro muda. A princpio o fato primeiro e mais essencial de que h uma conscincia que representa. Mas, exami- nando-o mais de perto, descobre-se quatro classes de sub-repre- sentaes, a elas correspondendo quatro figuras especficas do princpio de razo: exatamente no mbito dessas classes que funciona a sinonmia ser-objeto/ser-nossa-representao. Entre- tanto, questione-se: (a) se ser-objeto significa ser-nossa-represen- tao, cuja forma o princpio de razo, (b) e, ainda, se ser-objeto significa ser-conhecido-por-um-sujeito, ento por que o princpio 3 W #2 6. 4 G #16 27. 14. A EFETIVIDADE 17 de razo no sinnimo de sujeito, indicando-se assim a plurali- zao do mesmo, ou seja, quatro classes de sujeito corresponden- do a quatro classes de representao? Argumentao perigosa. Se isto acontecesse, uma interfe- rncia para o futuro pano de fundo da unidade da Vontade, angu- lar no pensamento do filsofo, estaria criada. Seria uma pluraliza- o do sujeito que no se coaduna com o que chamar de puro sujeito do conhecimento, suporte do mundo, guardando em si a unidade originria da Vontade. como se, implicitamente, a unidade da Vontade e o puro sujeito do conhecimento atuassem de antemo na teoria do conhecimento, proibindo Schopenhauer de apontar no primeiro livro de O Mundo... quatro classes de sujei- to, embora admita quatro figuras do princpio de razo... Muito pelo contrrio, o sujeito no est no espao nem no tempo, est sempre, indivisvel, em cada ser que representa.5 Da podermos designar o princpio de razo de forma da conscincia, em vez de correlato absoluto do sujeito. 1.2 Princpio de razo do devir e corpo Em funo deste livro, interessa-nos, num primeiro mo- mento, a figura do princpio de razo do devir, na medida em que as representaes por ele regidas, as intuitivas, serviro de con- traste para melhor compreendermos a noo de Idia, ncleo da metafsica do belo schopenhaueriana; alm do que, toda outra classe de representaes, de algum modo, reporta-se a esta pri- meira, j que todo o mundo da reflexo estriba sobre o intuitivo como o seu fundamento do conhecer. (W #9 48-9) 5 W #2 6. 15. 18 JAIR BARBOZA Na sua acepo, a mais global, o princpio de razo reza que Nihil est sine ratione cur potius sit, quam non sit (nada , sem uma razo pela qual ), frmula tomada de emprstimo a Wolf. 6 Ele, princpio, pode explicar tudo no mundo fenomnico, porm no passvel de nenhuma explicao e nem necessita, tal exigncia implicando j a pressuposio dele e de sua validade. Procurar uma prova especial para o princpio de razo uma absurdez que denota ausncia de clareza de conscincia (Beson- nenheit) ... Quem exige para ele uma prova, isto , apresenta- o de um fundamento, j o pressupe como verdadeiro, sim, baseia a sua exigncia justamente sobre essa pressuposio. E assim cai no crculo que exige uma prova do direito de exigir uma prova.7 O princpio de razo do devir, especificamente, fornece as razes das representaes intuitivas, em constante vir-a-ser. Cons- tituem-no o tempo, o espao e a causalidade. Aproveitou-se de Kant as formas dos sentidos externo e interno somadas catego- ria de causalidade (as outras sendo rejeitadas como janelas ce- gas). Porm, diferena do filsofo de Knigsberg, ocorre uma fisiologizao contundente dos elementos do conhecer, e o a priori da filosofia transcendental transforma-se em inatismo, o entendi- mento em crebro. 6 G #5 5. 7 G #14 24. Eis um veio de irracionalidade irrompendo da racionalidade. Aquilo que tudo explica inexplicvel. A maior clareza assenta-se na escurido. O que constitui um movimento de exposio semelhante ao de Hume quando afirma que o hbi- to, sobre o qual repousa a causalidade pilastra mestra da cincia instinto enrai- zado na animalidade, a racionalidade cientfica sendo no fundo irracional (Cf. Investi- gao sobre o Entendimento Humano, Seo V, Parte I). 16. A EFETIVIDADE 19 A existncia j pronta dessas formas, anterior a toda experincia, constitui justamente o intelecto. Fisiologicamente ele uma funo do crebro, que to pouco aprendida da experincia como a digesto estomacal ou a secreo biliar. 8 no crebro, ou entendimento, que ocorre a construo do complexo da realidade emprica mediante ligao de represen- taes intuitivas. Em convergncia com Kant o fato de que as formas a priori do conhecimento s permitirem o acesso ao fen- meno (so meramente o modo universal da sua apario), jamais coisa-em-si. Agora, quais os passos da construo? Que ferramentas esto envolvidas? Para uma resposta ser preciso recorrermos noo de corpo (Leib). Se o ponto arquimediano encontrado por Descartes para erguer o mundo era o cogito, estabelecendo a seguir uma dualidade corpo/alma, com posterior primado da substncia pensante sobre a extensa; em Schopenhauer, o corpo como uni- dade orgnica, sem distino corpo/alma, mas sim corpo/inte- lecto, no implicando isto que ambos estejam strictu sensu aparta- dos, pois so expresso de um mesmo Em-si. , na verdade, um ponto de partida que se insere no projeto maior da defesa do primado da vontade, ncleo do corpo, sobre o intelecto. 8 G #21 57. Segundo Harald Schndorf, esta fisiologizao do conhecimento j se encontra nas prelees da Universidade de Berlim do malfadado ano de 1820, quando Schopenhauer lecionou num mesmo horrio que o de Hegel, coqueluche da poca: J nos manuscritos de suas Prelees Schopenhauer comea a empregar material das cincias naturais com o fito de ilustrar sua doutrina, comeando a viragem para o fisiolgico, quando, por exemplo, formula: e esta existncia pronta justamente o intelecto; (para me expressar empiricamente) a funo fisiolgica do crebro que ele to pouco aprende quanto a digesto estomacal ou a secreo biliar, pelo contrrio, nele radica originariamente. Der Leib im Denken Schopenhauers und Fichte. Mnchen: Johannes Berchmans, 1982. p. 233. 17. 20 JAIR BARBOZA O corpo, portanto, aqui para ns objeto imediato, isto , aquela representao que constitui, para o sujeito, o ponto de partida do conhecimento, conquanto ela mesma, com suas modificaes ime- diatamente cognoscveis, precede o uso da lei da causalidade e, ento, fornece para esta os primeiros dados. (W #6 22-3) O corpo objeto imediato, ou seja, um mero conjunto de sensaes dos sentidos superiores (viso, audio e tato), ad- vindas da ao dos outros corpos sobre si. Nesta medida que ponto de partida do conhecimento, fornecendo para a lei da causalidade os primeiros dados; inclusive fornece dados acerca de si mesmo, no momento em que os olhos vem suas partes e as mos o tocam, quando passa a ser, igual aos outros, objeto mediato, o que nos autoriza a declar-lo objeto imediato e mediato do co- nhecimento ao mesmo tempo. Assim, ser objeto imediato do co- nhecimento no significa que o corpo a primeira e mais fcil figurao do entendimento, mas um carrefour de sensaes ainda cegas, passveis de transformao em objetos do mundo. ...conquanto diga que o corpo imediatamente conhecido, obje- to imediato, no aqui para se tomar o conceito de objeto (Objekt) em nenhum momento no seu sentido estrito, pois atravs deste conhe- cimento imediato do corpo que precede o uso do entendimento e mera sensao dos sentidos , o corpo mesmo no se posiciona pro- priamente como objeto, mas, primeiro, os outros corpos (Krper) que atuam sobre ele ... (W #6 23) Deve-se compreender essa mera sensao dos sentidos nomeada acima por Schopenhauer como sentimento orgnico, corpreo-animal, e diferente do Gefhl (sentimento mais ligado vontade enquanto ntimo do corpo, importantssimo na transio 18. A EFETIVIDADE 21 para o Em-si csmico). So sensaes cambiveis, tecendo um meio para algo outro, o mundo externo; s que, em dado mo- mento, acende-se a conscincia deste meio enquanto uma espcie de substrato daquilo que aparece e, ento, inicia-se o desenho da figura corporal singularizada, dotada de mos, braos, pernas, ps etc. Por conseguinte, o corpo (Leib) torna-se conhecido como objeto em sentido estrito isto , como representao intuitiva no espao, justa- mente como qualquer outro objeto , mediatamente, atravs do uso da lei da causalidade no atuar de uma de suas partes sobre as outras, portanto na medida em que o olho v o corpo, a mo o toca. (W #6 24) At mesmo as mos e os olhos, singularmente, podem ser tomados como objetos imediatos e mediatos do conhecimento ao mesmo tempo: enquanto a mo toca e auxilia na construo dos outros objetos objeto imediato, enquanto vista e tocada, situada espacialmente, objeto mediato; j os olhos, quando vem, so objetos imediatos, tocados so mediatos. Desse modo, o en- tendimento, trabalhando com os dados sensrios fornecidos por toda essa imediatez do corpo, aplica-lhes suas formas apriorsticas, inatas, e obtm a realidade emprica, entrelaamento de represen- taes intuitivas. Caso contrrio, sem ele, entendimento, no ha- veria um mundo externo, posto que, nela mesma, uma sensao des- tituda de forma um presente no s intil como cruel da natu- reza: nada diz de si, no tem nenhuma referncia que a qualifique, nada porta em termos de imagem: Que coisa pobre uma mera sensao dos sentidos! Mesmo no mais nobre dos sentidos [a viso] ela no nada outra seno uma al- 19. 22 JAIR BARBOZA terao local, especfica, apropriada ao seu modo, todavia em si mes- ma sempre sentimento subjetivo, que, enquanto tal, no pode conter nada de objetivo, portanto nada de semelhante a uma intuio. (G #21 52) A sensao nua e crua ainda no representao intuitiva. Quando o corpo a recebe comea todo um processo de engenha- ria mental, automtico, sem interveno calculada do sujeito, e que resulta num objeto. O Schopenhauer dos Suplementos, no seu apego fisiologia, dir que tal processo uma complexa ativida- de fisiolgica no crebro de um animal ao fim da qual se tem a conscincia de uma imagem.9 Portanto, a representao intuitiva s o se perceptvel. A perceptibilidade da mesma se d pela matria. A matria, sozinha, no transforma a sensao em intui- o. Sero necessrios ainda o espao e o tempo. O espao posi- ciona o objeto e o tempo permite a alterao dos seus estados. Se o espao fosse a nica forma das representaes, no se daria nenhuma mudana, pois a mudana, ou alterao, sucesso de estados, e a sucesso s possvel no tempo; tudo seria imvel, inflexvel, ausncia total de um efetivar-se (Wirken) por con- seguinte, de matria, j que a essncia da matria precisamente o efetivar-se.10 Por outro lado, fosse o tempo a nica forma das representaes, no haveria permanncia, nem contigidade, nem simultaneidade; no haveria durao, por conseguinte, de novo, nada de matria.11 o espao unido ao tempo que possibilita o 9 Erg. #18 214. 10 No mero espao o mundo seria rgido e imvel: nenhuma sucesso, nenhuma mudana, nenhum efetivar-se (Wirken): e sem o efetivar-se, suprime-se tambm a representao da matria (W #4 12). 11 No mero tempo, por sua vez, tudo seria fugaz: nenhuma permanncia, nenhuma contigidade, portanto, nenhuma simultaneidade, logo nenhuma durao, e de novo nenhuma matria (W #4 12). 20. A EFETIVIDADE 23 permanente, o contguo, o simultneo, o durvel, e mesmo o mutvel. Aquilo a apresentar-se como unio dessas formas no intelecto a causalidade, ou matria no seu efetivar-se.12 Matria que concilia as caractersticas contraditrias do espao e do tem- po (invarincia e sucesso) ao mostrar-se como permanncia da substncia na mudana dos acidentes13 , implicando isso um n grdio impossvel de ser desatado em nvel fenomnico. Resulta- do: a intuio emprica schopenhaueriana um produto do arte- so entendimento: servindo-se da causalidade, ele considera a sen- sao dada ao corpo um efeito e, auxiliado pelo tempo, procura a sua causa; nela chegando, e agora servindo-se do espao, posicio- na-a como objeto, como figura na conscincia. Se a sensao fos- se totalmente abandonada aos sentidos, e como nada diz de si, cega, ento ter-se-ia uma coleo de acontecimentos subcutne- os, sem significao alguma: da o pensamento schopenhaueriano defender a tese de que a intuio emprica intelectual, visto que concluso do entendimento (Verstandschluss). Obviamente, o sentido aqui de intelectual no aquele dos idealistas alemes. contra os mesmos que o filsofo descarrega toda uma custica e irnica verve. No a razo que intui, impotente para dar algo a partir de si mesma. S depois do trabalho do entendimento, ela, depuran- do o intudo, pode dar alguma coisa, os conceitos. A razo me- ramente uma faculdade de abstrao, de natureza feminil: s pode dar depois de ter recebido.14 Querer entroniz-la, considerando- a uma dadivosa em termos cognoscitivos , para Schopenhauer, 12 ...toda a essncia da matria... nada outra seno causalidade... (W #4 10). 13 A matria resulta da unio de tempo e espao, isto , a possibilidade do ser- simultneo e, da, da durao, atravs da qual a substncia permanece na mudana dos seus estados (W #4 12). 14 W #10 59. 21. 24 JAIR BARBOZA 15 In: Sobre a Filosofia Universitria. So Paulo: Polis, 1991. p. 43. 16 Op. cit., p. 90-1. signo de uma astcia que aspira a ressuscitar a prova cosmolgica, cujo obiturio fora escrito por Kant, e, em seguida, a restaurar o reinado da teologia sobre a filosofia. que a razo, todo-podero- sa, veria (intuiria) independentemente da experincia. Shelling, inclusive, quando foi lecionar em Berlim, parecia at trazer no bolso Deus em pessoa.15 importante assinalarmos essa polmica porque Scho- penhauer, apesar de admitir uma intuio intelectual, procura no violar a proibio kantiana da Esttica Transcendental de que a mesma vedada ao sujeito, sendo-lhe acessvel apenas a emprica; a sua intuio intelectual meramente por ser efetuada pelo inte- lecto, que se define enquanto funo do crebro, por sua vez si- nnimo de entendimento exclusivamente ocupado com a empi- ria. J os idealistas, no seu modo de ver, defenderiam uma intui- o intelectual supra-sensvel, da razo, a dar acesso ao absoluto, ao bom Deus. Eles, sim, teriam violado a proibio kantiana: No ajuda em nada que Kant tenha provado, com o emprego da mais rara acuidade e penetrao, que a razo terica no pode jamais alcanar objetos que esto fora da possibilidade de toda experincia: esses senhores nem ligam para isso; sem cerimnia ensinam h cinqenta anos que a razo tem conhecimentos abso- lutos e imediatos, que uma faculdade dotada, de nascena, para a metafsica, e que, acima de toda possibilidade da experncia, reco- nhece imediatamente e apreende com segurana o assim chamado supra-sensvel, o absolutum, o bom Deus e tudo o mais que da decorre.16 22. A EFETIVIDADE 25 Tendo em mira os idealistas, procurando sempre manter-se fiel aos limites da experincia assinalados por Kant para a facul- dade de conhecimento, Schopenhauer arrola uma srie de exem- plos visando a corroborar a sua tese da intelectualidade exclusiva- mente emprica da intuio. o caso, entre outros: (a) do endirei- tamento dos objetos pela viso: se o ver se reduzisse ao sentir, perceberamos o objeto de modo invertido, porque foi assim que o sentimos, mas no, o entendimento entra em cena com sua lei da causalidade, refere o efeito sensrio sua causa e esta exterioriza- se no espao como objeto corretamente posicionado17 ; (b) a mera sensao nos olhos planimtrica a caracterstica esferomtrica vem com a terceira dimenso, atribuda pela atuao do entendi- mento e sua forma pura do espao 18 ; (c) os olhos so dois, cada um por si recebendo sensaes; ora, se no fosse o entendimento haveria duas orientaes diferentes e, por conseguinte, dois obje- tos, mas ele, entendimento, torna o colhido por dois receptculos numa intuio unvoca 19 ; mais: (d) colocar a cabea entre as per- nas no inverte o mundo, por qu?, porque o entendimento, com suas, por assim dizer, antenas (espao, tempo e causalidade), refaz em concepo objetiva a matria da sensao, tornando cor- retamente posicionado o que se apresentava de ponta-cabea.20 Perceba-se por tudo isso que a realidade externa, no seu conjunto, o produto de um efetivar. Ora, efetivar causalidade, forma apriorstica do entendimento: desse modo, o mundo exter- no, com seus objetos construdos no entendimento, no passa de um efetivar do indivduo (sujeito emprico dotado de corpo) a par- 17 Cf. G #21 59. 18 Cf. G #21 64. 19 Cf. G #21 59/60. 20 Cf. G #21 59. 23. 26 JAIR BARBOZA tir das sensaes que lhe so fornecidas: e a realidade seria mais apropriadamente chamada de efetividade (Wirklichkeit), derivada de efetivar (wirken). Schopenhauer assinala ser um orgulho para a ln- gua alem possuir tais termos, os quais funcionam melhor na teo- ria do conhecimento que os latinos realidade (Realitt) e real (real). Contudo, a efetividade assim caracterizada no implica que sub- repticiamente voltasse a to lamentada tese idealista do objeto enquanto efeito do sujeito. No, a relao de causa-efeito circuns- creve-se aos objetos mediatos entre si e entre eles e o objeto ime- diato. No se deve, por conseguinte, tomar a noo de corpo como equivalente do sujeito absoluto dos idealistas. O corpo um mero meio para a figurao do mundo, tomando-se a si mesmo enquanto imagem. Guardemo-nos do mal-entendido de que, porque a intuio media- da pelo conhecimento da causalidade, subsistiria por conta disso, entre objeto e sujeito, a relao de causa-efeito; antes, esta relao se encontra, sempre, apenas entre objeto imediato e mediato, portanto tem lugar apenas entre objetos. (W #5 15) 1.3 Sensao e percepo Como vimos, ao discursar sobre a intelectualidade da intui- o emprica, Schopenhauer coloca-se na contra-corrente dos idea- listas alemes, reivindicando fidelidade a Kant, pois respeitara, sua maneira, os marcos limtrofes da experincia. Todavia, isso no o impede de, em certo momento, afastar-se de Kant na con- cepo da origem do objeto da experincia. que Kant o teria deixado incgnito, ofuscado que estava com a passagem da coisa- em-si para o fenmeno, chegando a tornar pblico que o objeto 24. A EFETIVIDADE 27 externo fosse o prprio Em-si, caindo na contradio de, nele, empregar a categoria de causalidade, exclusiva dos fenmenos. De fato, Kant, na Crtica da Razo Pura, deu azo a tal postura schopenhaueriana, pois disse que: O entendimento...pensa um objeto-em-si, mas apenas como um ob- jeto transcendental que a causa do fenmeno (e por conseguinte no ele prprio fenmeno)... (A 288/ B344) Desse modo, a coisa-em-si, ao afetar a sensibilidade, daria como que por milagre um objeto. Milagre porque Kant no de- monstra as etapas da imagetizao. A percepo (Wahrnehmung) seria algo de imediato, a posicionar-se com todos os seus contor- nos sem ajuda do entendimento e confundindo-se com a prpria sensao (Empfindung), de modo que, segundo Schopenhauer, ...a mera sensao do sentido j para ele percepo.21 Provavel- mente o autor de O Mundo... est pensando em passagens como a de A 166/ B 208: A percepo a conscincia emprica, ou seja, uma conscincia em que h, simultaneamente, sensao. [destaque meu] ou a de A 234/B 287: ...se estiver articulado percepo ( sensao como matria dos sentidos) e por ela for determinado mediante o entendimento, o objeto real... [destaques meus] 21 G #21 81. 25. 28 JAIR BARBOZA Ora, igualar sensao percepo justamente o que, a todo momento, procura evitar Schopenhauer; de um lado decla- rando a primeira, se entregue a si mesma, de cega, de outro equi- parando a segunda a um processo construtivo do intelecto envol- vendo formas apriorsticas, inatas, ao fim do qual se tem uma imagem, uma intuio emprica. Sem dvida, foi um grande sacrilgio Kant ter postulado que a coisa-em-si pudesse afetar a sensibilidade: Ainda no compreendo como Kant, depois de ter inculcado que o uso das categorias se estende unicamente aos objetos da experincia, no obstante fala da coisa-em-si como causa do fenmeno. 22 Para afastar-se desse equvoco teortico e suas consequn- cias, Schopenhauer nunca falar da coisa-em-si, a Vontade, cau- sando o fenmeno, mas ela o manifesta (offenbart). 22 G #21 80; HN II 267. 26. VONTADE E IDIA 29 2 Vontade e Idia 2.1 Transio para o Em-si A questo colocada por Schopenhauer depois de apresen- tar a sua teoria da representao (e diferenci-la do realismo e idealismo) : qual o sentido ntimo das representaes intuitivas sobre as quais repousam todas as demais? Que o mundo alm de minha representao? A resposta no se encontra na filosofia tradicional, mons- tro de inmeras cabeas 1 , cada qual falando uma lngua diferen- te e abusando do princpio de razo, sem jamais sarem da srie das representaes para algo outro que no representao e em que cessa o fluxo da relao causa-efeito; muito menos na mate- mtica, ocupada com as representaes a preencherem o espao e o tempo, declarando o quo-muito e do quo-grande, o que mera relatividade, comparao de representaes. Se se procura a resposta nas cincias naturais, recortadas em morfologia e etiolo- gia, os resultados no sero menos insatisfatrios. A morfologia considera as formas permanentes, e a etiologia, a matria modifi- cvel conforme a leis rgidas; na primeira se destacam a botnica e a zoologia, que ensinam a conhecer, apesar da contnua mudana dos indivduos, permanentes figuras orgnicas associadas a uma analogia no todo e nas partes, a unit de plan, na segunda, a mec- 1 W #17 113. 27. 30 JAIR BARBOZA nica, a fsica, a qumica e a fisiologia, cujo objeto de estudo o mais geral a relao causa-efeito. Elas ensinam como, obedecendo a leis infalveis, a um dado estado segue-se necessariamente um outro bem determinado e como uma mudana provoca necessariamente uma outra: processo demonstrativo conhecido por explicao. No adianta, apesar dos morfologistas apresentarem inumerveis figu- ras, diversas ao infinito e aparentadas em famlias, elas no pas- sam de representaes que, nelas mesmas, so semelhantes a hi- erglifos 2 ; j os etilogos podem at ensinar que determinado estado da matria produz um outro, indicando a ordem regular segundo a qual aparecem no espao e no tempo, determinando- lhes a exata situao, contudo, por a, diz Schopenhauer, no se obtm: ...a mnima informao sobre a essncia dos fenmenos, que deno- minada de fora natural e reside fora do mbito da explicao etiolgica... (W #17 116) Ainda que se empreenda um esforo final visando a uma milimtrica, inacreditvel preciso da lei natural, isso no ser muito auspicioso, pois a lei natural to-somente delimita: ...a constncia inaltervel de aparecimento daquela fora, desde que suas condies sejam dadas(W #17 116), ou seja, baliza a sua situao exterior, fornecendo o quando (Wann), o onde (Wo) e o como (Wie), sem contudo pronunciar-se sobre o que se exterioriza, de modo que a mais completa explicao 2 W #17 115. 28. VONTADE E IDIA 31 etiolgica no passa de um catlogo de foras inexplicveis 3 , nunca permitindo o acesso ao ntimo dos fenmenos. Que fa- zer?... Tentar uma outra via. Vemos que, de fora, jamais se alcana a essncia das coisas: inves- tigue-se o tanto que se quiser e chegar-se- somente a figuras e nomes. Semelhante a algum que roda em torno de um castelo procurando inultimente a entrada e, para compensar, esboa a fachada. Este foi o caminho percorrido por todos os filsofos at mim. (W #17 118) A outra via que Schopenhauer quer abrir, a partir de dentro do sujeito, f-lo introduzir uma nova perspectiva para o corpo, diferente daquela que abordamos no captulo 1. Se l o examina- mos enquanto objeto imediato e mediato do conhecimento, meio que possibilitava a construo do mundo externo e de si mesmo ao receber uma mirade de sensaes, agora ele ser abordado como objetidade (Objektitt) da vontade, com isto querendo o fil- sofo encontrar um mediador de transio para o Em-si do mun- do. Esta objetidade da vontade significa, na verdade, o sujeito emprico que se enraza no mundo, o indivduo no meramente cabea de anjo alada, puro sujeito que conhece destitudo de corpo, mas dotado de um cujo ncleo sentido, na exteriorizao das suas aes, como uma fora atuante, que, a princpio, poderia permanercer incompreensvel tanto quanto o ntimo dos outros corpos e respectivas aes, mas, depois de uma especial inteleco (Einsicht), o indivduo a reconhece como um fato da conscincia e o traduz na palavra do enigma: vontade. 3 W #17 116-7. 29. 32 JAIR BARBOZA Esta, e somente esta, fornece-lhe a chave do seu prprio fenmeno, manifesta-lhe o sentido, mostra-lhe a mola ntima do seu ser, do seu agir, dos seus movimentos. (W #18 119) A noo de corpo enquanto objetidade acarreta a identifi- cao deste, por assim dizer, amlgama corpo-vontade com os prprios atos e movimentos. No se pode querer sem ao mesmo tempo perceber que o ato volitivo aparece como movimento cor- poral. O ato da vontade e a ao corporal no so dois estados dspares relacionados mediante causa-efeito, mas so um e mes- mo dados de duas maneiras distintas: numa, imediatamente senti- do, noutra, na intuio do entendimento. Todo ato imediato e autntico da vontade , logo a seguir, fenmeno do corpo, e vice- versa, toda atuao sobre o corpo , logo a seguir, atuao sobre a vontade; se lhe conforme, tem-se o bem-estar, o prazer, se lhe contrrio, tem-se a dor. A identidade do corpo com a vontade tambm se evidencia no fato de que: ...todo violento e excessivo movimento da vontade, isto , todo afeto, abala imediatamente o corpo e suas molas internas, perturbando o curso das suas funes vitais. (W #18 121) Essa identidade pela qual se tem uma objetidade da vonta- de, um indivduo e no uma cabea de anjo alada, j houvera sido abordada por Schopenhauer na Qudrupla Raiz do Princpio de Ra- zo Suficiente, s que l recebia o nome de eu, cognominado milagre kat exoken, e significava a unio entre o sujeito do co- nhecimento e o do querer. Tal designao de milagre retoma- da em O Mundo... E milagre porque uma unio no demonstrvel, traduzvel em conhecimentos mediados por outros (uso do prin- cpio de razo), mas uma evidncia que se sente, e no classific- 30. VONTADE E IDIA 33 vel entre as verdades arroladas pela reflexo 4 ; no a referncia de uma representao a um fundamento, sim: ...a referncia de um juzo relao que uma representao intui- tiva, o corpo, tem com aquilo que no representao, porm algo diferente toto genere desta: a vontade. E arremata Schopenhauer: Gostaria, por conta disso, de atribuir uma marca registrada a esta verdade perante todas as outras e denomin-la de kat exoken, verdade filosfica. (W #18 122) Assim, o que era eu na dissertao de doutoramento as- sume a funo de objetidade da vontade em O Mundo..., a colocar em destaque o sentimento interno, ao mesmo tempo delineando os contornos marcantes de um projeto para chegar ao Em-si das coisas a partir de dentro, no de fora, como o fizera a tradi- o filosfica, apoiada em demonstraes por via do princpio de razo. chegada a vez do sentimento ganhar um indito estatuto, selando aquilo que pode ser considerado um mrito de Schopenhauer na histria da filosofia e que tanta influncia exer- ceu sobre a psicanlise: o primado da vontade sobre o intelecto.5 4 Em nmero de quatro: 1) lgica o juzo tem por fundamento outro juzo (verda- de formal); 2) emprica o juzo tem por fundamento uma intuio emprica (ver- dade material); 3) transcendental o juzo tem por fundamento as formas da intui- o emprica; 4) metalgica o juzo tem por fundamento as condies formais de todo pensamento. (Cf. G # 33) 5 Ferenczi, discpulo de Freud, diz: As verdades da psicanlise so inteiramente com- patveis, por exemplo, com uma filosofia que v a essncia e origem do universo 31. 34 JAIR BARBOZA Igual s demais representaes, o corpo est submetido lei da causalidade, srie sem fim de fundamento a conseqncia. No entanto, a causalidade humana mediada pelo conhecimento e assume a figura da motivao; introduz-se uma variante do prin- cpio de razo para dar conta deste universo e ela recebe o nome de princpio de razo do agir. Se toda ao tem um motivo, e se este causalidade tanto quanto a causalidade tomada no sentido estrito do termo, comea a descortinar-se um panorama privile- giado para o investigador, que poder observar, a partir do pr- prio eu, o ntimo da causalidade, pois seu corpo no passa de um entre outros no tecido da necessidade fenomnico-causal. o incio de uma marcha que pretende levar, definitivamente, ao conhecimento do ncleo das demais representaes intuitivas, sobre as quais repousam todas as outras. Pode a muitos parecer frgil, mas o mtodo utilizado por Schopenhauer para o es- tabelecimento expositivo de uma parte to crucial da sua filosofia baseia-se na analogia 6 : Ns, por conseguinte, usaremos o duplo conhecimento adquirido, dado de duas maneiras completamente heterogneas (doravante alado num mpeto cego [a Vontade], no inteligente e no moral, como Schopenhauer o concebe. Psicanlise I. In: Obras Completas. So Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 216. 6 Tema kantiano, encontrado no Apndice da Dialtica Transcendental da primeira crtica. Concebendo as idias enquanto conceitos heursticos, diz que elas servem para procurar a constituio e ligao dos objetos da experincia em geral ... como se tivessem uma unidade absoluta, um fundamento supremo nico e omni-sufici- ente, ou seja, uma razo originria, criadora e autnoma. Todavia, os seres das idias no devem ser tomados em si mesmos, mas sua realidade dever ter apenas o valor de princpio regulativo da unidade sistemtica do conhecimento da nature- za, e s devero servir de fundamento como anlogos de coisas reias, no como coisas reais em si mesmas. (Trad. Gulbenkian, A 673-4: B 701-2). O frgil do mtodo schopenhaueriano residiria em a analogia mediar o acesso essncia das coisas, contrariando Kant, para quem a analogia relativa e apenas expressa hipoteticamente o ser da idia. 32. VONTADE E IDIA 35 clareza), que temos da essncia e agir do nosso prprio corpo, como uma chave para a essncia de cada fenmeno da natureza, e julgare- mos todos os objetos que no so o nosso prprio corpo por conse- guinte no so dados de duas maneiras, mas apenas como repre- sentao em nossa conscincia precisamente segundo analogia com aquele corpo (Leib) e, em conseqncia, admitiremos que, igual a ele, so do mesmo modo representaes e por isso semelhantes; por outro lado, se se coloca de lado sua existncia como representao do sujeito, o que resta, de acordo com a sua essncia ntima, tem de ser igual quilo a denominarmos em ns de vontade. (W #19 125) O procedimento analgico a chave para a decifrao do enigma das representaes intuitivas que o princpio de razo do devir no o permitia. Sem analogia, nada de conhecimento do ntimo das representaes. Este procedimento na verdade tem um duplo movimento. Em primeiro lugar, estabelece-se a identi- dade da causalidade em todos os nveis: o investigador se enraza no mundo, um indivduo (noo de objetidade), possui um cor- po submetido lei causal tanto quanto qualquer outro, a diferen- a que pode deliberar, escolher entre motivos, lutando na sua conscincia, autntico campo de batalhas (Kampfplatz), at que o mais forte vena e determine a sua ao, que se segue a partir de um fundamento suficiente, portanto necessria, no-livre: sob este aspecto, a inexorabilidade do seu agir igualvel da queda de uma pedra, ou do movimento de uma bola de bilhar, impul- sionada por outra (com a diferena de que a motivao acompa- nhada de conhecimento). Depois do estabelecimento dessa pri- meira identidade, passa-se imediatamente outra: o x desco- nhecido de toda coisa, o seu ntimo, no pode ser diferente do meu, pois a primeira identidade aponta para a igualdade da na- tureza da causalidade. Ora, se assim o , o ntimo desconheci- do das coisas (das representaes intuitivas) no pode ser diferen- 33. 36 JAIR BARBOZA te do meu; e, como a observao, o sentimento do prprio eu indica que a nossa profunda interioridade vontade, que se determina, aparece via motivos que so a causalidade humana, ento, pode-se inferir, o ntimo da causalidade em geral para ser pensado enquanto vontade, o adjetivo humana apenas qualifi- cando-a, sem modificar a sua ndole, de modo que, sem dvida, o mundo minha representao, mas tambm minha von- tade. Em Sobre a Vontade na Natureza dito: Conhecemos, digo eu, em diferentes figuras, primeiro a essncia idn- tica da causalidade que tem de ser admitida em diferentes graus, mostrando-se como causa mecnica, qumica, fsica, como excitao, motivo intuitivo, motivo abstrato, pensado: conhecemo-la como uma e mesma, tanto l onde o corpo impelido perde em movimento tanto quanto propaga, quanto l, onde pensamentos lutam com pensamen- tos e o vencedor, como motivo mais forte, coloca o homem em movi- mento; movimento que se segue com uma necessidade no menor que o da esfera impelida. Em vez de nos ofuscarmos e embaraar-nos, onde ns mesmos somos o que movimentado e, por conseguinte, - nos o processo intimamente conhecido , em vez de nos distanciarmos do nexo causal presente na natureza e, assim, fechar para sempre com a chave a mirada do seu ntimo; ao contrrio, trazemos o novo conhecimento, alcanado a partir do nosso ntimo, para a exteriori- dade, como uma sua chave, e conhecemos a segunda identidade, a identidade da nossa vontade com o at ento x desconhecido que permanece em toda explicao causal. (N IV 92-3) Se as cincias etiolgicas esbarram nas qualitates occultae, ou seja, na inexplicabilidade das foras naturais, se a morfologia es- barra na diversidade das espcies e na vida mesma, sem nos reve- lar o seu segredo, eis que vem o meta-fsico e, servindo-se da noo 34. VONTADE E IDIA 37 de indivduo, um microcosmos, conduz-nos compreenso por analogia do macrocosmos, que mais corretamente seria denomi- nado macro-antropo. Onde termina a fsica, comea a meta-fsica (meta-efetividade). O paradoxal dessa postura schopenhaueriana que ela, se para alguns pode parecer frgil, mstica at, pois situa o fulcro da sua filosofia (o conhecimento da essncia das representaes) na aceitao de uma analogia, na verdade procura evitar justamente uma fraqueza na teoria do conhecimento, qual seja, a fantasma- goria do mundo externo, verdadeira matria de manicmios.7 O ponto pretensamente mais fraco procura ser o mais forte e til para que o indivduo, para que o eu de cada um no se perca nos delrios de um solipsismo esquizide. Nota-se que o filsofo, apesar da leitura de Lukcs, que o rotula de um pessimista peque- no-burgus, autor de uma filosofia atrelada ao cansao existencial da sua classe social, filosofia na qual o egosmo d as cartas e engendra uma indireta apologia do capitalismo ...seu pessimismo... constitudo pelo seu egosmo individualista-bur- gus. evidente, conhecido de todos, que no pode haver ideolo- gia burguesa onde este egosmo no desempenhe um papel im- portante. 8 esforou-se, na verdade, em muitos momentos, por enfraquecer a esquisitice egocntrica, justamente a partir de um setor central da filosofia a teoria do conhecimento pelo postu- lado de uma identidade entre os corpos. Identidade que no movi- mento expositivo do seu pensamento desembocar na ntima uni- dade, indissolvel, da Vontade csmica. Contudo, antes de nos determos nesta transio ltima, de fato bastante delicada, para uma essncia csmica una e indivisvel, estrangeira pluralidade 7 Cf. W #19. 8 In: Lukcs. G. La destruction de la raison. Paris: LArche diteur, 1958, t. I, p. 177. 35. 38 JAIR BARBOZA fenomnica e mesmo diversidade das Idias, vejamos como o filsofo de Frankfurt arremata aquele discurso sobre a dupla iden- tidade definidora do procedimento analgico. Por conseguinte, dizemos: tambm l, onde a mais palpvel causa produz o efeito, encontra-se ainda aquele pleno mistrio, aquele x, ou o ntimo prprio do acontecimento, o verdadeiro agente, o Em-si desse fenmeno (dado a ns, ao fim, apenas como representao e segundo as formas e leis da representao), que concorda essencial- mente com aquilo que, pela ao do nosso corpo dado como intuio e representao, -nos intimamente conhecido, de modo imediato, como vontade. (N IV 92-3) Schopenhauer utiliza o termo conhecido, mas talvez o mais apropriado para a compreenso fosse sentido, isto , a vontade sentida como sentimento interno (Gefhl), que se dis- tingue do sentimento meramente corporal (Empfindung): por este o corpo objeto imediato e mediato do conhecimento, um medium, como vimos no captulo 1, para o conhecimento dos ou- tros corpos e de si mesmo, j por aquele objetidade da vontade, uma representao dotada de ntimo e que fornece a chave do enigma para se decifrar o Em-si dos outros objetos. Frise-se isso, porque Schopenhauer, avesso s filosofias que partissem do con- ceito, quer encontrar um lugar nuclear para o sentimento na sua filosofia: ...a essncia do mundo a cada um se expressa in concreto de modo compreensvel como sentimento (Gefhl)... (W #53 320) O sentimento auxilia a se chegar essncia das coisas, mas, para alm disso, Schopenhauer defende uma Vontade em geral, 36. VONTADE E IDIA 39 una e indivisvel, que se afirma inconscientemenmte em diversos nveis, deixando atrs de si, Vontade de vida que , uma pirmide de objetivaes cujo pice o homem. Como compreender que o Gefhl tambm aqui desempenhe o seu papel, no s conduzindo a uma identidade, mas tambm a um Em-si csmico uno, do qual o mundo inteiro no passa de manifestao? * * * Schopenhauer relata-nos quatro grandes influncias sobre o seu pensamento: o mundo intuitivo, a obra de Kant, o livro sagrado dos vedas, Upanixade, e Plato.9 Em termos intelectuais, a presena de Plato (conforme seus Manuscritos Pstumos I) ante- rior de Kant. De fato, em 1808-1809, depois de terminar a leitu- ra do livro X de A Repblica, registra um pensamento que destaca algo de suma importncia e que depois ser objeto de elogio a Kant: a orientao para a unidade. Plato, o divino, esfora-se sempre pela unidade (Einheit)... 10 Nos Manuscritos Pstumos II, de 1809-1818, ler-se- o seguin- te trecho sobre Kant, a destacar, metodologicamente, o pensa- mento da unidade: Muito interessante e rica considerao das trs leis da razo: 1) homogeneidade, 2) especificao e 3) continuidade. 11 9 Cf. W Anhang 493. 10 HN I 12. 11 HN II 282. 37. 40 JAIR BARBOZA Sabe-se que para o criticismo estas leis so mximas da ra- zo visando a uma unidade sistemtica da natureza, procurando evitar, pela homogeneidade, a disperso na multiplicidade; pela especificao, o exagero da uniformidade, ao impor a distino entre subespcies; e prescrevendo a passagem gradual de uma es- pcie a outra, via continuidade. Essa unidade na diversidade meramente regulativa e no constitutiva, um princpio a priori projetado pela razo na exterioridade, no algo dado Em-si; mes- mo assim, so indiscutveis os seus resultados. Guiado pelo prin- cpio da unidade sistemtica da natureza, o entendimento subme- te a variedade fenomnica sua legalidade, e obtm natureza num sentido bastante privilegiado da filosofia transcendental: fenme- nos ligados entre si e determinados conforme as leis gerais.12 Se- no, ter-se-ia uma coleo de fatos empricos descontextualizados, uma rapsdia de pouco valor para o conhecimento. Ora, ao nosso ver, tais leis auxiliam a compreender a exposio do pensamento scho- penhaueriano. Se o princpio de razo pode ser visto pelo enqua- dramento da lei da homogeneidade e da especificao um nico princpio (homogeneidade), porm quadruplamente enrai- zado (especificao) , o mesmo acontece na exposio do con- ceito de Vontade csmica una e indivisvel, ao invalidar-se a plu- ralidade autnoma (homogeneidade) sem no entanto esquecer-se das especificaes, que, como veremos, recaem sobre a noo de Idia. Desse modo, (a) se a vontade individual dada a cada um na autoconscincia como sentimento algo toto genere diferente da representao , (b) e como a representao est submetida ao princpio de razo, tendo, portanto, fundamento (fundamento = razo = grund), (c) ento, por negao deste princpio, adequado 12 Natureza a existncia das coisas enquanto determinada por leis gerais. In: Kant, I. Prolegmenos..., So Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1959, #14, p. 65. 38. VONTADE E IDIA 41 to-somente representao, a Vontade j no registro da csmica pode ser dita sem-fundamento (grund-los), por conseguinte no-plu- ral. A Vontade como coisa-em-si, conforme dito, permanece estrangeira ao domnio do princpio de razo em todas as suas figuras, e , por conseguinte, absolutamente sem-fundamento. (W #23 134) O Schopenhauer dos Suplementos chega a dizer que o senti- do interno, o tempo, ainda enforma a vontade individual e a mes- ma guarda resqucios de fenmeno 13 , s que, em O Mundo..., est preocupado em realizar a passagem da vontade individual para a Vontade em geral. Ora, justamente neste momento que pode- mos identificar o incio da constituio de uma ontologia negati- va, que acabar por negar o tempo at mesmo para a Vontade csmica. O procedimento analgico, que vimos atrs, comple- mentado, assim, por uma ontologia negativa, implicando, no fim, o estabelecimento do conceito de Vontade em geral, totalmente isenta do tempo. Tal ontologia que tem o seu marco grfico no aparecimento do substantivo Grundlosigkeit nos seus termos b- sicos processa-se do seguindo modo: o princpio de razo, me- diante espao e tempo, atribui pluralidade aos objetos, pelo que cognominvel de principium individuationis, j a Vontade, por nega- o desta caracterstica, una e indivisvel; a causalidade insere os objetos na srie da necessidade, j a Vontade, por negao, livre; o tempo, forma arquetpica da finitude, a tudo torna efmero, j a Vontade, por negao, a essncia a-temporal daquilo que apare- ce; mais: se os motivos que determinam o agir humano acarretam 13 Cf. Erg. #18 220. 39. 42 JAIR BARBOZA uma viso do alvo a ser atingido, a Vontade, ao contrio, mero mpeto cego (blosser blinder Drang). Quer dizer, na exposio da sua filosofia, Schopenhauer usa a homogeneidade (a Vontade una) e probe o imprio do totalmente plural, portanto do princpio de razo. Que se note: ao intervir depois 14 , o mtodo schopenhaueriano invoca os dois maiores filsofos do Ocidente 15 , procurando respaldo para o pressentimento intuitivo da unidade do mundo que j se dera a ele em 1812, ocupando as primeiras folhas dos seus cadernos de apontamentos: A nossa pura vontade to-somente a Vontade da natureza... (HN I 21) Pois bem, aps efetuado o percurso da vontade individual para a Vontade em geral, l-se retroativamente a primeira englo- bada pela segunda. E diz-se que, na verdade, a coisa-em-si tomou de emprstimo o nome do seu fenmeno o mais perfeito, o mais significativo, de todos o mais desdobrado...a vontade humana.16 Empregou-se uma denominatio a potiori, emprestou-se um termo existente e se o melhorou, alargou, para abarcar o anterior. E se a vontade individual permanece enformada pelo tempo, o mesmo no ocorre com a Vontade em geral, ...exterior ao tempo e ao espao e que no conhece, portanto, nenhu- ma pluralidade, por conseguinte una... 17 14 Cf. Erg. #7. 15 W #31 201. 16 W #22 221. 17 W #25 152. 40. VONTADE E IDIA 43 A vontade individual, doravante, vista como fenmeno da geral, embora o mais perfeito deles, posto que apenas o tempo se atrele a ela. Ela vontade individual o ponto mais prximo possvel do ncleo do cosmos, por ela se sente, via Gefhl, a tran- sio imediata para o fenmeno da coisa-em-si.18 Mas no fica a Schopenhauer. Unidade estabelecida, vai ao controle da experin- cia, afinal est fazendo metafsica imanente, e ela Vontade, mpe- to cego a objetivar-se na natureza, querendo a vida em toda parte, em todos os reinos, por ele detectada na fora que faz crescer e vegetar as plantas, que cristaliza os minerais, direciona a agulha imantada para o plo norte, a qual se encontra nas afinidades eletivas dos corpos, na gravidade, no amor e no dio, na queda dgua de uma cachoeira, no vagar das ondas, nos movimentos do sol e da lua, enfim, ela : ... o mais ntimo, o ncleo de todo particular e tambm do conjunto: aparece em toda cega e atuante fora natural: tambm aparece na ao refletida do homem, se ambas diferem, isso concerne apenas ao grau do fenmeno, no essncia do que aparece. (W #21 131) 2.2 As Idias Para alm daquilo que me aparece, est a vontade indivi- dual, para alm desta, a Vontade em geral a filosofia schopenhaue- riana podendo justamente ser chamada de metafsica da Vontade. Agora, como evitar a acusao de dogmatismo, ou seja, a partir do Em-si do prprio corpo, a vontade individual ter-se alado 18 Erg. #18 221. 41. 44 JAIR BARBOZA para regies transcendentes, isto , para o Em-si uno, indivisvel, do mundo inteiro, portanto ter afirmado a existncia de uma en- tidade extramundana, a Vontade em geral? Na verdade, Schopenhauer no evita totalmente a acusao de dogmatismo, mas a de dogmtico transcendente. O seu siste- ma por certo dogmtico prope dxas, a maior parte das ve- zes oriundas da solitria intuio da natureza 19 s que imanente, pois, conforme diz em Parerga e Paralipomena: ...suas sentenas so de fato dogmticas, porm no vo alm do mundo dado na experincia. 20 O meta de meta-fsica no sinnimo de exterior ao mundo, sim de alm do visvel. Postula-se um invisvel que vis- vel, que manifesta o visvel, seno ter-se-ia o absurdo, uma vez denunciado por Kant, de uma aparncia sem nada que apareces- se.21 importante tocar neste ponto, porque o prximo passo 19 Em HN n. 361 diz: O tempo da atividade verdadeiramente filosfica, verdadeira- mente artstica, so aqueles instantes em que miro o mundo com o entendimento e os sentidos, de maneira puramente objetiva; esses instantes no so nada de inten- cional, nada de arbitrrio; so o que dado a mim, a mim prprio, o que me torna filsofo; neles concebo a essncia do mundo, sem ento, ao mesmo tempo, saber que a concebo; o resultado disso ser muitas vezes, depois, reproduzido em concei- tos, e, ento, consolidado duradouramente. 20 P I #14 139. 21 Segundo prefcio da Crtica da Razo Pura, B XXVI/XXVII. Cabe aqui observar que Schopenhauer no concordava com Kant, quando este taxativamente definia a metafsica como A cincia do que est alm da possibilidade da experincia... (W Anhang 505) e de que A fonte da metafsica no pode ser emprica, seus princpios e conceitos fundamentais nunca podem ser tomados da experincia, interna ou externa (W Anhang 506). Para Schopenhauer, esta recusa, na verdade, apia-se numa adeso apressada etimologia da palavra metafsica: admite-se, sem mais, que a 42. VONTADE E IDIA 45 de Schopenhauer ser, quando da exposio do conceito de Em- si, empregar a especificao, ao introduzir o dgma das Idias-esp- cie, por ele mesmo reconhecido numa meno a Digenes Lar- cio: Entendo, portanto, por Idia, cada grau determinado e fixo de objetivao da Vontade, conquanto coisa-em-si e, por conseguinte, estrangeira pluralidade; graus que se relacionam com as coisas particularizadas como suas formas eternas ou seus modelos. A ex- presso a mais concisa e concludente daquele famoso dgma platni- co nos d Digenes Larcio: Segundo Plato, as Idias esto para a natureza na qualidade de modelos e as outras coisas se lhes asseme- lham e so conforme a sua imagem. (W #25 154) Esse desdobramento dogmtico do mpeto vital em Idias, posto que introduzido subitamente a partir de uma dxa anterior e reivindicando contedo positivo, referncia na exterioridade, soluo do enigma do mundo no pode advir de um entendimento fundamental do mesmo, mas teria de se basear em algo completamente diferente dele, alm da pos- sibilidade de toda experincia, excluindo-se da soluo o que nos fosse dado de modo imediato; esta soluo teria antes de ser procurada naquilo que podemos atingir de modo meramente mediato, ou seja, mediante concluses a partir de prin- cpios universais a priori. (W Anhang 506). Em funo disto, todas as tentativas de uma metafsica positiva teriam falhado. Mas, pergunta-se Schopenhauer, quem ga- rante que a soluo para o enigma do mundo no esteja nele mesmo? Nada foi provado em contrrio at agora. Enquanto esta prova no surge, no h nenhum fundamento para se apegar apenas a formas vazias de contedo, num exerccio de lgica, sempre renovado, de crtica da razo. Para Schopenhauer, a metafsica sim possvel, porque sua tarefa, e isto no o entendeu Kant, no sobrevoar o mundo, ir para alm dele, caindo na transcendncia, mas, apreend-lo no carrefour formado pelas experincias interna e externa, pois justamente a, no que dado de modo imediato, que reside a chave para a decifrao do enigma das coisas. Com isso, o autor de O Mundo... pretende estar dando um passo gigantesco para reconstruir a metafsica, retirando-lhe da negatividade kantiana, da mera crtica da razo pura. 43. 46 JAIR BARBOZA exige, para no se cair na transcendncia, um ir-e-vir constante experincia. Sob esta tica, empenha-se Schopenhauer por en- contrar um signo emprico da doutrina herdada de Plato. Onde? No pendor dos investigadores a atriburem pela faculdade de ju- zo finalidade interna e externa aos organismos. Esta finalidade de dois tipos: em parte interna, isto , uma concordncia ordenada de todas as partes de um organismo par- ticular que resulta na conservao do mesmo e da sua espcie e, por conseguinte, expe-se como fim daquela ordenao. Em parte, entre- tanto, a finalidade externa, a citar, uma relao da natureza inorgnica com a orgnica em geral, ou tambm de setores particulari- zados da natureza orgnica uns com os outros, o que torna possvel a conservao do conjunto da natureza orgnica ou de certas espcies de animais e, por conseguinte, coloca-se para o nosso julgamento en- quanto meio para este fim. (W #28 184) Porm, como quer Schopenhauer evitar o dogmatismo transcendente, logo a seguir as finalidades interna e externa so consideradas projees na realidade efetiva da essncia do inves- tigador, ou seja, ele Idia (ato originrio da Vontade, ursprngliche Willensakt) e Vontade ao mesmo tempo, e a natureza exposio fenomnica tanto de Idias quanto da Vontade. Desse jeito, a fi- nalidade interna que aparece ao julgamento como harmonia das partes de um vivente seria a viso da unidade da Idia (que o investigador tambm ): ...pois em ambos os casos [finalidade orgnica e inorgnica] o que nos surpreende apenas a viso (Anblick) da unidade originria da Idia, que, no fenmeno, tomou a forma da pluralidade e da diversidade. (W #28 188) 44. VONTADE E IDIA 47 um reconhecimento. O mesmo raciocnio aplica-se finalidade externa. Ela reflexo que corroboraria a hiptese da Vontade em geral. uma finalidade que no reconhecida na economia dos organismos, mas no apoio (Untersttzung), na ajuda (Hlfe) que eles conseguem externamente do reino inorgnico e dos outros seres, encetando um arranjo de espcies em recproca dependncia. Assim, cada fenmeno considerado como adaptado ao meio circundante, e este, por sua vez, adaptado a ele, como se houvesse predetermi- nao. O olhar divisa, onde quer que se detenha, um consensus naturae: plantas adequam-se ao solo e clima, animais aos seus ele- mentos e presas, o olho luz e refrangibilidade, o pulmo e o sangue atmosfera etc..., viso que s possvel porque a unidade csmica est espelhada na mirade de entes entrelaados no vasto tecido da vida terrestre 22 , e pelo investigador, enquanto Idia, ser esta unidade mesma: ...todo o mundo, com seus fenmenos, a objetidade da Vontade una e indivisvel, a Idia que se comporta em relao a todas as outras Idias como a harmonia para as vozes isoladas, por conseguinte, aquela unidade da Vontade deve mostrar-se tambm na concordncia de todos os fenmenos entre si.23 (W #28 188) 22 Pelo menos s esta at agora nos foi dada experincia. Mas no creio que Scho- penhauer duvidasse da existncia de seres em outros planetas. At mesmo Kant, to venerado por ele, no o negava, como se pode verificar na Idia de uma Histria Universal... Sexta Proposio, nota de rodap. 23 O termo objetidade (Objektitt) empregado por Schopenhauer para designar a objetivao do Em-si tanto em Idia quanto em corpo humano. Como o corpo, se tomado exteriormente, j um fenmeno situado no espao e no tempo, submeti- do lei da causalidade, e, se tomado na sua subjetividade, est submetido ao tempo como forma do sentido interno, ento o filsofo refere-se Idia como a objetidade a mais adequada possvel da Vontade e a nica imediata (W #32 206), marcando 45. 48 JAIR BARBOZA Observe-se: as finalidades interna e externa imbricam-se no discurso schopenhaueriano, tencionando, em ltima instncia, no ir-e-vir experincia, corroborar a doutrina das Idias enquanto atos originrios da Vontade, invissel; contudo, visvel nas Idias que se expem fenomenicamente, montando uma pirmide hie- rrquica de espcies. Porm, alerte-se que o consensus naturae vai s at uma certa harmonia entre as espcies exigida para a manuten- o da estabilidade da natureza; do lado dos indivduos, alastra-se um generalizado conflito pela posse da matria (elo de ligao entre o Em-si e o fenmeno) para objetivao da Idia. H um campo de batalha. Fiel sua teoria do espelhamento, Schopenhauer conclui que, em toda esta batalha, a natureza na verdade est a refletir uma discrdia essencial da Vontade consigo mesma (Selbstentzweiung).24 Ao falar das Idias, Schopenhauer identifica um parentesco terico entre Plato e Kant, e levado a tratar a distino kantiana entre carter inteligvel e emprico pela lente da relao Idia/ fenmeno, ou, se se quiser, liberdade/necessidade. Kant, ao apresentar a soluo da terceira antinomia, ou seja, do conflito entre os partidrios da liberdade e os que a negam (admitindo no mundo somente a necessidade conforme as leis da assim a sua especificidade, vale dizer, ser uma representao tersa, imutvel, a mais prxima possvel do Em-si, enquanto os fenmenos sero objetivaes mediatas e inadequadas da Vontade, isto , turvaes da Idia. Em todo o caso, tanto a objetidade adequada quanto a objetivao inadequada so manifestaes de uma mesma essncia. 24 Inegvel a influncia desta concluso para o plemos nietzschiano da vontade de potncia. A bem dizer, tanto Nietzsche quanto Schopenhauer tm um ancestral co- mum em Herclito e o seu combate: O combate de todas as coisas pai, de todas reis, e uns ele revelou deuses, outros homens; de uns fez escravos, de outros livres. In: vol. Pr-socrticos da coleo Os Pensadores. So Paulo: Abril, 1985. p. 84. 46. VONTADE E IDIA 49 natureza) forneceu uma chave para dissolver esse conflito da ra- zo consigo mesma. Era a distino entre carter inteligvel e emprico, que autoriza pensarmos a convivncia entre a liberdade e a necessidade, pelo menos do ponto de vista humano: Num sujeito do mundo dos sentidos teramos ento, em primeiro lugar, um carter emprico, mediante o qual os seus atos, enquan- to fenmenos, estariam absolutamente encadeados com outros fen- menos e segundo as leis constantes da natureza, destas se podendo derivar como de suas condies, e constituindo, portanto, ligados a elas, os termos de uma srie nica da ordem natural. Em segundo lugar, teria de lhe ser atribudo ainda um carter inteligvel, pelo qual, embora seja a causa dos seus atos, como fenmenos, ele prprio no se encontra subordinado a quaisquer condies da sensibilidade e no , mesmo, fenmeno. Poder-se-ia tambm chamar ao primeiro carter, o carter da coisa no fenmeno, e ao segundo o carter da coisa-em-si mesma. (B 566-7) Observe-se, nesta passagem, aquilo que emociona Scho- penhauer: a convivncia entre a liberdade e a necessidade num mesmo particular. Se ao princpio de razo cabe atribuir a neces- sidade ao fenmeno, j a Idia, a qual cada entidade fenomnica expe sua maneira, est isenta da necessidade, e tambm, por conseguinte, grund-los, misteriosa, isto , estrangeira explicao do princpio de razo tanto quanto a Vontade. Cada Idia, en- quanto ato originrio da Vontade, um carter inteligvel, pura liberdade, que se expe fenomenicamente em carter emprico, inteira necessidade, como em Kant que, na sua lngua, diz que o carter emprico simplesmente fenmeno do inteligvel.25 A 25 B 569. 47. 50 JAIR BARBOZA distino kantiana, por sua vez, deriva de uma anterior, entre coi- sa-em-si e fenmeno, s que, em Schopenhauer, a presena desta distino tem por tarefa gerenciar a concordncia entre o filsofo de Knigsberg e Plato, ou seja, a coisa-em-si (Kant), tomada como Vontade, tem os seus atos originrios; cada um destes adquire um carter inteligvel, justamente as Idias (Plato), e estas pluralizam- se fenomenicamente em carter emprico: O carter inteligvel coincide portanto com a Idia, ou, mais precisa- mente, com o ato originrio da Vontade que nela se manifesta: neste caso, no apenas o carter emprico de cada homem, mas tambm o de cada espcie animal, de cada espcie de planta e at de cada fora originria da natureza, que para se ver como o fenmeno de um carter inteligvel, isto , um ato da Vontade indivisvel e exterior ao tempo. (W #28 185-6) Como pice da pirmide das objetivaes, cabem ao ho- mem marcantes especificidades, o caso da individualidade. Cada homem representa como que uma espcie nica, como se (gewis- sermaassen als) fosse uma singular Idia da Vontade. A humanida- de no se expe uniformemente em Joo, Jos e Maria, mas tais indivduos so um acento (Hervorhebung) peculiar da Idia de hu- manidade. Enquanto um gato expe a Idia de Gato, um cachor- ro, a de Cachorro, um elefante, a de Elefante cada homem, dife- rentemente, tem um carter prprio, nico, da a justeza de falar- se em individualidades no universo humano, de personalidades, mas no em relao aos animais os quais, a bem dizer, tm apenas o vestgio da individualidade, a qual no chega a caracteriz-los. Esse vestgio decresce ainda mais nas plantas at desaparecer por completo no mbito da inorganicidade. Mesmo assim, sublinhe- se, toda espcie possui carter inteligvel exponvel em emprico 48. VONTADE E IDIA 51 contrrio a Kant, que reservava o carter inteligvel para os ho- mens.26 Toda Idia, ao manifestar-se como fenmeno, carter em- prico, precisar do princpio de razo, que far, via causalidade (matria), a ligao entre ela e a efetividade, constituindo a ampla gama dos objetos que aparecem para o conhecimento na forma dos reinos da natureza. Porm, o princpio de razo ainda possui o espao e o tempo como formas, de modo que uma Idia, ao expor-se fenomenicamente, numa inconsciente afirmao da Von- tade de vida, f-lo situando-se num dado espao e num dado tem- po. O resultado desse processo, na efetividade, a pluralizao do uno, a pluralizao das Idias e, por extenso, da prpria Vontade, que nas Idias encontra suas objetidades as mais adequadas poss- veis. Entre os homems, os motivos determinam a sua vontade individual, limite entre o carter inteligvel e o emprico, todavia o carter inteligvel no atingido pela causalidade, os motivos no passam de causas ocasionais para a entrada em cena daque- le, depois de ter cruzado a fronteira da Vontade, de modo que aquilo a ser atingido pelo princpio de razo to-somente o carter emprico. O mesmo vale para os reinos animal, vegetal e mineral. Numa palavra, os caracteres inteligveis enrazam-se no Em- si e suas manifestaes se do mediante o agir por motivos (cau- salidade com conhecimento: homens e animais), mediante a cau- salidade no sentido estrito do termo (reino mineral), e ainda pelas alteraes por excitao (reino vegetal). As aes de um homem 26 Na natureza inanimada ou simplesmente animal, no h motivo para conhecer qualquer faculdade de outro modo que no seja sensivelmente condicionada. (B 574/ A 546). Na Fundamentao... chega a chamar os animais de coisas, por opo- sio aos homens, que seriam pessoas. 49. 52 JAIR BARBOZA so determinadas apenas do ponto de vista da empiria, variam imenso sim, todavia o carter inteligvel delas, a sua Idia, perma- nece inaltervel, eterna: como a gua que, conservando o seu ca- rter inteligvel (sua Idia), expe-se na suavidade do oceano, nas espumas borbulhantes das ondas e nos jtos dgua das fontes artificiais. 50. IDIA E NEGAO DA VONTADE 53 3 Idia e Negao da Vontade 3.1 O modo de conhecimento esttico No perodo de elaborao da sua opus magnum, entre 1812 e 1818, Schopenhauer oscilou entre a Idia de Plato e a Vontade como coisa-em-si para designar a essncia do mundo. Em 1814, a essncia ora a Vontade 1 , ora a Idia platnica 2 , e, ratificando a indeciso, h momentos em que a prpria Idia deve ser vista (o que soar esquisito na filosofia posterior) como uma Vontade.3 A deciso final se dar entre os anos de 1814 e 1815, aproveitando os dois termos. Em 1814, encontramos a seguinte passagem: Idia platnica, coisa-em-si e Vontade so unos. Mas, em nota de rodap, provavelmente posterior, h uma correo e estabelecido o que ser a verso definitiva: A Vontade Idia: isto incorreto. A Idia a objetidade ade- quada da Vontade. Os fenmenos so a Idia espraiada pelo 1 HN I 169. 2 HN I 149-51. 3 HN I 178 , 187. 51. 54 JAIR BARBOZA principium individuationis. A Vontade, sim, a coisa-em-si kantiana. (HN I 187-8) De modo que Schopenhauer no se aparta de Kant quando postula um Em-si para l do fenmeno, apenas no seu esforo para torn-lo cognoscvel oscila ora em nome-lo Idia, ora Vontade. Em 1815 registrada nos Manuscritos Pstumos uma formu- lao dos conceitos de Vontade e Idia, que consolida a Vontade como coisa-em-si e a Idia como sua objetidade a mais adequada possvel: numa nica sentena os conceitos principais dos dois grandes inspiradores do seu sistema (ao mesmo tempo em que se serve do seu prprio conceito de Vontade para medi-los) so correlacionados: A Vontade a coisa-em-si de Kant, e a Idia de Plato o conhe- cimento completo, adequado e extenuante da coisa-em-si: a Vontade como objeto. (HN I n. 442) Tal esforo de correlao reaparece nas pginas de abertura do terceiro livro de O Mundo... Para ns, ento, a Vontade a coisa-em-si; a Idia, contudo, a objetidade imediata daquela Vontade em um determinado grau; as- sim, consideramos a coisa-em-si kantiana e a Idia de Plato (que ele denomina de ontos on) estes dois grandes, enigmticos para- doxos dos dois maiores filsofos do Ocidente no como idnticas, mas como muito aparentadas e diferentes apenas atravs de uma determinao particular. (W #31 201) Observe-se que o filsofo no toma a coisa-em-si de Kant e a Idia de Plato como idnticas (e j vimos que a incorreo 52. IDIA E NEGAO DA VONTADE 55 fora detectada quando da elaborao da sua obra magna), contu- do, o esprito de ambas as doutrinas no diferiria. Elas tencio- nam transmitir-nos uma nica e mesma mensagem: o mundo a dado aparncia ilusria; sua realidade est para alm de si.4 Em Kant, segundo a leitura do filsofo de Frankfurt, tempo, espao e causalidade, formas do conhecimento, no so determinaes da coisa-em-si e pertencem exclusivamente aos fenmenos. A estes tambm cabem a pluralidade, o nascer e o perecer. Ora, como essas formas regem a finitude, segue-se que, se o conhe- cimento condicionado por elas, ele, nele mesmo, resume-se aos limites da experincia emprico-fenomenal, inextensvel coisa-em-si, toto genere diferente do fenmeno. Para o prprio eu do sujeito valem semelhantes colocaes. Quanto a Plato (assim o l Schopenhauer), as coisas percebidas no mundo emprico no tm nenhum ser verdadeiro, sempre vm-a-ser, nunca so; pos- suem existncia apenas relativa. Poder-se-ia tambm denominar o seu ser de no-ser. Conquanto nos limitamos ao seu conhecimento, igualamo-nos a prisioneiros de uma caverna a considerar sombras projetadas nas paredes de coisas verdadeiras, esplendorosas situa- das atrs de ns, alumiadas por um fogo que ofusca de tanto bri- lho; coisas que so realmente aquilo que sempre so, nunca vin- 4 Temos de alertar aqui que Schopenhauer no foi muito fiel a Kant, pois para este o mundo fenomnico no mera iluso: Quando digo que no espao e no tempo, tanto a intuio dos objetos exteriores como a intuio que o esprito tem de si prprio representam cada uma o seu objeto tal como ele afeta os nossos sentidos, ou seja, como aparece, isto no significa que esses objetos sejam simples aparncia. Efetivamente, no fenmeno, os objetos, e mesmo as propriedades que lhe atribu- mos, so sempre considerados algo realmente dado... no digo simplesmente que os corpos parecem existir fora de mim... Seria culpa minha se convertesse em sim- ples aparncia o que deveria considerar como fenmeno. (B 68) 53. 56 JAIR BARBOZA do-a-ser, nem perecendo. So arqutipos brilhosos dos ctipos ensombrecidos da finitude temporal. So as Idias. Ora, se no nascem nem morrem, sempre so, lgica a inferncia de no serem submetidas ao tempo, espao ou causalidade so eternas. E Schopenhauer, nesse esforo para correlacionar as doutrinas platnica e kantiana, matiza sua argumentao nos termos seguin- tes: manifesto e no precisa de nenhuma ulterior demonstrao que o sentido ntimo de ambas as doutrinas exatamente o mesmo, que ambas explicam o mundo visvel como um fenmeno, que em si nulo e adquire sentido e realidade emprestada apenas atravs daqui- lo que nele se expressa (para um a coisa-em-si, para outro a Idia)... (W #31 202) O filsofo chega a lanar mo de uma ilustrao. Tome-se um animal em suas atividades vitais (Lebensthtigkeit). Plato veria este espcime, aqui e agora, diante dos olhos, destitudo de ver- dadeira existncia, possuindo apenas uma aparente, em constante vir-a-ser; seria uma existncia relativa e poderia tanto ser denomi- nada de no-ser quanto de ser, um ser que no-ser. Ver- dadeiramente, s a Idia do animal o (wahrhaft seiend), e no de- pende de nada, mas em si e para si (an und fr sich ist), jamais vindo-a-ser, nunca se movendo para um ponto futuro da evolu- o, sempre a mesma. indiferente e sem sentido, quando co- nhecemos a Idia, se o que temos diante de ns um exemplar contemporneo (dies Thier jetzt) ou um seu antepassado que viveu h milhares de anos: portanto, no importa o local, a maneira, a posio, as aes em que o animal se manifesta; tambm no im- porta se este ou outro indivduo da sua espcie: isso tudo 54. IDIA E NEGAO DA VONTADE 57 concernindo to-s ao domnio dos ctipos, no dos arqutipos.5 Quanto a Kant, diante do mesmo animal, diria que um fenme- no no tempo, espao e causalidade 6 , obedecendo a condies de possibilidade da experincia, radicadas a priori na faculdade de co- nhecimento, adequadas ao fenmeno, no coisa-em-si. Esse animal, neste dado tempo e espao, submetido causalidade, de modo algum o animal verdadeiramente essencial, mas: 5 W #31 203. Com isso Schopenhauer coloca-se em guarda contra as crticas de inspirao darwiniana. Ele no est preocupado com as determinaes espao- temporais dos fenmenos, como teria de fic-lo se fosse estudar histria natural, mas com os seus arqutipos eternos e exteriores ao devir. Philonenko muito partidrio na leitura desses dois nveis de discurso, pois pretende que o dogma da constncia das espcies schopenhaueriano tenha sido abalado pela obra Origem das Espcies. Diz ele: dramtico ver um sistema desmoronar (seffondrer) sob o peso da histria [itlico meu] to pouco tempo antes do desaparecimento do seu criador (1861). [In: Schopenhauer, une philosophie de la tragdie. Paris: Vrin. p. 96] Ora, um tal argumento s pode ser o resultado de uma adeso demasiado rpida ao darwinismo, ancorada num embaralhamento dos discursos, ou seja, Philonenko pretende que a histria natural, a evoluo das espcies, suas modificaes no curso das eras que Schopenhauer tem todo o cuidado de restringir aos fenmenos possa penetrar a metafsica e refutar a doutrina dos arqutipos imutveis, as Idias. Mas, definitiva- mente, isto atribuir um poder facticidade sobre a eternidade, que ela, no interior do pensamento de Schopenuauer, de modo algum possui. Mesmo em se tratando da hiptese emprica de um ancestral comum ter originado duas espcies diferen- tes, como o smio e o humano, isto seria, para o filsofo, apenas a adaptao emp- rica de uma relao de assimilao por dominao que foi desfeita, ou seja, uma Idia mais complexa, que domina outras inferiores, cede o seu lugar no mundo fenomnico a outras que at ento estavam dominadas: o caso da Idia de ho- mem, que, ao desaparecer a sua manifestao emprica, cede lugar para as Idias inferiores inorgnicas. Todavia, isso no significa que aquela Idia primeva mais complexa, tenha desaparecido: A Idia realmente eterna, a espcie de durao infinita, mesmo que o fenmeno delas possa extinguir-se da superfcie de um pla- neta. (Erg. #29 417). 6 Schopenhauer mais uma vez desprezou onze categorias, ao seu ver janelas cegas, aceitando apenas a causalidade: ainda para se observar que Kant, sempre que quer dar um exemplo para uma discusso mais pormenorizada, quase todas as vezes recorre categoria de causalidade ... justamente porque a lei da causalidade 55. 58 JAIR BARBOZA ... um fenmeno vlido apenas para a nossa faculdade de conheci- mento. Para conhecer o que ele possa ser em si, por conseguinte inde- pendente de todas as determinaes que permanecem no tempo, espa- o e causalidade, seria requerido um outro modo de conhecimento que o nico a nos ser possvel atravs dos sentidos e entendimento. (W #31 203) Esta aproximao efetuada por Schopenhauer entre os dois grandes filsofos do Ocidente obedece a um objetivo crucial para a sua metafsica do belo: tornar em definitivo a coisa-em-si kan- tiana cognoscvel, via representao, e no apenas mediante o sen- timento interno. O que exige uma converso recproca das lin- guagens. O tempo, o espao e a causalidade trabalhados na Est- tica Transcendental so ditos disposies do nosso intelecto, atra- vs das quais um nico ser, eterno e imutvel, uma espcie, uma Idia, perceptvel numa multido de seres particularizados, nas- cendo e perecendo continuamente, num fluxo infindo. Imanente seria a concepo das coisas de acordo com aquelas disposies, transcendental a que se atm s condies certas do conhecimen- to.7 Assim, se na primeira crtica Kant demonstrava in abstracto as condies, Schopenhauer, por seu turno, procura mostrar como possvel, para alm do comedimento kantiano, sem ser trans- cendente, via intuio esttica, via modo de conhecimento estti- co, de uma metafsica imanente, ter-se um conhecimento trans- cendental da coisa-em-si enquanto Idia platnica. Entretanto, aler- temos que a cognoscibilidade do Em-si no total. Schopenhau- er no se esquece do que estabelecera no segundo livro de O a efetiva, mas tambm a nica forma do entendimento, e as restantes categorias so apenas janelas cegas. (W Anhang 529) 7 Cf. W #31 204. 56. IDIA E NEGAO DA VONTADE 59 Mundo...: as Idias so as objetidades as mais adequadas possveis da Vontade como coisa-em-si, e, assim, no o Em-si originals- simo que se d intuio esttico-transcendental, mas sua tradu- o fidelssima. A Idia, apesar da sua cristalinidade, imutabilidade e verdade superior face ao fenmeno, continua uma representa- o na conscincia a guardar a forma a mais geral dos seus con- tedos, o ser-objeto para um sujeito; j a Vontade disto se isenta. Numa palavra: a Idia imagem, enquanto a Vontade invisvel. A Idia platnica... necessariamente objeto, algo conhecido, uma representao e, justamente por isso, mas tambm apenas por isso, diferente da coisa-em-si. Ela apenas se despiu das formas secundrias do fenmeno (que todos ns conhecebemos sob o princpio de razo), ou, antes, ainda no entrou nas mesmas; mas a forma primria e mais genrica ela conservou, a da representao em geral, a de ser- objeto para um sujeito (Objektseyn fr ein Subjekt). (W 32 206) Atente-se nestas linhas a meno a um sujeito diante do qual aparece a Idia. Que sujeito este? Seria o mesmo ocupado com a efetividade e intuicionante dos fenmenos? Mas como, se aqui se trata da noo de Idia, do modo de conhecimento estti- co e no daquele que segue a orientao do princpio de razo? A bem dizer, modifica-se a noo de sujeito. Depois do sujeito emprico, instalado num corpo que era ao mesmo tempo objeto imediato e mediato do conhecimento, cuja vontade fun- cionava como medium para o conhecimento da efetividade; depois do indivduo considerado uma objetidade da Vontade, tendo acesso ao Em-si csmico, ao meta-fsico, ao meta-efetivo, agora a vez de introduzir-se uma outra perspectiva: a do puro sujeito do co- nhecimento! Doravante no se trata mais do conhecimento indi- 57. 60 JAIR BARBOZA vdual, comum, cotidiano, brotando do intelecto-lanterna, corre- lato do princpio de razo em conluio com a vontade individual, sim do modo de conhecimento esttico, independente do princpio de razo, ocupado com aquilo que sempre e nunca vem-a-ser. Opera- se, por a, uma drstica transformao na noo de sujeito, impli- cando consequncias graves para a perspectiva existencial do in- divduo. Quando se fala em puro sujeito do conhecimento no modo de conhecimento esttico, requer-se concomitantemente o pensamento da supresso da individualidade (Aufhebung der Individualitt). O conhecimento, que originariamente era mekan, servidor da vontade, passa a ser desinteressado e a vontade ne- gada, j que com a referida supresso da individualidade, a vonta- de renuncia aos fins desejveis de serem atingidos, logo, os moti- vos no mais possuem eficcia sobre ela. O conhecimento, ento, d-se por aquilo que Schopenhauer denomina estado esttico, esta- belecido por uma ocasio externa (usserer Anlass) ou uma dis- posio interna (innere Stimmung); em se estabelecendo, o puro sujeito do conhecimento ocupa a conscincia, dela expulsando o indivduo, e, ao mesmo tempo, a Idia, correlata daquele, con- templada, tudo isso a acontecer de um s golpe (mit einem Schlag), sem anterioridade ou posterioridade da Idia ou do puro sujeito do conhecimento, o que significa uma espontnea supresso da individualidade.8 Perceba-se: para conhecer a Idia, sempre antes 8 inquestionvel que o autor de O Mundo... faz a sua leitura da noo de desinteres- se kantiana. S que em Kant o desinteresse esttico ainda guardava um resqucio de finalidade, embora sem fim, o que tornava problemtica, em muitos casos, a contemplao de objetos feitos para desempenharem um papel utilitrio, como no caso dos edifcios. A todo momento havia o perigo da finalidade deixar de ser sem fim e atrapalhar a contemplao. Coisa mais difcil de ocorrer com as belezas livres, como uma flor: mas mesmo aqui o sem fim pode se esvaecer, se o contemplador for por exemplo um botnico. J em Schopenhauer, a finalidade totalmente bani- da da genuna contemplao esttica: ocorre a a negao da Vontade, a supresso 58. IDIA E NEGAO DA VONTADE 61 preciso abandonar o modo de conhecimento do homem co- mum, guiado pelo entendimento, e de imediato adentrar-se no estado esttico. Nessa transformao, que assemelha o contem- plador aos deuses, desaparece aquele limite ressaltado no captulo 1 entre objeto e sujeito quando da teoria da efetividade, e resta to-s uma unidade entre contemplador e contemplado, a ser con- siderada como mais um dentre os reflexos da unidade csmica 9 : ...enquanto, de acordo com uma significativa maneira de falar dos alemes, a gente se perde (verliert) completamente nesse objeto, isto , esquece a prpria individualidade, a prpria vontade, e permanece apenas como puro sujeito, claro espelho do objeto: ento, como se l estivesse apenas o objeto, sem ningum a perceb-lo, no se podendo mais separar aquele que intui da intuio, mas ambos tornam-se unos enquanto a conscincia est plenamente tomada e ocupada por uma clara imagem; quando, ento, o objeto est dessa maneira sepa- rado de toda relao externa e o sujeito separado de toda relao com a vontade, o que conhecido no mais a coisa individualizada enquanto tal, mas a Idia, a forma eterna, a objetidade imediata da Vontade neste grau: e justamente a, nessa intuio, no h mais indivduo, pois o indivduo se perdeu nessa intuio: ele o a-tempo- ral, puro sujeito do conhecimento, destitudo de vontade e dor. (W #34 210) da individualidade e dos fins: quanto ao princpio de razo, cedeu lugar na cons- cincia para a Idia, e o puro sujeito do conhecimento ocupou o lugar do indivduo. 9 tentador pensarmos que mesmo na teoria da efetividade, j de antemo, atua o pensamento da indiferena entre objeto e sujeito, pois, que a ligao analtica entre os conceitos ser-objeto e ser-sujeito seno a impossibilidade de operar-se uma deduo, de se postular a origem de um a partir do outro, vale dizer, a impos- sibilidade de diferenci-los? 59. 62 JAIR BARBOZA A passagem para o modo de conhecimento esttico, para o estado esttico, gravemos, sbita, espontnea, acontece de um s golpe, e, concomitantemente, a coisa que a ocasiona se trans- forma na Idia da sua espcie e o indivduo no puro sujeito do conhecimento. Indiferente se se est em um pao real ou em um calabouo, se quem olha um rei ou um prisioneiro. A im- pessoalidade do instante total. O olho que v no o de um particular, mas o claro olho csmico (klares Weltauge). O que nos faz pensar que, quando da contemplao da Idia, restabele- ce-se uma unidade originria que ficara esquecida na geografia da realidade efetiva, traada pelo princpio de razo. O olho csmi- co, justamente, sendo o olho impessoal desta unidade. Assim, quando o vu de Maia daquilo que aparece removido e a roda de xion da existncia cessa de girar, o indivduo imergindo no esta- do esttico o contemplador, por via da Idia platnica, mirando a cristalina imagem do Em-si ento, no limite, a prpria Von- tade, unidade restabelecida, que se autoconhece no espelho da representao. Por conseguinte, se h uma negao da vontade no estado esttico, ela a da Vontade em geral, que se manifesta no todo e inteira tanto em um carvalho quanto em um milho.10 Tanto que, no livro de encerramento da sua obra magna, o fil- sofo de Frankfurt equipara negao a supresso: ...Verneinung oder Aufhebung des Willens zum Leben....11 Portanto, ocorrendo uma supresso da individualidade no estado esttico, insista-se: ocorre uma negao da Vontade em geral, de vida.12 10 W #25 153. 11 W #62 394. 12 Neste ponto no podemos aceitar as colocaes de Muriel Maia, sustentando que a Vontade em geral no atingida na contemplao esttica, mas somente uma das formas essenciais de sua manifestao. No. Como vimos, a negao mesmo da Vontade em geral. Quanto dificuldade de o mundo no se acabar na negao, 60. IDIA E NEGAO DA VONTADE 63 Em suma: se na existncia encontramos fenmenos plura- lizados, relaes entre eles que envolvem de roldo a vontade in- dividual; se a experincia um complexo interligado de condi- cionado a condio, o indivduo atando-se a uma corrente efeito- causa/causa-desta-causa, e assim por diante, num movimento in- findo; se o que administra o domnio fenomenal a orientao terico-cientfica, ao lado dos interesses da vida prtica; pelo con- trrio, no modo de conhecimento esttico, no estado esttico, na contemplao da Idia platnica, ocorre um corte na linha hori- zontal do conhecimento dos fenmenos, passa-se para uma verticalidade cognoscitiva em que no importa mais o por que (Warum), me de todas as cincias 13 , sim o que (Was), o puro como (reine Wie) da coisa. Em vez de ser insatisfatria, a orientao est- tica apresenta-se plenamente reconfortante, porque encontra em toda parte seu fim; a vontade deixou de desejar e o intelecto de inquirir. Ao contemplar uma rvore, o claro olho csmico no