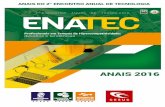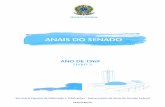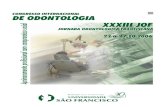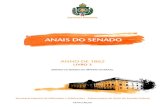Anais Enapehc 3
-
Upload
vinicius-carvalho-da-silva -
Category
Documents
-
view
293 -
download
3
Transcript of Anais Enapehc 3
-
Sumrio
Prefcio.....................................................................................................03
Textos completos em ordem alfabtica.....................................................06
Organizao, Realizao e Apoio...........................................................639
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014.
ISBN 978-85-62707-52-0
3
Prefcio
O Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das Cincias, anteriormente intitulado Encontro Nacional de Pesquisadores em Histria das Cincias um evento inteiramente organizado por alunos de ps-graduao e se destina, tambm, ao pblico discente de graduao ou de ps-graduao. Inicialmente realizado na UFMG, no ano de 2010, o primeiro encontro foi organizado por Francismary Alves da Silva, Gabriel da Costa vila e Paloma Porto Silva, ps-graduandos em Histria pela UFMG. No I ENAPEHC realizaram-se duas conferncias, ministradas pelos professores Olival Freire Jr. da UFBA e Ivan da Costa Marques da UFRJ. Tambm foram realizadas duas mesas redondas em que os professores Ricardo Fenati da FAJE, Mauro Lcio Leito Cond da UFMG, Eduardo Viana Vargas tambm da UFMG, Carlos Alvarez Maia da UERJ, Jos Carlos Reis da UFMG e Luiz Carlos Soares da UFF debateram temas concernentes Histria, Filosofia e Sociologia das cincias. A primeira edio do encontro contou com 5 Simpsios Temticos e 59 trabalhos apresentados por estudantes e pesquisadores das mais variadas instituies de ensino e pesquisa do Brasil. Durante o evento de 2010 a demanda pela realizao de uma segunda edio tornou-se evidente. Assim, no ano seguinte (2011) realizou-se, em Salvador, nas dependncias da UFBA, o II Enapehc. comisso organizadora inicial, foram acrescidos os nomes e esforos dos ps-graduandos Fbio Freitas, Frederik Moreira dos Santos, Gustavo Rodrigues Rocha, Nilton de Almeida Arajo e Thiago Hartz. Na segunda edio do evento realizou-se uma conferncia de abertura (ministrada pela professora Ana Carolina Vimieiro Gomes da UFMG), uma mesa redonda de encerramento (composta pelos debatedores Carlos Ziller Camenietzki da UFRJ, Flvio Coelho Edler da Fiocruz e Maria Margaret Lopes do MAST) e dois cursos avanados ministrados pelos professores Amlcar Baiardi (UFRB/UFBA) e Joo Carlos Salles (UFBA). Nessa ocasio, recebemos 39 propostas de comunicao oral de pesquisas concludas ou em andamento de docentes e discentes de diversas regies brasileiras.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014.
ISBN 978-85-62707-52-0
4
Em 2012, aps a realizao do 13 Seminrio Nacional de Histria da Cincia e da Tecnologia, realizado pela Sociedade Brasileira de Histria da Cincia SBHC nas dependncias da USP em So Paulo, a comisso organizadora optou pela alterao no nome do evento, mantendo, contudo, a abreviao ENAPEHC. Assim, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Histria das Cincias passou a chamar-se Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das Cincias, muito embora a motivao e o objetivo do evento tenham se mantido os mesmos.
Com intuito de dar continuidade aos debates promovidos pelas duas primeiras edies do evento, o III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 3 teve sua proposta de realizao gentilmente aceita pela professora Helena Miranda Mollo (UFOP) e, ento, foi acolhido pela Universidade Federal de Ouro Preto UFOP. A terceira edio do evento realizou-se entre os dias 16 e 18 de outubro de 2013, no Instituto de Cincias Humanas e Sociais (ICHS), campus de Mariana MG. Alm da comisso inicial formada por ps-graduandos da UFMG, somaram-se os nomes de Felipe Daniel do Lago Godoi e Lucas de Melo Andrade, ps-graduandos em Histria pela UFOP. Ressaltamos que sem a confiana em ns depositada pela professora Helena Miranda Mollo, sem a ajuda dos graduandos da UFOP que atuaram como monitores no evento e, sobretudo, sem a preciosa colaborao dos colegas Felipe Godoi e Lucas Andrade, o Enapehc 3 no teria se realizado dentro do prazo previsto.
Durante o Enapehc 3 realizaram-se duas mesas redondas e uma conferncia de abertura. A conferncia intitulada Para uma historiografia da cincia: agente, processos e artefatos foi ministrada pela professora Moema de Rezende Vergara do MAST. A primeira mesa redonda, intitulada Histria da cincia no Brasil, sculo XVIII e XIX contou com a participao dos professores Helena Miranda Mollo (UFOP), Karen Macknow Lisboa (USP) e Ronald J. Raminelli (UFF). A segunda mesa redonda, intitulada Histria e Filosofia das Cincias, contou com a participao dos professores Marlon J. Salomon (UFG), Mauro Cond (UFMG) e Patrcia M. Kauark Leite (UFMG). Alm da importante participao dos professores convidados, com grande orgulho que informamos o recebimento de 18 variadas propostas de Simpsios Temticos e 126 resumos para comunicao em Simpsio Temtico oriundos das cinco regies brasileiras; um aumento expressivo que demonstra o renovado interesse dos discentes e pesquisadores da rea pela manuteno dos debates promovidos pela Enapehc desde 2010. Os textos aqui publicados so resultados de pesquisas concludas ou em andamento que foram apresentados e discutidos ao longo dos trs dias de evento em Mariana MG. Esses textos de estudantes das mais variadas temticas representam, em grande medida, o futuro dos debates na rea da Histria, Filosofia e Sociologia das cincias. Sendo
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014.
ISBN 978-85-62707-52-0
5
assim, gostaramos agradecer a todos os participantes do Enapehc 3 que ajudaram a fazer do encontro um momento de troca de conhecimentos e de valioso aprendizado, experincias de grande proveito para todos os estudantes que se encontram em processo de formao.
Gostaramos, ainda, de agradecer ao Programa de Ps-Graduao em Histria da UFOP, pela realizao do evento. Ao Scientia - Grupo de Teoria e Histria da Cincia da UFMG, ao Programa de Ps-Graduao em Histria da UFMG e ao NEHM - Ncleo de Estudos em Histria da Historiografia e Modernidade da UFOP, pelo apoio. Em especial, gostaramos de agradecer aos professores: Helena Miranda Mollo (coordenadora do NEHM), Mauro L. L. Cond (UFMG), Carlos Alvarez Maia (UERJ), Marco Antnio Silveira (coordenador do PPG-His da UFOP), Ktia Gerab Baggio (coordenadora do PPG-His da UFMG), Bernardo Jefferson de Oliveira e Betnia Figueiredo Gonalves (coordenadores do Scientia) que nos ajudaram, de diferentes modos, na organizao do evento. Tambm agradecemos imensamente pela valiosa contribuio dos professores convidados: Moema de Rezende Vergara, Karen Macknow Lisboa, Ronald J. Raminelli, Marlon J. Salomon e Patrcia M. Kauark Leite. No poderamos esquecer o apoio dado pela Sociedade Brasileira de Histria da Cincia, a SBHC, nessa empreitada que se iniciou h 3 anos atrs. Agradecemos Rodrigo Machado da Silva pela normalizao dos textos desta edio. Por fim, gostaramos de agradecer a Universidade Federal de Ouro Preto UFOP e a Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, que promoveram e possibilitaram a realizao do Enapehc 3.
Felipe Daniel do Lago Godoi Mestrando em Histria da UFOP
Francismary Alves da Silva Professora da Universidade Federal de Rondnia e doutoranda em Histria da
UFMG
Gabriel da Costa vila Doutorando em Histria da UFMG
Lucas de Melo Andrade Mestrando em Histria da UFOP
Paloma Porto Silva Doutoranda em Histria da UFMG
Comisso Organizadora do Enapehc 3
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
6
TEXTOS COMPLETOS EM ORDEM ALFABTICA........................................................
AS QUATRO DIMENSES DE ACHILLE BASSI
Aline Leme da Silva UFABC- Universidade Federal do ABC
Mestranda em Ensino, Histria e Filosofia das Cincias e Matemtica Agncia Financiadora: CAPES
Plnio Zornoff Tboas UFABC- Universidade Federal do ABC
Doutor em Educao Matemtica [email protected]
Resumo: O trabalho apresentado um excerto de uma pesquisa mais ampla em Histria da Matemtica no Brasil, cujo objetivo analisar as dimenses de Achille Bassi como professor, pesquisador, divulgador e gestor da Matemtica. Achille Bassi, matemtico italiano, formado na Universidade de Pisa e Professor Catedrtico na Universidade de Bolonha, chegou ao Brasil em 1939 a convite do governo brasileiro para lecionar na Universidade do Brasil; posteriormente, passou por outras instituies de ensino como Universidade de Minas Gerais e Universidade de So Paulo (USP). Retratamos uma mostra da vida e obra de Achille Bassi ao longo de sua trajetria nessas instituies, com a finalidade de que sua produo possa ser divulgada junto comunidade cientfica brasileira. Ser dada nfase nos anos de 1953 a 1973, perodo em que Bassi foi diretor do Departamento de Matemtica da USP em So Carlos e, consequentemente, de maior relevncia em sua vida acadmica.
Palavras chave: Achille Bassi; Histria da Matemtica; ICMC-SC USP.
Abstract: The work presented is an excerpt from a larger study on the History of Mathematics in Brazil, aiming to examine the dimensions of Achille Bassi as "teacher", "researcher", "publisher" and "manager of mathematics." Achille Bassi, Italian mathematician, educated at the University of Pisa, and Professor at the University of Bologna, arrived in Brazil in 1939 at the invitation of the Brazilian government to teach at the University of Brazil; subsequently passed by other educational institutions like University of Minas Gerais and University of So Paulo (USP). Picture a shows the life and work of Achille Bassi along its trajectory in these institutions, in order that its production may be disclosed by the Brazilian scientific community. The emphasis will be in the years 1953-1973, during which Bassi was director of the Department of Mathematics at USP in So Carlos and hence of greater relevance in their academic life.
Keywords: Achille Bassi; History of Mathematics; ICMC-SC USP.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
7
Introduo
O trabalho aqui apresentado faz parte de um projeto maior em Histria da Matemtica que tem por objetivo analisar o personagem Achille Bassi sob quatro dimenses ou papis sociais, como professor, pesquisador, divulgador e gestor da Matemtica.
A ideia inicial para realizao deste projeto surgiu com a leitura do livro Uma Histria Concisa da Matemtica no Brasil de Ubiratan DAmbrsio (2008), em que o autor sugere algumas possibilidades de pesquisa em Histria da Matemtica no Brasil. Entre algumas das sugestes do autor, a que me chamou a ateno foi a atuao de Achille Bassi no cenrio brasileiro e que ainda no havia sido estudada de maneira sistemtica.
Para que os objetivos da pesquisa sejam alcanados, utilizaremos uma abordagem de Histria Vertical, em que o pesquisador de Histria da Cincia parte de uma perspectiva interdisciplinar, em que a cincia em foco meramente encarada como um dos elementos na vida cultural e social do perodo em causa (KRAGH, 2001, p. 91). Ou seja, um elemento no pode ser dissociado dos demais elementos. No caso especfico de Achille Bassi, no podemos desmembrar o professor, do pesquisador, do divulgador e do gestor da Matemtica. Por este motivo, ao tentarmos falar separadamente de cada um dos papis sociais do professor Bassi na tentativa de tornar o texto mais didtico, vemos que esses papis se entrelaam a todo o momento e do origem ao personagem aqui estudado.
A reconstruo desse personagem e sua contribuio Matemtica no Brasil devem ser encaradas como o ponto de vista do autor, que no deve emitir julgamentos ou juzos de valor, pois em Histria no existe ponto de vista correto, mas sim, uma interpretao provisria. Lembrando sempre que o personagem estudado no era um indivduo isolado, mas que agiu em um contexto do passado, estimulado por uma sociedade e, portanto, tambm deve-se estudar o meio histrico e social em que Bassi estava inserido (CARR, 1996).
Ao analisarmos as contribuies do personagem estudado, acabamos construindo uma biografia incompleta do mesmo, j que, segundo Carr (1996) deve-se estudar o historiador antes de comear estudar os fatos. Ento, antes de estudar a contribuio de Achille Bassi, devemos estudar quem foi esse personagem, pois a partir do estudo desse passado que tentaremos compreender o presente. Desta forma, a funo do historiador no amar o
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
8
passado ou emancipar-se do passado, mas domin-lo e entend-lo como a chave para a compreenso do presente (CARR, 1996).
Achille Bassi como professor
Bassi nascido em 09/08/1907 se formou em Matemtica pela Escola Normal Superior de Pisa em 1929 e sua tese recebeu o prmio Eugnio Bertini que era concedida pela Universidade ao aluno que desenvolvesse a melhor dissertao de Matemtica do ano (BASSI, 1961, p. 4).
No ano seguinte, aps concluir um curso de extenso na prpria Universidade de Pisa, Bassi foi nomeado assistente do Professor Francesco Severi, professor catedrtico da Universidade de Roma, para os cursos de Anlise Algbrica e Infinitesimal. Alm de tambm ser nomeado assistente da cadeira de Geometria Analtica e Projetiva e Descritiva da Universidade de Turim, por meio de concurso pblico no ano de 1933 (BASSI, 1961, p. 3 - 4).
Ainda na Itlia, Bassi foi nomeado professor interino para o ensino de Geometria Descritiva e Complementos de Geometria Projetiva pela Universidade de Bologna em 1937 e para a cadeira de Geometria Superior em 1938. (BASSI, 1961, p. 5).
Aps aceitar o convite do governo brasileiro em 1939 para lecionar na FNFi (Faculdade Nacional de Filosofia), integrante da Universidade do Brasil, Bassi passou a reger a cadeira de Geometria nessa instituio (SILVA, 2006, p. 6). No ano seguinte, Bassi afirma ter introduzido a noo de Topologia Combinatria, at ento desconhecida no Brasil, na qual Bassi dedicou o curso de Geometria Superior (BASSI, 1961, p. 6).
No ano de 1941, Bassi era responsvel em ministrar a disciplina de Geometria Superior e Complementos de Geometria Projetiva na FNFi para alunos dos cursos de Matemtica e Fsica, totalizando uma carga horria de 6 horas semanais (SILVA, 2002, p. 110).
Ainda na FNFi, Bassi organizou um curso de extenso bienal em que um de seus alunos foi Leopoldo Nachbin, considerado um dos mais importantes matemticos brasileiros e membro fundador da CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Fsicas) e do IMPA (Instituto Nacional de Matemtica Pura e Aplicada). Nachbin, inclusive, elaborou um trabalho sob orientao de Achille Bassi (BASSI, 1961, p. 6).
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
9
Alm de toda essa atividade no Rio de Janeiro, em 1943 Bassi foi convidado a lecionar um curso de Topologia na FFCL (Faculdade de Filosofia, Cincia e Letras) da USP (Universidade de So Paulo) (BASSI, 1961, p. 7). Segundo Silva (2002), com a sada de Giacomo Albanese da FFCL, Bassi tambm passou a ir lecionar em seu lugar a disciplina de Geometria Superior na USP (SILVA, 2002, p. 117).
J em 1947, o professor Bassi aceitou o convite para atuar na Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, onde permaneceu at 1952, porm, no encontramos registros de sua atividade como docente nessa instituio. Enquanto permaneceu nessa Universidade, sua principal preocupao foi em relao construo de uma biblioteca e a nomeao de assistentes, o que no ocorreu (BASSI, 1961, p. 8 - 9). Entretanto, essa atitude mostra a preocupao que esse personagem tinha com a pesquisa, seu objetivo era fazer uma verdadeira escola cientfica no Brasil, orientada para a investigao.
Em 1953, Achille Bassi transferiu-se para a Escola de Engenharia de So Carlos com o objetivo de organizar o Departamento de Matemtica e assumiu a cadeira de Geometria. Em So Carlos, alm de lecionar as disciplinas da cadeira de Geometria, tambm organizou um curso de Doutoramento e orientou seu assistente, o Professor Gilberto Francisco Loibel (BASSI, 1961, p. 10). A tese de Loibel para obteno do ttulo de doutor intitulou-se Sobre Quase-Grupos Topolgicos e Espaos com Multiplicao e foi publicada em 1959.
Para que Bassi foi orientador de doutorado do Professor Loibel, ele teve que ser convencido:
Houve, em um tempo, alguma dificuldade em convencer o professor Bassi a me orientar. Ele achava que era cedo ainda. Realmente, talvez para padres atuais fosse mesmo cedo, porque eu estava comeando a ps graduao. Naquela poca no existia mestrado, ento eu propunha ao Professor Bassi: - Muito bem, deixe que eu arrumo um orientador em So Paulo. - No, eu vou orient-lo. - Ento, vamos tocar a orientao para a frente (LOIBEL, 2000).
Silva (2006) destaca a importncia de Loibel no cenrio brasileiro:
Desde sua chegada EESC da USP at sua aposentadoria Gilberto Francisco Loibel foi um dos principais impulsionadores do excelente ambiente de estudos e pesquisa em matemtica da regio do Estado de So Paulo que compreende So Carlos, Rio Claro e Campinas. Ele foi um dos matemticos brasileiros que muito contribuiu para a fase de consolidao da pesquisa em nosso pas (SILVA, 2006, p. 80).
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
10
Ainda tratando do personagem Achille Bassi como professor, devemos citar o trecho ressaltado por Nelo Alan, ex-aluno de Bassi em 1950 na disciplina de Geometria Projetiva, em que Nelo afirma que muitos alunos no gostavam de Bassi por causa da lngua italiana (FVERO, 1992 apud SILVA, 2002). Nelo Alan, sendo aluno de Bassi pela FNFi em 1950 tambm nos mostra que Bassi, nesse perodo, lecionava tanto na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, como tambm na Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte e que, portanto, devia fazer longas viagens de um estado ao outro semanalmente ou, at mesmo, diariamente.
Em So Carlos, foi seu aluno do curso de Engenharia o professor de matemtica da Educao Bsica Celso Zoega Tboas, radicado em Leme, interior do estado de So Paulo. O prof. Celso Tboas contava a seus colegas e testemunha disso o seu filho Plnio Zornoff Tboas, coautor desse trabalho que o prof. Achille Bassi dava aulas na Escola de Engenharia de So Carlos, em 1954, em italiano; num certo dia, entrou na sala de aula e comeou a falar um portugus correto e fluente para surpresa de seus alunos. Indagado sobre o porqu no tinha feito isto antes, revelou que temia no conseguir expressar-se corretamente
em portugus e, em consequncia, no conseguir conceituar corretamente os elementos da matemtica para os seus alunos.
Segundo documento anexo ao processo de contagem de tempo de servio do Professor Bassi, os trabalhos desenvolvidos por ele e que foram considerados como didticos so: O significado da Escola de Engenharia de So Carlos de 1953, Elementos de Geometria Projetiva de 1954, Elementos de Geometria Projetiva (edio ampliada) de 1966, Noes crticas elementares de topologia geral de 1955, Consideraes introdutrias sobre os sistemas lgico-dedutivos de 1956, Problemas educacionais brasileiros de 1963, Discurso por ocasio da ctedra de Geometria de 1963, Galileu Galilei. Conferncias Comemorativas de 1965 (Processo USP, lista n3).
A obra Geometria Projetiva, de 1967, representa o curso homnimo que Bassi ministrou na Escola de Engenharia de So Carlos para os alunos da Engenharia Civil e, segundo o autor, uma verso melhorada de cursos que ministrou anteriormente na Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, durante sua permanncia nessa instituio. Esse livro foi utilizado por vrios anos por professores que ministravam a disciplina de Geometria Projetiva na USP de So Carlos.
O livro Consideraes introdutrias sobre os sistemas lgico-dedutivos publicado em 1972 uma apresentao das noes fundamentais sobre os sistemas lgico-dedutivos
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
11
destinada a professores do Ensino Secundrio e por esse motivo foram reduzidas ao mnimo possvel notaes e locues tcnicas, que no fazem parte da bagagem cultural usual do Professor de Ensino Secundrio, e mais prprias dos especialistas (BASSI, 1972). Essa obra foi revista pelo professor Edison Farah, personagem de destaque e que influenciou as pesquisas em lgica no Brasil no final dos anos 50 (MORAES, 2008, p. 57).
No livro Problemas Educacionais Brasileiros de 1963, Bassi publicou alguns artigos que discorriam sobre a situao do ensino primrio da poca e sobre as possveis providncias a serem adotadas para a eliminao do analfabetismo. Esses artigos foram publicados no Jornal do Comrcio do Rio de Janeiro nos dias 1, 4, 6 e 7 de fevereiro de 1962 (BASSI, 1963).
Em 1965, o professor Bassi comeou a se dedicar aos estudos de Histria da Matemtica, centralizando seus estudos na vida e obra de Galileu Galilei o que gerou a publicao de duas obras: Galileu Galilei: Anlise do homem e de sua obra no IV centenrio do seu nascimento publicado em 1965 e Significao da obra de Galileu Galilei de 1966.
A primeira das obras foi um pedido da Diretoria da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, em comemorao ao IV centenrio do nascimento de
Galileu Galilei. O livro de 1965, lanado em Belo Horizonte, foi dividido em duas partes: a primeira parte, que segundo o autor constituiu a Aula Inaugural dos Cursos da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais proferida em 9 (nove) de maro daquele ano, trata da vida e das obras de Galilei; e a segunda parte, que trata da importncia e influncia da obra de Galileu, constituiu resumidamente uma conferncia realizada em Belo Horizonte no dia seguinte.
J o segundo livro, intitulado Significao da Obra de Galileu Galilei, foi lanado pelo Instituto Italiano de Cultura em 1966, no Rio de Janeiro. Pode-se observar que as duas obras na verdade so as mesmas com uma nica diferena: na primeira obra h uma nota no rodap do prefcio explicando que o livro um produto da aula inaugural e da conferncia realizada pelo autor, citadas anteriormente.
Pode-se observar que as datas das publicaes das obras contidas na listagem da USP no coincidem com as datas das publicaes das obras aqui mencionadas, o que nos leva a concluir que ocorreram outras edies da mesma obra, porm, a numerao da edio no consta nos livros consultados.
Achille Bassi como pesquisador
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
12
Ainda na Itlia, Bassi produziu e publicou alguns artigos e obras listadas no documento de contagem de tempo de servio para sua aposentadoria, tais como:
1. Sulla Riemanniana dell Sn proiettivo publicado pela revista Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo em 1932.
2. Un problema topologico di esistenza publicado pela Reale Accademia dItalia como Memorie della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali em 1935.
3. Su di una notevole operazione topologica tra complessi publicado pelo Giornale di Matematiche di Battaglini em 1935.
4. Su alcuni modelli topologici del Poincar publicado pela Reale Accademia dItalia como Memorie della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali em 1935.
5. Su di una formola topologica del Vietoris publicado pelo Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere em 1935.
6. Alcune osservazioni su di un'affermazione del Dehn circa la decomponibilit in celle delle variet topologiche ad n dimensioni publicado pelo Bolletino dellUnione Matematica Italiana em 1935.
7. Su di alcune formole di geometria delle variet algebriche publicado pela revista Renticonti del Circolo Matematico de Palermo em 1936.
8. Su alcuni nuovi invarianti delle variet topologiche publicado pelos Annali di Matematica Pura ed Applicata em 1937.
9. Recenti ricerche nel campo della topologia delle variet publicado pela Societ Italiana per il Progresso delle Scienze em 1938. Alm destes, ao realizar pesquisas na internet, encontramos mais trabalhos publicados
por Bassi e que no se encontram na listagem da USP. So eles: Esercizi e problemi di algebra complementare, ad uso dei secondo biennio degli istituti tecnici. Vol I (per la 3e classe), parte I e II, Del teorema di Stewart relativo ai triangoli sferici e sue consequenze, Risoluzione dei trianguli piani; norme ed esempi, Appunti di geometria metrica: tetraedro a faccie uguali; tetraedro ortocentrico, Equazioni e sistemi irrazionali reducibili ai primi due gradi, Sui raggi dei cerchi ex-inscritti ad un quadrangolo inscrivibile, 51 quistione a concorso, Teoria della rotazione per la risoluzione dei problemi di costruzione geometrica, Di alcune notevoli relazioni metriche fra gli elementi di un quadrangolo, e Sezioni circolari del cilindro e del cono obliqui; assi del cono. Esta lista de obras publicadas por Bassi pode ser
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
13
verificada no sistema Jahrbuch Database - Electronic Research Archive for Mathematics atravs de pesquisa.
J no Brasil, Bassi publicou em ambos os pases, mas a maioria de seus trabalhos ainda estavam em lngua italiana. Segundo o documento da USP, foram publicadas as seguintes obras antes de se tornar docente do Departamento de Matemtica da Escola de Engenharia de So Carlos:
10. Sopra lindipendenza di alcuni invarianti topologici publicado pela revista Rendiconti delle Academia Nazionale dei Lincei em 1948.
11. Sopra lesistenza di una variet topologica con numeri del Betti essegnati publicado pelos Anais da Academia Brasileira de Cincias em 1949.
12. Sul concetto di complesso e di equivalenza combinatoria publicado pela Annali di Matematica Pura ed Applicata em 1949.
13. Dualit nelle variet con contorno e variet contorno completo di altre publicado como nota prvia pela Revista Cientfica em 1951.
14. Sistemas matemticos com axiomtica fraca publicado como nota prvia no Anurio da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto em 1951. Em So Carlos, segundo o documento, seus trabalhos de pesquisa realizados e
publicados foram: 15. Dos movimentos a Poinsot de um corpo rgido em trno de um ponto fixo (Tese) de
1959. 16. A dualidade nas lgebras de Boole topolgicas e suas consequncias (Tese) de 1961. 17. Propriet di monotonia nelle algebre del Boole. 18. Sui polinomi in um algebra del Boole com topologia publicado pela Revista
Rendiconti da Accademia Nazionale dei Lincei em 1967. 19. Polinomi e dualit in unalgebra del Boole com topologia publicado como nota
prvia pela revista Rendiconi di Matematica. 20. Polinomi e dualit in unalgebra del Boole com topologia como memria aceita para
publicao nos Annali di Matematica Pura ed Applicata. Por fim, classificados como outros trabalhos de Bassi no documento da USP, ainda
temos:
21. L'Universit e la Scuola di Matematica di Princeton em 1938 publicado pela Conferenza di Fisica e Matematica em 1938.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
14
22. Da importncia da topologia na Matemtica Moderna publicado pelo Instituto Italo-brasileiro de alta cultura em 1941.
23. A Matemtica Moderna e a Necessidade de sua Difuso de 1948 publicado pela Kriterion em 1948.
24. Elementos de Geometria Projetiva (Mimeografia). Belo Horizonte: 1951. 25. Elementos de Geometria Projetiva das curvas algbricas (Mimeografia): Belo
Horizonte: 1951. 26. Determinismo mecnico e livre arbtrio resultado da Aula inaugural dos cursos da
Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto de 1952. O livro intitulado Da importncia da topologia na matemtica moderna publicado em
1941 tratou-se de uma conferncia realizada por Achille Bassi na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil como instrues prvias ao curso de Geometria Superior (BASSI, 1941, p. 7). No texto, Bassi cita os personagens que contriburam eficazmente para o progresso da topologia como Betti, Poincar, Cantor, Peano, Brower, Frchet, entre outros (BASSI, 1941, p. 8). Tambm relembra sua viagem aos Estados Unidos ocorrida em 1935, dizendo que o objetivo da mesma foi conhecer os ltimos passos da topologia (BASSI, 1941, p. 11). Alm de destacar a seu ver, a importncia a topologia:
Assim, eu creio que, para todo o jovem que queira apoderar-se dos conhecimentos vivos da matemtica moderna, seja de suma importncia familiarizar-se, em primeiro logar, com a topologia. Conhecida esta, ento, muitas outras teorias parecero quase familiares, mesmo antes de iniciar o seu estudo, porque se apresentaro numa transparente perspectiva que deixar compreender os seus segredos e, portanto, nas condies mais favorveis para serem possudas com facilidade. Penso que no exagero dizendo que a aquisio de muitas outras teorias modernas far, ento, o efeito de uma fcil descida e no o de uma penosa ascenso (BASSI, 1947, p. 11-12).
O texto A Matemtica Moderna e a Necessidade de sua Difuso de 1948 foi o resultado de uma aula inaugural proferida por Bassi aos estudantes da Universidade de Minas Gerais, ocorrida no dia 3 (trs) de maro de 1945. No texto, Bassi afirmou que no faria somente uma resenha com o objetivo de divulgar os novos resultados e aspectos do pensamento cientfico [...], que me proporciona um desejado ensejo para combater alguns preconceitos, referentes a minha cincia, mas que tambm lanaria uma palavra de encorajamento s pessoas que pleiteiam participe o Brasil, em proporo maior do que no passado, do trabalho internacional de pesquisa (BASSI, 1948, p. 1). Esse trecho mostra, mais
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
15
uma vez, a importncia dada por Achille Bassi pesquisa, pois para ele, o ensino estava estreitamente ligado pesquisa e era o aspecto mais importante a ser considerado (SILVA, 2002, p. 117).
Alm dos j mencionados, entre os anos de 1935 e 1936, Achille Bassi esteve na Universidade de Princeton como professor visitante e, posteriormente, como membro do Instituto de Estudos Avanados (BASSI, 1961, p. 5). Enquanto esteve em Princeton, Bassi tambm escreveu um artigo intitulado On some new invariants of a manifold que foi publicado pelo prprio Instituto de Princeton em 1936.
Segundo o memorial escrito por Bassi, referente sua formao intelectual, vida e atividade profissional ou cientfica, anexado ao seu processo de contagem de tempo de servio, o perodo em que permaneceu no Rio de Janeiro est datado de 1939 a 1947, entretanto, encontramos um Dirio Oficial do dia 5 de janeiro de 1952, em que se aprovou a contratao de Achille Bassi pela FNFi como professor da disciplina de Topologia da Cadeira de Matemtica e Anlise Superior. Essa aprovao de contrato encontrada no dirio oficial corrobora com a informao, mencionada anteriormente, de que Bassi atuava em Universidades localizadas tanto no Rio de Janeiro (FNFi), como tambm em Belo Horizonte (UFMG).
Analisando o perodo de 1939 a 1947 intervalo em que o personagem estudado classificou como o passado no Rio de Janeiro - Bassi pouco produziu como pesquisador. Este fato pode ser verificado por meio da observao das datas de publicaes de seus textos. Podemos, ento, conjecturar alguns motivos para justificar essa baixa produo cientfica. Primeiramente, logo aps sua chegada para atuar na FNFi, Bassi recebeu a notcia de que sua cadeira de Geometria tinha sido suprimida pelo Departamento Administrativo do Servio Pblico (DASP) e, portanto, no poderia propor a nomeao de assistentes. Alm desta, outra dificuldade enfrentada por Bassi, que o impediu de fazer uma verdadeira escola cientfica (viveiro por assim dizer, de novos cientistas) no Rio de Janeiro, foi a falta de uma biblioteca matemtica, por modesta que fosse, orientada para a investigao (BASSI, 1961, p. 7).
Problemas enfrentados durante a guerra tambm podem ter interferido na sua produo intelectual?
Desde que chegou ao Brasil, Bassi tentou implementar uma biblioteca, o fez no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, entretanto, seus projetos fracassaram (BASSI, 1961, p.7-9). De forma a sanar esse problema, em So Carlos, Bassi no somente conseguiu verba para a criao e manuteno de uma biblioteca, como tambm orientou alguns projetos de pesquisa,
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
16
embora esses projetos fossem interrompidos por um perodo devido a necessidade de revalidao de seus ttulos (BASSI, 1961, p. 10).
Ainda sobre a implementao de uma biblioteca orientada investigao em So Carlos, na poca, havia no Brasil uma s biblioteca matemtica com estas caractersticas, situada na cidade de So Paulo. Entretanto, em apenas 3 (trs) anos conseguiu-se montar uma biblioteca boa, tambm em sentido internacional, que permitisse um srio trabalho de investigao cientfica, graas aos esforos tanto de Bassi como tambm do governo estadual (Processo USP, p. 1).
Segundo Loibel (2000), Bassi era defensor da ideia de que o Departamento de Matemtica da EESC necessitaria de verba equivalente ao salrio de um professor catedrtico em tempo integral para a manuteno dessa biblioteca, para as aquisies, entretanto, essa ideia nem sempre foi bem sucedida (LOIBEL, 2000). Alm disso:
Ele lutava pela biblioteca, ia atrs de livros, comprava livros em sebo, tinha amigos livreiros. Era italiano, ento tinha conhecidos na Itlia [...]. Ele comprava coisas que ningum pensava em comprar. A biblioteca tem uma coleo de obras clssicas, que so muito valiosas, so coisas importantes, tem obras de 1700 e pouco, livros de Bernoulli. Tem livros rarssimos e colees de revistas muito boas (TBOAS, 2000).
Desde 1947, Achille Bassi tinha preconizado uma nova Teoria A Teoria dos Grupos Topolgicos que foi por seu conselho, desenvolvida por seu assistente Loibel para obteno do ttulo de doutor apresentada Escola de Engenharia de So Carlos em 1959. Podemos verificar essa informao no prefcio da tese A Dualidade de Boole Topolgicas e suas Consequncias, de Achille Bassi, publicada em 1961, que foi sua Tese de concurso cadeira de Geometria da Escola de Engenharia de So Carlos. Sua tese de ctedra representa uma mudana na orientao dos seus estudos de investigao, que at ento foram principalmente dedicados Topologia Algbrica (AROUCA, 1973, p. 4).
A partir de 1960 Bassi se dedicou aos estudos de lgebra Moderna e, consequentemente, elaborou duas teorias: Teoria da Dualidade Geral da Matemtica, tratada em sua tese de ctedra e, Teoria dos Polinmios Topolgicos que foi elaborada durante um estgio realizado por Bassi no IMPA (AROUCA, 1973, p. 4).
Segundo o pronturio de Bassi, a concesso expedida pelo Reitor da USP para que pudesse desenvolver suas pesquisas junto IMPA, foi publicada no dia 12 de julho de 1963, sendo concedido o prazo de afastamento de um ano e meio, sem prejuzos de vencimentos.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
17
Alm desta, tambm est listada em seu pronturio outra concesso de afastamento para realizar trabalhos de investigao junto ao IMPA, publicado em 5 de maio de 1971 e concedendo um afastamento de um ano.
Ao retornar do IMPA, Bassi fez uma breve exposio de suas pesquisas realizadas e destacou a importncia da teoria por ele desenvolvida, dizendo:
No ms passado alcancei, com o auxlio desta teoria, a rigorosa demonstrao de um teorema sbre os Operadores Topolgicos, que permite resolver completamente um importante problema das lgebras de Boole, proposto h 25 anos e, at agora, no resolvido. (A determinao de todos os Operadores Topolgicos que, como aqule clssico, do Fecho, sejam capazes de introduzir uma lgebra de Boole geral, ou seja, no completa, uma Topologia) (BASSI, 1964, p. 2).
No documento que trata das Realizaes do Departamento de Matemtica da Escola de Engenharia de So Carlos desde sua fundao at 31/12/1966, encontramos a seguinte citao que trata da atividade de investigao do Departamento de Matemtica do qual Achille Bassi era o diretor:
Atualmente, a atividade de investigao do Departamento vai centralizando-se em trs direes distintas. Uma na lgebra Moderna, consistindo no estudo de sistemas matemticos novos (lgebras de Boole e Reticulados com Operadores) e das funes nles existentes. Estudo de notvel intersse para a Matemtica, a Lgica Moderna e, talvez, em vista da opinio de alguns, tambm para a Eletrnica. Direo desenvolvida nestes ltimos anos pelo Prof. Bassi. Uma outra direo na Topologia Algbrica e Diferencial, confiada ao Prof. Loibel que, iniciado na investigao pelo Prof. Bassi, est agora por sua vez endereando para a investigao alguns instrutores e bolsistas (Processo USP, p. 2 - 3).
Achille Bassi como divulgador
No dia 11 de setembro de 1965 foi concedido Achille Bassi o afastamento no prazo de 75 dias para que o mesmo proferisse uma conferncia no Instituto de Alta Matemtica em Roma, alm de viajar para os Estados Unidos com o objetivo de estabelecer contatos com os cientistas (Pronturio).
Ao retornar da viagem, Bassi escreveu um relatrio das atividades realizadas durante esse perodo. Primeiramente, participou, em Roma, do Simpsio Internacional de Geometria Algbrica que foi organizado pela Academia dos Lincei, pelo Instituto de Alta Matemtica e
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
18
pela International Mathematical Union. Nesse Simpsio Bassi fez uma conferncia de uma hora, onde expos suas recentes pesquisas. Terminado o Simpsio, visitou os Institutos de Matemtica de algumas Universidades italianas tais como: Pisa, Bologna, Turim, Milo e Gnova, nas quais tambm proferiu conferncias (BASSI, 1965).
Na carta enviada ao Diretor da Escola de Engenharia de So Carlos (Dr. Theodoro de Arruda Souto), Bassi evidenciou o quo prazeroso foi para ele saber que na Itlia foram criadas ctedras de Histria da Cincia em vrias Universidades. Em suas palavras:
Vejo isto com muito prazer, porque meu convencimento ser a Histria das Cincias no mera erudio, mas arma indispensvel para valutar de maneira mais profunda, afora das tendncias de modas passageiras, tambm o valor dos problemas da cincia de hoje (BASSI, 1965).
Antes de retornar ao Brasil, Bassi foi aos Estados Unidos onde visitou o Instituto de Matemtica da Columbia University e tambm Princeton. Nessas visitas estabeleceu contato com alguns pesquisadores, alm de reencontrar seu orientador do perodo em que esteve como professor visitante e membro do Institute for Advanced Study de Princeton, o Professor Solomon Lefchetz (BASSI, 1965).
Na mesma carta, Bassi aproveitou para criticar o salrio dos professores da Universidade de So Paulo que, segundo o que havia constatado na Itlia, era cerca de metade do salrio de um professor italiano (BASSI, 1965).
Analisando o pronturio do professor Bassi, vemos que o mesmo realizou poucas viagens com o objetivo de divulgao cientfica. Alm da j mencionada viagem Itlia e aos EUA, tambm encontramos uma concesso de afastamento de 20 (vinte) dias para que o professor participasse do I Colquio Brasileiro de Matemtica que ocorreu na cidade de Poos de Caldas - MG em 1957. Dois anos depois, em 1959, tambm foi concedido uma licena de 14 (catorze) dias para que pudesse participar do II Colquio Brasileiro de Matemtica que ocorreu na mesma cidade que o anterior. E, finalmente, em 1966 conferiu-se a Bassi a dispensa de 3 (trs) dias para que o mesmo realizasse uma conferncia na Universidade do Paran sobre suas recentes pesquisas. O convite para realizao da conferncia partiu do prprio Departamento de Matemtica da referida Universidade (Pronturio).
Embora em seu pronturio no conste, no prefcio de algumas de suas obras publicadas encontramos a especificao de que se tratavam de conferncias realizadas por Bassi em aulas inaugurais de alguns cursos de Universidades. o caso do livro Significao da Obra de Galileu Galilei de 1966, resultado da Aula Inaugural dos Cursos da Faculdade de
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
19
Filosofia da Universidade de Minas Gerais, a obra Da importncia da topologia na matemtica moderna publicado em 1941 que se tratou de uma conferncia realizada por Achille Bassi na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil e, por fim, A Matemtica Moderna e a Necessidade de sua Difuso de 1948, resultado de uma aula inaugural proferida por Bassi aos estudantes da Universidade de Minas Gerais.
Achille Bassi como gestor da Matemtica
O papel social desempenhado por Achille Bassi de maior relevncia para consolidao de um espao de ensino e pesquisa em Matemtica no Brasil foi o de gestor do Departamento de Matemtica da EESC e posterior Instituto de Matemtica da USP de So Carlos. Esse papel teve incio no dia 7 de maro de 1953, quando Bassi assumiu pelo prazo de 3 (trs) anos o cargo de Professor Catedrtico correspondente Cadeira n12 de Geometria, formada pelas disciplinas Geometria Analtica e Elementos de Geometria Projetiva e Geometria Descritiva, com Desenhos (Pronturio).
O cargo assumido por Bassi foi prorrogado por algumas vezes, at que efetivou-se por meio de concurso e, no dia 20 (vinte) de setembro de 1961 assumiu o cargo de professor catedrtico de Geometria em carter vitalcio (Pronturio).
No dia 4 (quatro) de fevereiro de 1972 Bassi foi designado para exercer a funo de Diretor pr tempore do Instituto de Matemtica de So Carlos e, no dia 11 (onze) de janeiro de 1973 assume o cargo de Diretor do Instituto de Cincias Matemticas de So Carlos (Pronturio).
Embora no encontramos no seu pronturio nenhuma anotao ou data referente a sua designao de estar a frente do Departamento de Matemtica da Escola de Engenharia de So Carlos, este fato pode ver verificado por meio dos vrios documentos anexados ao processo de contagem de tempo de servio do Professor Bassi, tambm nos depoimentos dos professores referentes comemorao dos 30 (trinta) anos do ICMC (Instituto de Cincias Matemticas e de Computao da USP, alm de constar no documento de Realizaes do Departamento de Matemtica da Escola de Engenharia de So Carlos desde sua fundao at 31/12/1966. Nesse documento afirma-se que os primeiros anos de Bassi a frente do Departamento foram dedicados a organizar a biblioteca que:
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
20
Constituiu uma rdua tarefa, dificultada pela destruio, na Europa, devido guerra, de importantes depsitos de livros e pela fortssima competio aquisitiva dos Estados Unidos que, na mesma poca, estava equipando numerosas bibliotecas novas de vrias universidades (Processo Usp, p. 1).
Como chefe do Departamento, Bassi tambm se preocupou em contratar professores estrangeiros para lecionar e realizar investigao cientfica. Foram, ento, contratados os professores Jaurs Cecconi e Ubaldo Richard, ambos analistas que tiveram seus trabalhos de pesquisa publicados em revistas italianas. O Professor Jaurs Cecconi tambm foi orientador de Ubiratan DAmbrosio em seu doutorado, cuja tese intitulou-se Superfcies generalizadas e conjuntos de permetro finito que lhe conferiu o ttulo de Doutor em Cincias pela Escola de Engenharia de So Carlos em 1963 (VALENTE, 2007, p. 55). Posteriormente, o Professor Cecconi se afastou do Departamento de Matemtica por ter vencido concurso para uma cadeira efetiva e o Professor Richard por obter a direo de um Instituto de Clculo, ambos na Itlia (BASSI, 1961).
Sob a direo de Achille Bassi, o Departamento [de Matemtica da EESC] produziu entre 1955-1960 mais de vinte trabalhos cientficos, dos quais a metade aproximadamente de autoria de jovens capazes que aqui se educaram (BASSI, 1961).
Bassi tambm teve uma importante participao no Conselho Universitrio. Sua nomeao para a funo de membro representante da EESC junto ao Conselho deliberativo do Instituto de Pesquisa e Matemticas ocorreu no dia 9 (nove) de novembro de 1960 de acordo com seu pronturio. A participao de Bassi no conselho foi de importncia crucial para a criao do Instituto de Cincias Matemticas de So Carlos no dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 1971, constituindo-se dos Departamentos de Matemtica e de Cincias de Computao e Estatstica, desvinculados da EESC (ICMC).
Segundo o professor Arouca:
Sem descurar de suas atividades cientficas, na qualidade de representante da Egrgia Congregao da Escola de Engenharia de So Carlos, desenvolveu brilhante atividade no Conselho Universitrio na poca da Reforma, tendo, entre outras realizaes, contribudo decisivamente para a criao de mais duas unidades da USP em So Carlos: o Instituto de Cincias Matemticas e o de Fsica e Qumica (AROUCA, 1973, p. 5-6).
Consideraes finais
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
21
Esse excerto com foco na historiografia brasileira da cincia teve como objetivo a divulgao junto comunidade cientfica brasileira da vida e obra de Achille Bassi. Desta forma, o objeto de anlise tratou-se de uma descrio principalmente de sua atuao profissional e produo cientfica.
A partir do exposto acima, podemos verificar que o professor Bassi pode ser encarado como um personagem mltiplo, que contribuiu no somente para o desenvolvimento da Matemtica como disciplina, mas tambm como rea de pesquisa. Suas atitudes no foram lineares, assumindo os quatro papis sociais aqui expostos de forma descontnua, com rupturas, assim como a histria.
Tambm podemos verificar que Bassi centralizou seus estudos em Matemtica Pura, entretanto, no decorrer de sua trajetria tambm publicou livros que se referiam Educao Bsica e livros didticos como caso de Elementos de Geometria Projetiva de 1967.
Podemos, ento, concluir que este professor contribuiu para a efetivao de um espao de pesquisa e ensino de Matemtica no Brasil no somente por seus estudos na rea, mas por proporcionar a ampliao desse espao no decorrer de sua trajetria e, principalmente, durante o perodo que esteve na direo do Departamento de Matemtica e posterior Instituto de Matemtica da USP de So Carlos.
Referncias Bibliogrficas
AROUCA, M. Discurso pronunciado nos funerais do Professor Achille Bassi. So Carlos: 1973.
BASSI, A. A dualidade nas lgebras de Boole topolgicas e suas consequncias. So Carlos: USP/Escola de Engenharia de So Carlos, 1961. [Tese de concurso Cadeira n12 Geometria].
BASSI, A. A Matemtica Moderna e a Necessidade de sua Difuso. Separata da Revista Brasileira de Estatstica, Rio de Janeiro, n. 32, 1948.
BASSI, A. Alcune osservazioni su di unaffermazione del Dehn circa la decomponibilit in celle delle variet topologiche ad n dimensioni. Bologna: Nicola Zanichlli Editore, 1935.
BASSI, A. Carta enviada ao Prof. Dr. Theodoro de Arruda Souto, 1965.
BASSI, A. Consideraes Introdutrias sobre os Sistemas Lgico-dedutivos, 1972.
BASSI, A. Da importncia da topologia na Matemtica Moderna. Rio de Janeiro: Instituto Italo-brasileiro de Alta Cultura, 1941.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
22
BASSI, A. Elementos de Geometria Projetiva. So Carlos: Servio de Publicaes e Encadernao da Escola de Engenharia de So Carlos, 1967.
BASSI, A. Exposio das pesquisas realizadas pelo Prof. Achille Bassi, 1964.
BASSI, A. Galileu Galilei: Anlise do homem e de sua obra no IV centenrio do seu nascimento. Kriterion: Revista da Faculdade de Filosofia da UMG, Minas Gerais, v. 18, n. 65, jan./dez. 1965.
BASSI, A. Memorial. Referente formao intelectual, vida e atividade profissional ou cientfica do candidato, Prof. Achille Bassi, 1961.
BASSI, A. On some new invariants of a manifold. Princeton: Department of Mathematics, v. 22, 1936.
BASSI, A. Problemas Educacionais Brasileiros. So Carlos: Servio de Publicaes e Encadernao da Escola de Engenharia de So Carlos, 1963.
BASSI, A. Significao da obra de Galileu Galilei. Rio de Janeiro: Instituto Italiano di Cultura, 1966.
BASSI. A. Su alcuni nuovi invarianti delle variet topologiche. Annali di Matematica Pura ed Applicata, 1937.
BASSI, A. Su di alcune formole di geometria delle variet algebriche. Revista Renticonti del Circolo Matematico de Palermo, 1936.
BASSI, A. Sul concetto di complesso e di equivalenza combinatoria. Annali di Matematica Pura ed Applicata, 1949.
BASSI, A. Sulla Riemanniana dell Sn proiettivo. Revista Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1932.
BLOCH, M. Apologia da Histria ou o ofcio de Historiador. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
BORIS, F. A Revoluo de 1930. Historiografia e Histria. Companhia das Letras, 1997.
BORIS, F. Histria do Brasil. 13 ed. So Paulo: EDUSP, 2008.
CARR, Edward Hallet. Que Histria? So Paulo: Paz e Terra, 1996.
D'AMBROSIO, U. Uma histria concisa da matemtica no Brasil. So Paulo: Editora Vozes, 2008.
FVERO, M. L. A. Faculdade Nacional de Filosofia: depoimentos. Rio de Janeiro: Proedes, UFRJ, 1992.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
23
FVERO, M. L. A.; PEIXOTO, M. C. L.; SILVA, A. E. G. Professores Estrangeiros na Faculdade Nacional de Filosofia, RJ (1939-1951). Cadernos de Pesquisa. So Paulo, n. 78, p. 59-71, agosto 1991.
FONTANA, J. Histria: Anlise do passado e projeto social. 2 ed. Bauru: EDUSC, 2004.
FONTANA, J. Introduo ao estudo da histria geral. Bauru: Editora EDUSC, 2000.
HOBSBAWM, E. J. Sobre Histria. Traduo Cid Knipel Moreira. 2 ed. So Paulo: Companhia das Letras,1998.
ICMC. Histria do ICMC. Disponvel em: . Acesso em: out. 2013.
IMPA. Instituto de Matemtica Pura e Aplicada. Pesquisador: Leopoldo Nachbin. Disponvel em: . Acesso em: setembro de 2013.
IZ, A. F. Comemorao dos 30 anos do ICMC: Depoiment. [02/02/2000]. Residncia do entrevistado. Entrevista concedida a Leila Bussab.
KRAGH, H. Introduo Historiografia da Cincia. Porto: Porto Editora, 2001.
LE GOFF, J. Histria e Memria. Traduo Bernardo Leito; Irene Ferreira & Suzana Ferreira Borges. 2 ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1992. (coleo Repertrios).
LOIBEL, G. F. Comemorao dos 30 anos do ICMC: Depoiment. [13/04/2000]. Estdio Ston So Carlos. Entrevista concedida a Ana Ligabue.
LOIBEL, G. F. Sobre quase-grupos topolgicos e espaos com multiplicao. So Carlos: USP/Escola de Engenharia de So Carlos, 1959. [Tese de doutorado].
MORAES, C. R. Uma histria da lgica no Brasil: a era dos pioneiros. Revista Brasileira de Histria da Matemtica. V.8, n. 15, 2008, p. 57 - 73.
Processo USP. Realizaes do Departamento de Matemtica da Escola de Enegnharia de So Carlos desde sua fundao at 31/12/1966.
Pronturio do Professor Achille Bassi.
RODRIGUES, H. M. Comemorao dos 30 anos do ICMC: Depoiment. [24/03/2000]. Sala de reunies ICMC/SC. Entrevista concedida a Ana Ligabue.
SAAB, M. R. Comemorao dos 30 anos do ICMC: Depoiment. [23/02/2000]. Residncia do entrevistado. Entrevista concedida a Leila Bussab.
SILVA, C. M. S. Formao de Professores e Pesquisadores de Matemtica na Faculdade Nacional de Filosofia. Cadernos de Pesquisa. n. 117, p. 103-126, novembro 2002.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
24
SILVA, C. P. A Matemtica no Brasil: Histria de seu desenvolvimento. 3. ed. rev. So Paulo: Edgar Blcher, 2003.
SILVA, C. P. Sobre o inicio e consolidao da pesquisa Matemtica no Brasil Parte I. In. Revista Brasileira de Histria da Matemtica an international journal on the History of Mathematics. v. 6, n. 11, 2006, p. 67 - 96.
TBOAS, P. Z. Comemorao dos 30 anos do ICMC: Depoiment. [24/03/2000]. Sala do entrevistado ICMC/SC. Entrevista concedida a Ana Ligabue.
VALENTE, W.R.(org.). Ubiratan D'Ambrsio. So Paulo, SP: Annablume, 2007.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
25
HISTORIOGRAFIA SOBRE SADE DOS ESCRAVOS
Alisson Eugnio Universidade Federal de Alfenas
Professor Adjunto 3 [email protected]
Resumo: este texto apresenta um esboo historiogrfico sobre a sade dos escravos no Brasil, com o objetivo de mostrar como este tema, a sade dos escravos, vem sendo investigado e quais os avanos conquistados, quais impasses persistem e quais possibilidades de novos estudos podem ser construdas.
Palavras-chave: historiografia, escravido, sade.
Abstract: This paper presents an outline historiography on the health of slaves in Brazil, aiming to show how this theme, the health of slaves, which has been investigated and the advances made, which persist impasses and possibilities of new studies which may be constructed.
Keywords: historiography, slavery, health.
H muito tempo os historiadores estudam a histria da sade da populao escrava. Nos EUA desde pelo menos o estudo de Ulrich Phillips e no Brasil desde pelo menos o estudo de Octvio Freitas (1935). Entre os norte-americanos o interesse por esse assunto cresceu consideravelmente ao longo do sculo XX, como indica sua copiosa produo historiogrfica.1 Entre ns, somente na ltima dcada verifica-se aumento expressivo de trabalhos sobre o mesmo assunto. Ambos pases formam, junto com o Caribe, as maiores reas concentradoras de negros submetidos ao cativeiro nas Amricas. Por essa razo, muito til ser como referncia um levantamento de algumas das diversas pesquisas, que contemplam direta ou indiretamente a histria das condies de sade dos seus cativos, desenvolvidas no Brasil.
O avano historiogrfico norteamericano sobre esse assunto ainda est longe de ser atingido por ns. E isso talvez seja efeito do fato de o conhecimento histrico acadmico brasileiro ter se desenvolvido muito tarde e lentamente em relao ao dos EUA. Afinal, a moderna historiografia brasileira somente foi inaugurada entre as dcadas de 1930 e 1940, com a publicao e repercusso de trs dos seus maiores clssicos: Casa-grande e senzala
1 Ver a bibliografia alguns dos principais autores e obras.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
26
(1933) de Gilberto Freyre, Razes do Brasil (1936) de Srgio Buarque de Holanda e Formao do Brasil contemporneo (1942) de Caio Prado Jnior, 2 quando a organizao do ensino profissional e da ps-graduao em histria estava sendo ainda iniciada. Acrescente-se a isso o fato de que entre a concluso dessa organizao e a consolidao do amadurecimento da pesquisa histrica no pas, com a formao de uma gerao de arquivo a partir de finais dos anos 1970 (isto , que abandonou a tendncia at ento predominante de estudos interpretativos respaldos na maioria das vezes apenas em fontes primarias transcritas em revistas especializadas, como a do IGHB), decorreu tempo insuficiente para ampliao de oferta de historiadores que pudessem investir em pesquisas to tematicamente variadas e necessitadas de uma base historiogrfica ainda ento em construo. Diante desse quadro, eles optaram pelo esforo de responder a questes mais bsicas de nossa histria nacional, para posteriormente tentar alargar o seu horizonte de estudo, o que vem ocorrendo desde o final dos anos 1980 em ritmo acelerado.
Por essa razo, antes do final da dcada de 1970, quando os historiadores comearam a lidar mais diretamente com o tema em discusso, havia pouca coisa disponvel para o seu entendimento. Um deles o livro de do mdico Octvio de Freitas, Doenas africanas no Brasil, publicado em 1935, no qual, ao descrever causas de diversas enfermidades mais comuns dos negros, defende a hiptese de que um dos principais males da escravido foi o de trazer, junto com os escravos, uma srie de patologias estranhas ao pas que muito contribuiu para agravar a sua constituio nosolgica, tornando-o mais insalubre.
Sua hiptese, fundamentada em uma viso racial e naturalizada da doena, tem sido bastante criticada por autores responsveis pelo surto historiogrfico sobre tal tema no Brasil na ltima dcada, como Diana Maul de Carvalho, que condena tal viso por nela estar embutida a ideia de um paraso degradado pela colonizao, conforme sugere o ttulo do primeiro captulo de Octvio Freitas Bons ares; maus colonos; ideia falsa, responsvel pela construo de um entendimento deturpado da histria biolgica e dos povoadores espontneos e forados da Colnia, porque ignora o fato de que a disseminao de uma enfermidade exportada depende de condies naturais pr-existentes do territrio onde ela inserida e das formas de interao entre seu portador e o meio, conforme esclarece a referida autora.
2 Um dos decanos da intelectualidade brasileira que considera tais clssicos a trade fundadora da moderna historiografia e sociologia em nosso pas Antnio Cndido. Tais consideraes ele teceu no prefcio das edies de Razes do Brasil elaboradas pela Cia das Letras, na de 1997 por exemplo. Considerao anloga feita por MOTTA (2008) p. 69-72.
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
27
(CARVALHO. In: PORTO 2007, p. 6). Outro estudo dedicado ao tema, mas no de forma exclusiva, o livro de Gilberto
Freyre, Os escravos nos anncios de jornais brasileiros do sculo XIX, publicado em 1963. Esse autor buscava dados, em fontes at ento pouco utilizadas para o estudo da escravido, para conhecer o cotidiano dos escravos e algumas de suas caractersticas sociais. Com essa inovao metodolgica, ele recuperou muitas informaes sobre a vida dos negros submetidos ao cativeiro, entre elas, marcas ou sintomas de doenas ou ferimentos que pudessem ajudar a identificar escravos fugidos. Com esse tipo de informao, foi possvel fazer um quadro dos problemas de sade mais evidentes nos corpos dos fugitivos e, com isso, conhecer alguns indicadores das condies de vida no cativeiro.
Seguindo o seu mtodo, Mrcia Amarantino elaborou uma pesquisa, nas edies de 1850 do Jornal do Comrcio, para conhecer os mesmos indicadores relativos realidade da capital do Imprio no auge da escravido no Brasil. Dos 409 anncios observados (como o seguinte: R$ 500 se dar de gratificao a quem levar ao dar notcia ... de um preto de nome Pedro, nao rebolo, sem barba, estatura regular, com sarnas pelos braos) ela descobriu que os problemas mais identificados nos corpos dos fugitivos anunciados so doenas infecciosas (34,96%) e traumticas (30,58%) (AMARANTINO, 2007).
Depois do estudo Gilberto Freyre, somente na segunda metade da dcada de 1970 que outras pesquisas comearam a surgir. Uma delas foi conduzida por Iraci del Nero da Costa dedicada anlise da morbidade em Vila Rica entre 1799 e 1801. Essa anlise foi feita a partir dos assentamentos de bitos registrados na Parquia de Nossa Senhora da Conceio da antiga e populosa freguesia de Antnio Dias. Segundo seus clculos, a mortalidade da populao escrava girava em torno de 20% e era 76% maior em relao dos livres, com destaque alarmante para a mortandade infantil (238 mortes por 1000 nascimentos, sendo 31,42% delas ocorridas no primeiro ms de vida e 37,15% ocorridas entre dois meses e um ano de vida). Em relao s doenas mais comuns, observou que as doenas do aparelho respiratrio, principalmente tuberculose e pneumonia, foram as mais mortferas, seguidas pela hidropisia e gangrenas (COSTA. In: LUNA 2009. O artigo foi publicado originalmente em 1976. Os dados acima apresentados esto, respectivamente nas pginas 243, 247 e 250).
Sua pesquisa, embora baseada em um curto recorte cronolgico e em apenas uma localidade de Vila Rica, traz importante contribuio dos indicadores das condies de sade da populao escrava em uma antiga rea mineradora. No entanto, depois de mais de trs
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
28
dcadas da publicao original do seu trabalho, ainda no sabemos se os dados obtidos por ela entre 1799 e 1801 dizem respeito apenas esse binio e mencionada freguesia, ou se pode ser generalizado para todo o perodo e espao colonial mineiro, devido ausncia de estudos complementares para essa regio.
Em 1978, na coletnea organizada por Roberto Machado, foi publicado um captulo avaliando a preocupao mdica e governamental sobre a sade da populao escrava, usando como estratgia de abordagem o levantamento de textos dedicados ao assunto. Como seus autores encontraram pouqussimos, concluram que esse tema no era relevante nas reflexes
mdicas da poca em que vigorou a escravido (MACHADO, 1978, p. 370). Tal captulo teve o mrito de iniciar uma discusso relevante sobre a histria intelectual da medicina dedicada ao cativeiro e de divulgar fontes mdicas muito ricas sobre a histria da sade dos cativos, que acabaram sendo usadas para os mais diversos fins na historiografia especializada no campo de estudos em pauta. E essa sua concluso manteve-se quase inquestionada enquanto novas pesquisas no foram desenvolvidas, ou seja, por longo tempo.
Porm, no recente impulso aos estudos sobre a sade dos escravos, promovido pelos pesquisadores identificados com os objetos de pesquisa do campo historiogrfico conhecido como histria da sade, da doena e da medicina, h pouco tempo consolidado no Brasil, surgiu o trabalho de Silvio Cezar de Souza Lima: O corpo escravo como objeto das prticas mdicas no Rio de Janeiro (1830-1850). Trata-se de uma tese defendida em 2011, no programa de ps-graduao em histria das cincias e da sade da Fundao Oswaldo Cruz, que mostrou que, apesar de haver pouca publicao mdica dedicada diretamente sade da populao cativa, esse tema no pode ser considerado secundrio nas reflexes mdicas, pois em muitas edies de peridicos e teses de medicina h incontveis exemplos de anlise mdica sobre molstias dos cativos. Mais do que refutar o mencionado trabalho inserido na coletnea de Roberto Machado, o autor revela o quanto, involuntariamente, o corpo escravo foi fundamental para a construo do saber mdico brasileiro, ao ser investigado nas suas instituies imperiais de ensino e pesquisa (LIMA, 2011. A crtica do autor ao estudo de MACHADO (1978) encontra-se na p. 2 e uma sntese de seu principal argumento est entre as pginas 148-149 e 190 -192).
Em 1979 Douglas Cole Libby defendeu a sua dissertao intitulada Trabalho escravo na mina de Morro Velho. Grande parte de sua pesquisa foi destinada a analisar as condies de vida, trabalho e sade dos escravos em um complexo aurfero, localizado na antiga Nova
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
29
Lima-MG, pertencente companhia inglesa Saint John del Rey Mining Company. Embora seu objetivo maior o de mostrar que a escravido no foi incompatvel com o capitalismo em tal empreendimento, ao revelar que o trabalho escravo era mais lucrativo (em termos de mais valia absoluta) do que o assalariado, ele d importante contribuio ao estudo das condies de sade da populao escrava, ao descrever a rotina de trabalho, da vida e da salubridade na mina de Morro Velho, analisando o empenho de seus administradores para reduzir a mortalidade escrava em tal mina.
O ensaio elaborado por esse autor a respeito das condies de sade dos escravos da mina de Morro Velho ainda no havia sido revisto e aprofundado at a publicao deste presente artigo, devido ao fato de nossa historiografia sobre tal tema ter sido impulsionada apenas recentemente. [ Por isso, senti-me motivado a enfrentar documentao produzida pela Saint John del Rey Mining Company (de difcil leitura por se tratar de ingls oitocentista), e empreendi uma anlise inspirada no estudo do governo dos escravos nas Amricas, elaborado por Rafael de Bivar Marquese (2004), objetivando comparar as concluses desse autor para as propriedades rurais com um empreendimento urbano.
Assim, com base nos relatrios que os administradores daquela mina enviavam para Londres anualmente e no estudo pioneiro de Douglas Cole Libby, inicialmente observei, no penltimo captulo deste livro, que (depois de presses dos abolicionistas de seu prprio pas, da dificuldade prevista de adquirir mo de obra escrava com os debates em torno do fim de fato da importao de africanos para o Brasil nas vsperas de1850 e dos conselhos divulgados por letrados e mdicos a respeito do manejo mais eficaz da populao cativa) em Morro Velho houve grande esforo para se colocar em prtica um conjunto de preceitos, h muito tempo conhecidos, mas at ento pouco praticado, que acabaram contribuindo para disciplinar o enorme contingente de trabalhadores servis e reduzir a sua mortalidade. Entre os preceitos encontra-se a utilizao do saber mdico para preservar preventivamente ou restaurar a sade dos escravos, com a contratao de mdicos e enfermeiras, a construo de um hospital e a elaborao de quadros estatsticos anuais para se conhecer as doenas que mais afetavam a mo de obra, com o objetivo de combat-las.
A eficincia do capitalismo britnico, sua longa experincia com a escravido em outros espaos coloniais e a reforma na forma de governar os escravos fizeram alguma diferena na demografia destes indivduos em Morro Velho? Em parte sim, pois os ndices de mortalidade na mina eram um pouco menos aterradores quando comparados com estatsticas
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
30
do sculo XVIII, mas a baixa fertilidade das escravas e a mortalidade infantil no permitiriam a populao escrava crescer naturalmente como ocorreu nos EUA.
Em 1982, Maria das Mercs Somarriba publicou sua dissertao Medicina no escravismo colonial. Nela reiterou a tese de Roberto Machado, de que havia uma quase inexistncia de uma reflexo mdica sobre a sade dos escravos, e se props avanar na explicao para a no existncia, em escala significativa pelo menos, de uma medicina do escravo e de uma poltica de sade voltada especificamente para a mo de obra escrava.
Usando o conceito de escravismo colonial de Jacob Gorender, ela apoiou-se em uma das principais lgicas do escravismo apontadas por esse autor (a de que quanto mais alta a rentabilidade conjuntural da produo escravista no mercado, tanto mais vantajoso estafar o escravo para obter dele o mximo de sobreproduto em curto prazo) para explicar os altos ndices de mortalidade da populao cativa. At a ela contribui para a compreenso da lgica senhorial empregada na administrao de sua escravaria.
Em outros termos, ela mostra que algumas variveis, como preo do trabalhador servil, rentabilidade e a capacidade de trabalho dele, foram fundamentais para determinar o comportamento senhorial em relao a aspectos que muito influenciavam a sade no cativeiro, como o tempo de trabalho exigido dos indivduos a ele submetidos. Afinal, no clculo dos senhores, muitas vezes era mais lucrativo substituir um negro desgastado por excesso de horas de trabalho, do que encurtar a sua jornada e fazer investimentos adicionais para prolongar sua vida produtiva.
Assim, quando tal lgica se impunha em determinados contextos, no havia lugar para preocupao mais profunda e sistemtica com a sade dos escravos, o que explica, na viso da autora, a quase ausncia de interesse mdico na abordagem intelectual de temas a isso ligado; interesse que, segundo ela, somente ocorreu a partir do fim do trfico transatlntico de africanos para o Brasil e da ampliao da demanda de externa pelos seus produtos agrcolas, notadamente o caf (SOMARRIBA, 1982. A lgica do escravismo colonial gorendiana da qual ela se vale encontra-se nas pginas 7, 8 e 11. A sua concluso de que com o fim do trfico algumas iniciativas para melhorar a situao sanitria dos escravos comearam a ser praticadas esto entre o final da pgina 11 e a 13).
Esse estudo, apesar de corroborar uma tese (a de Roberto Machado acima sintetizada) recentemente contestada pelo citado estudo de Silvio Cezar de Souza Lima, de grande importncia por ter sido o primeiro a utilizar a lgica da rentabilidade dos empreendimentos
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
31
coloniais para explicar o porqu das condies de sade dos escravos terem sido to ruis de um modo geral. E tambm por ter sido o primeiro estudo que mostrou uma tendncia de mudana em tais condies ao final da importao de negros para o Brasil, revelando novas fontes de estudo (manuais de medicina prtica especializados em doenas de escravos) para outras questes relativas a esse tema. Mesmo com toda essa contribuio, seu trabalho foi quase ignorado pelos historiadores da escravido e quase no citado pelos que promoveram esse surto historiogrfico sobre o tema em anlise; sintoma do carter incipiente e de algumas fragilidades da historiografia brasileira sobre esse tema.
Outro estudo relevante relacionado com o mesmo tema foi publicado por Pedro Carvalho de Mello em 1983, dedicado ao exame da estimativa da longevidade dos escravos na segunda metade do sculo XIX. Seu ponto de partida historiogrfico o debate sobre a Abolio aps a promulgao da Lei do Ventre Livre. Uma das controvrsias, entre emancipacionistas (os grandes fazendeiros eram seus principais protagonistas) e abolicionistas, a respeito do processo gradual do fim da escravido, girou em torno da seguinte questo: haveria a necessidade de medidas adicionais para acelerar esse processo? A resposta que conduziria a deciso do Estado dependeria da quantidade mdia de vida produtiva dos escravos. Sabe-se que os abolicionistas venceram o debate, levando o governo imperial a aprovar leis que culminaram na Lei urea (13 de Maio de 1888). O argumento principal dos vitoriosos foi o de que as melhorias das condies de sade poderiam prolongar a longevidade da populao cativa, estendendo dessa maneira o trabalho servil por muito mais tempo alm do tolervel.
Partindo dessa controvrsia, o autor procurou analisar as fontes demogrficas e os testemunhos de estimativas de vida da escravaria para investigar qual era de fato a sua expectativa de vida. Com isso, acabou observando alguns indicadores (sobretudo o de mortalidade e fertilidade) que permitem avaliar as condies de sade dos escravos. Sua principal fonte o Censo de 1872, no qual encontrou resultados que o levaram a concluir que, entre 1850 (data do fim do trfico transatlntico de africanos para o Brasil) e o ano do referido Censo, a fertilidade e a longevidade escrava no aumentaram significativamente. Pois, como entre uma data e outra havia transcorrido pouco mais de 20 anos, o impacto da extino do trfico no clculo econmico dos senhores no teve tempo suficiente para operar seus efeitos no investimento da reproduo natural da populao cativa, e, com decreto da Lei do Ventre Livre (1871), que possivelmente freou os nimos dessa investida, no se poderia esperar que
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
32
houvesse alguma melhora naqueles indicadores (MELLO, 1986, p. 162-163). Sem julgar o mrito dessa concluso (pessimista demais, uma vez que no intervalo das
duas datas acima citadas, 22 anos, havia 611 451 escravos de 0 a 19 anos), os dados gerais daquele censo mostram que a demografia escrava tinha condies de crescer naturalmente (sobretudo porque havia considervel equilbrio entre os sexos, e mais 277139 escravos entre 20 e 29 anos), caso outras condicionantes (principalmente os ligados sade) favorecessem e a Lei do Ventre Livre no existisse.
Embora tendo lidado com tema em exame indiretamente, preocupado com um problema da histria demogrfica, o estudo de Pedro Carvalho de Mello mostra que houve melhorias nos indicadores de sade no cativeiro aps 1850, e mesmo que se para ele a melhora no tivesse sido a ideal, devido ao pouco tempo para a produo dos efeitos do fim do trfico, est implcito na sua concluso que havia uma tendncia nesse sentido, a qual foi freada inicialmente em 1871 e posteriormente com a vitria dos abolicionistas em relao acelerao do processo gradual do fim da escravido.
Enquanto os historiadores brasileiros ainda estavam lidando com a sade dos escravos apenas eventualmente e, na maioria das vezes, de maneira indireta, uma das mais esclarecedoras pesquisas sobre esse tema foi desenvolvida por Mary Karash ao abrigo da Universidade de Princeton, onde foi publicada em 1987. Focada no Rio de Janeiro entre 1808 e 1850, ela dedicou trs longos captulos ao estudo de aspectos demogrficos e das condies de vida, trabalho e sade da populao escrava.
As suas principais concluses sobre o assunto foram as seguintes: 1) as taxas de bitos dos negros submetidos ao cativeiro, principalmente a infantil, eram ainda muito altas; 2) as doenas mais mortferas em tal populao eram as mesmas que dos EUA e da Europa (as ifecto-parasticas, seguidas pelas gastrointestinais e pelas respiratrias), sendo as mais comuns, nessa ordem, a tuberculose, disenteria, diarreia, gastroenterite, pneumonia, varola, hidropisia, hepatite, malria e apoplexia. Assim, ela pode afirmar:
Os historiadores tenderam a culpar as molstias tropicais pela alta mortalidade de escravos no Brasil, mas o material da Santa Casa contesta, ao menos para a cidade do Rio de Janeiro, a suposio de que essas molstias sozinhas dizimavam a populao escrava, ou que os donos de escravos pouco podiam fazer para preservar sua propriedade diante de doenas endmicas e epidmicas (...). Exceto a malria e a varola, que no respeitavam posio social, as outras doenas podem refletir os baixos
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
33
padres socioeconmicos de vida da populao escrava. Em outras palavras, os escravos morriam em maior nmero de molstias cuja incidncia diminui medida que os padres de um grupo populacional melhoram. [Assim] o resultado era uma inevitvel despovoao dos escravos. (KARASH, verso brasileira 2000, p. 258).
Suas concluses revelam que, no Rio de Janeiro da primeira metade do sculo XIX, a vida do escravo era, do ponto de vista da sade, muito ruim. Por isso continuavam morrendo em grande quantidade e por causas na maioria das vezes evitveis, resultando numa dramtica despovoao que somente foi impedida pela reposio de novas importaes de africanos.
Como o recorte cronolgico da autora compreende o perodo de intensa atividade do trfico negreiro internacional na capital do Imprio, dificilmente se poderia esperar outra realidade, dada a fartura de negros ofertada quase sem interrupo por essa modalidade comercial. Dessa maneira, os dados encontrados por Mary Karash indicam que os grandes proprietrios ainda continuavam motivados pela lgica econmica colonial de maximizao da explorao do trabalho escravo, com o menor custo, visando satisfao da ampla e crescente demanda externa por monocultura e ao aumento de sua rentabilidade.
Depois desse passo decisivo na historiografia da sade dos indivduos submetidos escravido dado pela referida autora, veio a pblico em 1988 um artigo da pesquisadora ngela Prto, dedicado ao estudo da assistncia mdica a tais indivduos, que apresenta informaes muito importantes para a compreenso do tema em discusso. Uma delas a criao de uma companhia de seguros, a Cia Unio, em 1845 na cidade do Rio de Janeiro, cujos servios foram contratados j no seu primeiro ano de funcionamento por uma centena de proprietrios.
Com essa descoberta ela abriu caminho para relativizar a ideia corrente entre os historiadores de que os grandes senhores eram de um modo geral negligentes com a sade dos escravos. Pelo menos na capital do pas, em meados da ltima dcada de vigncia do trfico transatlntico de africanos para o Brasil, o seu trabalho mostra indicadores, como o acima revelado, de que havia centenas de fazendeiros que mostravam grande preocupao com seu investimento em mo de obra compulsria. Afinal, no caso de morte de escravo o seguro no era pago se ela ocorresse por maus tratos e descuido em matria de sade (PRTO, 1988, p. 9).
Durante quase duas dcadas aps a publicao do seu artigo, a autora retornou ao assunto com textos ora de carter historiogrfico, ora de divulgao de documentos, ou de
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
34
apresentao de novas pesquisas, como a coletnea intitulada Doenas e escravido: Sistema de sade dos escravos no Brasil do sculo XIX, organizada ao abrigo da Fundao Oswaldo Cruz e publicada em 2007.
Essa coletnea pode ser considerada um marco importante do processo de construo de uma historiografia especializada no tema em anlise, ao promover pela primeira vez a reunio de tantos estudos direta e indiretamente ligados a ele que vale como um esforo inicial de sntese, a qual ser melhor avaliada mais adiante. Antes necessrio retornar dcada de 1990 e recuperar contribuies de mais duas pesquisas relevantes que a antecederam.
A primeira delas a da professora Ilka Boaventura Leite, que investigou aspectos da vida de escravos e libertos em Minas Gerais do sculo XIX, a partir dos relatos de viagem dos viajantes em uma pesquisa publicada em 1996. Embora esses relatos compem uma fonte muito controversa, ainda assim ela procurou abord-la em busca das percepes dos seus autores sobre a realidade da escravido na maior regio escravista do pas. E encontrou impresses diferentes entre eles sobre os mesmos objetos, como o tipo, a qualidade e a quantidade de alimentao dada os escravizados. No obstante, seus relatos lhe serviram para, em um captulo, examinar a vida cotidiana no cativeiro: dieta, vestimenta, trabalho, folga e sade foram os itens examinados. Em relao a esse ltimo, ela recuperou nos textos dos viajantes (no total de 18) suas observaes sobre as doenas mais comuns dos negros e montou um quadro das que mais foram por eles abordadas. Dessa forma, proporcionou um conjunto de dados, muito til para confrontar com outras percepes (dos mdicos e das autoridades pblicas, por exemplo) para ampliar a compreenso do quadro nosolgico da populao cativa (LEITE, 1996. O referido quadro est na p. 170).
No mesmo ano Sidney Chalhoub publicou um estudo sobre cortios e epidemias na capital do Imprio, no qual abordou algumas questes relativas sade dos escravos. Uma delas diz respeito ao problema da identificao das classes pobres com determinados problemas, na tica das elites, que as faziam ser percebidas como classes perigosas. Um desses problemas era a proliferao de doenas epidmicas, consideradas oriundas das suas moradias e de seu rstico estilo de vida avesso ao ideal sanitrio, que ento servia de justificativa s polticas pblicas antipopulares na segunda metade do sculo XIX e incio do XX, como a derrubada de cortios e vacinao obrigatria.
No caso das polticas de sade pblica, nesse contexto de expulso dos pobres (a
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
35
maioria de negros) para longe do centro da cidade que ento se pretendia civilizar e de incentivo imigrao europeia, para substituir os escravos e ampliar a oferta de trabalhadores no incipiente mercado de trabalho assalariado nacional, houve tambm, segundo o autor, um deslocamento do foco governamental e mdico para as doenas que mais poderiam afetar os imigrados do que os escravos remanescentes CHALHOUB, 1999, p. 92-96). Dessa forma, ele revela: 1) uma relao entre racismo, doena e sanitarismo que ajudou a tornar o Rio de Janeiro muito mais socialmente explosivo nas ltimas dcadas do Imprio e no incio da Repblica; 2) um descaso pblico para com a sade da populao escrava, incentivado pela Lei do Ventre Livre e pela enorme quantidade de imigrantes que comearam a vir para o pas. At o fim do sculo passado, nos estudos sobre sade dos escravos predominaram abordagens que lidaram com esse tema de forma indireta (isto , sem tom-lo como objeto central de investigao) e, mesmo assim, no eram abundantes, conforme vrios autores que se empenharam na elaborao de balanos historiogrficos especficos sobre esse assunto j observaram (PRTO, 2006, p. 1024 e BARBOSA e GOMES ,2008, p. 237).
Da em diante a realidade historiogrfica comea a mudar, pois, alm da continuidade dos estudos indiretos, h um surto de pesquisas dedicadas diretamente sobre tal tema que vem aumentado consideravelmente a compreenso dos objetos a ele ligados. Entre 2001 e 2003, quando iniciei meu interesse pelo assunto, publiquei dois artigos sobre a traduo publicada em Lisboa em 1801 feita pelo cirurgio Antnio Jos Vieira de Carvalho, atuante em Vila Rica, do manual mdico de Jean Barthelemy Dazille, atuante em So Domingos, Observaes sobre enfermidades de escravos, publicada em Paris em 1776.
Foi minha estreia. Havia percebido que os poucos estudos que usaram esse manual no se debruaram sobre as razes pelas quais ele foi traduzido e o porqu de ambas as monarquias terem patrocinado as suas publicaes. E descobri que no se tratava de apenas um esforo para divulgar conhecimento til para a prosperidade colonial, como interpretou Maria das Mercs Somarriba (1982, p. 14). Era tambm uma forma de responder aos apelos humanitrios dos iluministas e de demais crticos escravido para que se melhorasse a vida dos escravos, a comear cuidando melhor da sade deles. Pude aprimorar essas concluses em 2009, depois de alguns anos de experincia com esse objeto, em outro artigo em que procurei aprofundar a compreenso do sentido histrico da publicao do referido manual e de outros do mesmo gnero no Novo Mundo, aproveitando as contribuies da pesquisa de Rafael de
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
36
Bivar Marquese, sobre a qual passo a falar a seguir, e explorando algumas de suas lacunas. 3 O seu estudo trilhou os caminhos da histria intelectual para abordar os conselhos e
debates em torno da administrao ou governo dos escravos nas Amricas, entre os sculos XVII e XIX, usando textos de diversos campos de conhecimento (agronmico, jurdico, mdico, teolgico, entre outros) para analisar o processo histrico das formas de concepo da escravido e os meios mais eficazes de seu manejo. Em relao a esse ltimo ponto, um dos documentos mais interessantes de seu trabalho so os manuais escritos por fazendeiros ou seus prepostos. Neles h um conjunto de medidas destinadas a tornar a produo escrava mais eficiente. Uma delas melhora na forma do tratamento dos escravos, incluindo nisso maior cautela para com a sade deles. Ao fazerem propostas dessa natureza, seus autores buscavam, entre outras coisas, responder s presses contra o fim do trfico de africanos para o Brasil que culminaram em uma lei, para ingls ver, de 1831, mostrando para os grandes proprietrios rurais como era possvel atender crescente demanda por produtos agrcolas, explorando a escravaria de uma forma que ela no fosse desgastada predatoriamente e se reproduzisse naturalmente. Em outras palavras, eles estavam tentando ajud-los a se prepararem contra uma possvel escassez e consequente subida abrupta de preos dos cativos, o que de fato aconteceu, mas somente aps uma lei de 1850 que realmente extinguiu o desembarque de escravos em portos brasileiros MARQUESE, 2004, p. 284).
Lendo esse inovador estudo fica, porm, uma dvida: o ideal de administrao da populao escrava, promovido pelos letrados que lidaram com o assunto, foi seguido pelos proprietrios dos grandes empreendimentos das dcadas finais do Imprio? Ou, colocada em outros termos, as condies de sade dos escravos melhoraram quando se tentou implantar tal ideal? Foi o que tentei responder no penltimo captulo deste livro para o caso da Mina de Morro Velho.
No ano de 2004 ainda surgiram mais dois estudos a respeito desse tema. Um deles o de Miridan Britto Falci dedicado s doenas de escravos em Vassouras. Investigando principalmente documentao seriada, com nfase nos inventrios de bens, a autora elaborou um quadro estatstico com indicadores demogrficos que ajudam a avaliar as condies de
3 Os artigos inaugurais a que me refiro foram publicados nas seguintes revistas: Varia Histria; revista do depar tamento de histria da UFMG (2000, no 23) e Revista Histria Social da UNICAMP (2003, no 10). O artigo de 2009 foi publicado na Varia Histria; revista do departamento de histria da UFMG (2009, no 41). Em 2010, tambm publiquei outro texto, discutindo as condies de sade dos escravos no Brasil do sculo XIX, Afro-sia; revista do centro de estudos afro-orientais da UFBA (2010, no 41).
-
Fbio Freitas et al (orgs.). Anais do III Encontro Nacional de Ps-Graduandos em Histria das cincias ENAPEHC 2013. Mariana: UFOP / UFMG, 2014. ISBN 978-85-62707-52-0
37
sade da populao escrava de tal prspero municpio cafeeiro do Vale do Paraba Fluminense e os males que mais a afetavam. E por ele pde concluir que os indivduos dessa populao no municpio enfrentavam as mesmas dificuldades de outras regies, apresentando nvel de mortalidade to alto e incidncia de molstias de mesma natureza que demais regies j conhecidas (FALCI, 2004, p. 24).
Esse estudo aponta para uma tendncia (a de produo de estudos com recortes geogrficos concentrados em cidades, ou em um de seus distritos, necessarios para ampliar anlises comparativas) que se for consolidada contribuir para ampliar o entendimento historiogrfico sobre as generalidades e particularidades da vida que os escravos levavam nos cativeiros deste vasto pas e as enfermidades que mais os atacavam.
Seguindo essa tendncia alguns estudos j foram concludos, como os publicados em 2009 e 2010 por Carolina Bitencourt Becker, Jaqueline Hans Brizola, Natlia Pinto e Paulo Roberto Staudt Moreira dedicados a cidades de Rio Grande, Alegrete e Porto Alegre, nos quais mostram como eram as condies de sade no cativeiro em tais cidades (ruins de um modo geral) e quais doenas mais os afetavam (as mesmas j conhecidas, mais ou menos na mesma ordem de impo