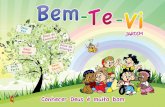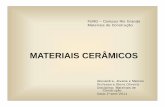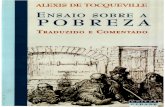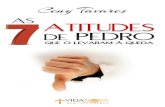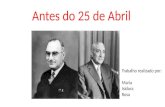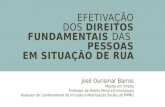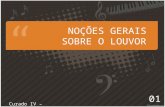ANÁLISE SOBRE AS MOTIVAÇÔES QUE LEVARAM OS … SOBRE AS... · também aspectos sobre o...
Transcript of ANÁLISE SOBRE AS MOTIVAÇÔES QUE LEVARAM OS … SOBRE AS... · também aspectos sobre o...
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ
FACULDADE CEARENSE
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
CLAUDIANA LIMA DE SOUSA
ANÁLISE SOBRE AS MOTIVAÇÔES QUE LEVARAM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA ONG PEQUENO NAZARENO A
MORAR NAS RUAS DE FORTALEZA.
FORTALEZA- CEARÁ
2013
Bibliotecário Marksuel Mariz de Lima CRB-3/1274
S725a Sousa, Claudiana Lima de.
Análise sobre as motivações que levaram os adolescentes
atendidos pela ONG Pequeno Nazareno a morar nas ruas de
Fortaleza / Claudiana Lima de Sousa. Fortaleza – 2013.
96f. Orientador: Prof.ª Ms. Valney Rocha Maciel.
Trabalho de Conclusão de curso (graduação) – Faculdade
Cearense, Curso de Serviço Social, 2013.
1. Adolescência. 2. Rua. 3. Institucionalização. I. Maciel,
Valney Rocha. II. Título
CDU 364(813.1)
CLAUDIANA LIMA DE SOUSA
ANÁLISE SOBRE AS MOTIVAÇÔES QUE LEVARAM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA ONG PEQUENO NAZARENO A
MORAR NAS RUAS DE FORTALEZA.
Monografia apresentada ao curso de graduação em Serviço Social do Centro de Ensino Superior do Ceará, outorgado pela Faculdade Cearense - FAC como requisito parcial para a obtenção de grau de Bacharel em Serviço Social.
Orientadora: Prof.ª Ms. Valney Rocha Maciel.
FORTALEZA- CEARÁ
2013
CLAUDIANA LIMA DE SOUSA
ANÁLISE SOBRE AS MOTIVAÇÔES QUE LEVARAM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA ONG PEQUENO NAZARENO A
MORAR NAS RUAS DE FORTALEZA.
Monografia apresentada ao curso de graduação em Serviço Social do Centro de Ensino Superior do Ceará, outorgado pela Faculdade Cearense - FAC como requisito parcial para a obtenção de grau de Bacharel em Serviço Social.
Data da aprovação:____/____/____
BANCA EXAMINADORA
_______________________________________________ Profª. Ms. Valney Rocha Maciel
(Orientadora)
_______________________________________________ Profª. Ms. Rúbia Cristina Martins Gonçalves
_______________________________________________ Assistente Social e Ms. Rebeca Torres Alves Costa
Ao meu grande Deus por ter me dado
forças para chegar até aqui, sem ele nada
teria sentido. A toda minha família, ao
meu esposo e amigos. Em especial a
minha mãe, mulher forte e admirável.
DEDICO
AGRADECIMENTOS
Esse espaço reservado para os agradecimentos se torna pequeno diante da
minha gratidão á todos que, não apenas nesses quatro anos de faculdade, mas
durante toda a minha caminhada estiveram comigo de alguma forma.
Em primeiro lugar, agradeço a Deus, o autor da minha vida, aquele que
esteve comigo desde o ventre da minha mãe e nunca me abandonou, aquele que
me fez superar todas as dificuldades para chegar até aqui, que enxugou minhas
lágrimas quando eu pensava que não ia conseguir que me fez acreditar nos meus
sonhos. Deus, você me mostrou que nada é impossível àquele que crer.
A todos que fazem parte da minha família, pois sei o quanto vocês se
alegram com a minha alegria e também fazem parte dessa conquista. Vocês são a
minha base. Em especial, venho agradecer aos meus pais, Marcos Barros e
Lucimar Lima, por sempre me incentivar e não me deixar desistir nunca. Agradeço
infinitamente a minha mãe por cuidar de mim, dando sempre o seu melhor mesmo
quando não podia. Você é a peça fundamental em minha vida, meu exemplo em
tudo. Amo você minha mãe!
Ao meu irmão, Igor Lima, por sempre me alegrar com seu lindo sorriso. A sua
alegria foi essencial em meio a tantos momentos difíceis, isso você tem de sobra.
A Terezinha Lima, minha amada avó (in memorian). Não poderia deixar de
agradecer a Deus nesse momento pelo o que ela foi nessa terra: uma grande mulher
de Deus, cheia de fé e amor. Você também foi uma das pessoas que sempre me
incentivou e orou para que eu chegasse até aqui.
Ao meu amado esposo, amigo e companheiro fiel, Jefferson Gomes, pois
esteve comigo literalmente desde o início dessa longa caminhada, sempre me
incentivando, agüentando as minhas reclamações, choros e também sempre
disposto a dar o seu melhor a mim. Junto comigo, passou noites acordado,
esperando eu terminar a minha monografia, pois não queria me deixar sozinha em
nenhum momento. A sua amizade e companheirismo foram essenciais para a
realização deste trabalho.
A todos os professores do curso de Serviço Social, os quais contribuíram
para minha formação, foram conhecimentos para toda a vida. Cada um teve sua
importância, sua forma de ensinar, alguns mais sérios, outros não sossegavam
enquanto não tirassem um sorriso do nosso rosto, mas todos foram fundamentais
para que eu tivesse uma formação crítica e ética.
A minha querida orientadora Valney Rocha, pelo o grande carinho, dedicação
e tranqüilidade durante estes momentos no qual muitas vezes nos encontramos
desesperadas. Então ela vinha com aquele sorriso maravilhoso, me abraçava e me
acalmava. Obrigada por me transmitir seus conhecimentos tão valiosos e pela honra
de tê-la como minha professora e orientadora. Foi simplesmente Magnífico!
A todos da turma CSS081 2013.2, foram anos de muito aprendizado,
alegrias, encontros, seminários, confraternizações, choros, provas, trabalhos,
apresentações, etc. Mas o bom é podemos olhar para trás e rir de tudo isso, pois
apesar de termos sofrido um pouquinho, foram momentos que guardaremos para
sempre.
A tod@s os meus amigos além dos muros da faculdade, com vocês o
caminho foi menos doloroso, as lágrimas rapidamente se transformavam em risos,
os desafios eram prazerosos, os trabalhos eram apenas um motivo para passarmos
o dia juntos, os estresses em equipe não duravam dois minutos, pois a amizade era
muito maior que isso. São vocês, Jessica Feitosa, Sherida Costa, Lygia
Negreiros, Paola Abreu, Gisele Castro, Emily Benevides, Luciane Cosme,
Rodrigo Alves e Ricardo Richard.
A Maíra Rodrigues, Janaína Valentim e Lucilene Pinheiro, pelo o
companheirismo e amizade. Foi um prazer estagiar com vocês, pois éramos mais
que colegas, formávamos uma equipe.
A Gizela Castro por me acompanhar desde as minhas primeiras conquistas.
Contribuiu muito para que eu pudesse chegar aqui, esteve ao meu lado em
momentos difíceis com os seus conselhos “duros” e ao mesmo tempo cheios de
carinho (só ela sabe fazer isso), obrigada por sua compreensão, você sabe o quanto
é especial para mim.
A minha banca Rúbia Gonçalves, por me acompanhar nesse processo desde
o primeiro semestre do curso, levarei a sua alegria, sua ética profissional e os
conhecimentos que adquiri durante esses anos. Obrigada por ter aceitado o convite
em participar da banca, foi um prazer imenso.
A Rebeca Torres que também fez parte da banca e foi minha supervisora de
estágio. Não tenho palavras para agradecer a sua dedicação, pois com você me
sentia cuidada, profissionalmente falando, pois fazia questão de nos ensinar o seu
melhor, nos fazia passar por experiências incríveis dentro do campo de estágio.
Posso dizer que valeu a pena todo o sacrifício que eu fazia para estar ao seu lado
aprendendo sempre um pouco mais.
A tod@s os meus amigos que de alguma forma me ajudaram durante esse
percurso, seja através de palavras, mensagens, oração, etc. Os amigos alegram
nossas vidas!
A todos os adolescentes pesquisados, pela contribuição neste trabalho
através das suas histórias de vida. Vocês são guerreiros!
Menino de Rua – Patativa do Assaré
Menino de Rua, garoto indigente
Infanto Carente,
Não sabe onde vai
Menino de Rua, assim maltrapilho
De quem tu és filho
Onde anda o teu pai?
Tu vagas incerto não achas abrigo
Exposto ao perigo
De um drama de horror
É sobre a sarjeta que dormes teu
sono,
No grande abandono
Não tens protetor
Meu Deus! Que tristeza! Que vida esta
tua
Menino de Rua,
Tu andas em vão
Ninguém te conhece, nem sabe o teu
nome
Com frio e com fome
Sem roupa e sem pão
Ao léu do desprezo dormes ao relento
O teu sofrimento
Não posso julgar,
Ninguém te auxilia, ninguém te
consola,
Cadê tua escola,
Teus pais, teu lar?
Seguindo constante teu duro caminho
Tu vives sozinho
Não és de ninguém
Às vezes pensando na vida que levas
Te ocultas nas trevas
Com medo de alguém
Assim continuas de noite e de dia
Não tens alegria
Não cantas nem ri
No caos de incerteza que o seu mundo
encerra
Os grandes da terra
Não zelam por ti
Teus olhos demonstram a dor, a
tristeza,
Miséria, pobreza
E cruéis privações
E enquanto estas dores tu vives
pensando,
Vão ricos roubando
Milhões e milhões
Garoto eu desejo que em vez deste
inferno
Tu tenhas caderno
Também professor
Menino de Rua de ti não me esqueço
E aqui te ofereço
Meu canto de dor
RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender as motivações que levaram os adolescentes institucionalizados na ONG o Pequeno Nazareno a morar nas ruas de Fortaleza e como objetivos específicos: traçar o perfil dos adolescentes, indagar o que significa ser adolescente, conhecer o significado de rua para eles, conhecer as mudanças ocorridas em relação à família após a institucionalização e saber suas expectativas quanto ao futuro. Para atingir estes objetivos, foi feita uma acometida contextualizando a adolescência baseando-se em autores diversos, os quais conceituam e caracterizam a categoria adolescência e também apresentamos esse conceito segundo o que os entrevistados pensam sobre essa fase da vida. Deste modo, abordamos também aspectos sobre o significado de rua, como era a rotina dos adolescentes na rua, trato da questão da institucionalização e também busco conhecer os desejos e sonhos dos sujeitos entrevistados. Vale ressaltar que este trabalho é de pesquisa qualitativa, formada de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. As categorias que foram utilizadas são: Adolescência, rua e institucionalização. Usamos como técnica a observação simples e entrevista semi-estruturada a qual foi realizada com onze adolescentes institucionalizados na ONG o Pequeno Nazareno. Os dados foram coletados através da técnica de análise de conteúdo, procurando assim, organizá-las por categoria. Desse modo, após as análises podemos perceber e compreender as principais motivações que levaram os adolescentes pesquisados a enfrentar o universo das ruas.
Palavras-chave: Adolescência, Rua e Institucionalização.
ABSTRACT
This research has the overall objective to understand the motivations that led adolescents institutionalized in the ONG Small Nazarene to live on the streets of Fortaleza and specific objectives: Define the profile of adolescents, asking what it means to be a teenager, know the meaning of the street for them to know the changes in relation to the family after the institutionalization and know their expectations of the future. To achieve these objective, was made an ill contextualizing adolescence based on several authors who conceptualize and characterize adolescence category and also introduce this concept into what respondents think about this stage of life. Thus, we are also addressing aspects about the meaning of the street, as was the routine of teenagers on the street, dealing with such issues and seek institutionalization also meet the desires and dreams of the interviewees. It is noteworthy that this work and qualitative research, consisting of a bibliographic, documentary and field research. The categories that were used are: adolescence, street and institutionalization. We use the technique as simple observation and semi-structured interview which was conducted with eleven adolescents institutionalized in the ONG Small Nazarene. Data were collected using the technique of content analysis, attempting to organize them by category. Thus, after the analysis we can see and understand the main motivations that led the teens surveyed the universe to face the streets.
Keywords: Adolescence, Street and Institutionalization.
LISTA DE ABREVIATURAS
CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas.
CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Juvenil).
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
FUNABEM-Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor.
LENAD – Levantamento Nacional de Álcool e Drogas.
MNMMR - Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.
ONG – Organização Não Governamental.
SAM - Serviço de Assistência ao Menor.
SDH/PR – Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
SECULT - Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
% - Por cento.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 16
1 - ADOLESCÊNCIA ........................................................................................................... 20
1.1 – Breve contexto sobre adolescente em situação de rua . ............................................20
1.2 - A adolescência e suas particularidades .................................................................... 25
1.3 – A importancia da família na adolescência ................................................................ 30
1.4 – A adolescência e a pobreza ..................................................................................... 33
2. O TRAJETO DA RUA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO ..................................................... 39
2.1 – O caminho da rua começa a ser trilhado ................................................................. 39
2.1.1 – Entre a casa e a rua ............................................................................................. 44
2.1.2 – As drogas, a rua e os seus impactos .................................................................... 47
2.2 – Os desafios e as mudanças no processo de institucionalização no Brasil ............... 50
3. DESCOBRINDO NOVOS CAMINHOS: A TRAJETÓRIA DA PESQUISA ....................... 57
3.1. Construção da pesquisa ........................................................................................... 57
3.2 Adentrando o desconhecido ....................................................................................... 59
3.3 Conhecendo a instituição ........................................................................................... 63
3.4 Quem são esses adolescentes? ................................................................................. 66
3.5 Relatos e análises ...................................................................................................... 73
3.5.1 Percepção de adolescência para os entrevistados .................................................. 73
3.5.2 A trajetória de casa para a rua ................................................................................. 75
3.5.3 A rotina, a rua e seu significado na visão dos adolescentes .................................... 78
3.5.4 As mudanças ocorridas em relação a família após a institucionalização ................. 79
3.5.5 E o que eles esperam do futuro? ............................................................................. 82
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 85
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 88
APÊNDICE .......................................................................................................................... 92
16
INTRODUÇÃO
A temática adolescente em situação de rua tem levantado diversas
discussões e têm sido tema de muitos debates por meio de profissionais da
área, estudantes, entre outros. Cada dia mais é perceptível o aumento de
crianças e adolescentes nas ruas, não apenas na cidade de Fortaleza, mas em
todo o Brasil. Diante do exposto, trazemos uma reportagem transmitida na
Rede Globo, através do programa Fantástico1 de Marcelo Canelas onde é
apresentada e retratada essa questão que incomoda a muitos, mas
infelizmente o que se vê é apenas descaso e negligência diante de uma
realidade gritante, pois dizem que eles são o futuro do nosso país. Mas como,
se eles são esquecidos e invisíveis diante da sociedade e do Estado?
“A ONU já falou em cinco milhões. O IBGE nunca contou. O fato é que o
número de meninos e meninas de rua ainda é um mistério” (CANELAS, 2013).
Sendo assim, o projeto “Criança não é de rua” aderiu a uma pesquisa
qualitativa, realizada por educadores sociais. Nessa pesquisa, 565 crianças e
adolescentes foram ouvidos em 10 capitais, trazendo não apenas a
quantidade, mas o perfil desses jovens e o que eles pensam.
Segundo a reportagem, no ano de 2011 o governo federal pagou R$ 1,5
milhões para um instituto de pesquisa poder contá-los, mas na cidade de
Maranhão “só acharam 23 meninos. E o número apurado no Brasil inteiro,
23.973, caiu em descrédito”. Portanto, percebe-se que a questão não será
resolvida ou mesmo amenizada apenas por meio de dados estatísticos, mas
sim através de uma intervenção que o governo precisa realizar frente a essa
problemática tão complexa.
1 Disponível em: g1. globo.com/fantástico/noticia2013/10/pesquisa-mostra-que-esmola-financia-
o-uso-de-drogas-das-crianças-de-rua.html. Acesso em 24/10/2013, às 13 h.
17
Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender as
motivações que levaram os adolescentes institucionalizados na ONG o
Pequeno Nazareno a morar nas ruas de Fortaleza. Destacamos como objetivos
específicos: traçar o perfil dos adolescentes, indagar o que significa ser
adolescente, conhecer o significado de rua para eles, conhecer as mudanças
ocorridas em relação à família após a institucionalização e saber suas
expectativas quanto ao futuro.
O meu2 interesse pela a temática surgiu em uma visita institucional
propiciada pela disciplina de Política Social, promovida no 3º semestre do
curso de Serviço Social da Faculdade Cearense (FAC). O trabalho era em
grupo e precisávamos procurar uma instituição que trabalhasse com crianças e
adolescentes, assim como os outros do grupo, eu também fui para internet
procurar algum local onde pudéssemos realizar essa visita. Foi justamente
quando encontrei a ONG o Pequeno Nazareno. Logo me encantei com as fotos
do local e em seguida, mostrei ao restante do grupo e todos concordaram em
realizar a pesquisa no Pequeno Nazareno. Foi possível o acesso aos
adolescentes, onde se teve a oportunidade de ouvi-los sobre suas experiências
nas ruas e, principalmente, sobre os motivos que os distanciaram do vínculo
familiar.
Desde então, tive um apego e um grande carinho pelas leituras que
traziam à tona as discussões referentes a adolescentes em situação de rua,
assim como o meu olhar também foi aguçado diante da realidade que já existia,
mas que infelizmente não dava a importância devida, era como se eu os
percebesse, mas não os enxergasse. O meu olhar era o mesmo do censo
comum, tinha medo, às vezes dizia: “Eles estão nas ruas porque querem.
Deviam estar na escola”. Em fim, de certa forma julgava-os, apesar de me
sentir mal quando os via no meio dos carros, no sol, pedindo a um e a outro,
era uma confusão de sentimentos além de todos esses conceitos errôneos já
citados anteriormente.
2Utilizei em alguns pontos da introdução a 1ª pessoa por se tratar da minha justificativa
pessoal.
18
Depois dessa visita e a aproximação com os adolescentes do Sítio O
Pequeno Nazareno, tive a oportunidade de ouvir suas histórias, seu modo de
vida, além de conhecer o sítio com eles, brincar, em fim, quebrar o conceito
que muitos de nós temos em relação a eles. Entre as conversas e brincadeiras
minha paixão por eles silenciosamente acendeu e voltei para casa refletindo
em todos os poucos e bons momentos que vivenciei com aqueles que seriam
os sujeitos da minha pesquisa após alguns anos.
O tempo foi passando e cada dia tinha mais certeza que essa
problemática seria tema da minha monografia, tanto que desde o meu projeto
de pesquisa trato dessa temática e em nenhum momento me interessei em
mudar, pois já estava decidida, apesar de ainda ser muito cedo para definir a
temática do Trabalho de Conclusão de Curso. Por fim, Chegou o momento do
Estágio Obrigatório e o meu pensamento era estagiar em alguma instituição
que me aproximasse da temática pretendida, o que não foi possível. Por motivo
de força maior, o meu estágio foi realizado dois semestres no Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Droga (CAPS AD) e um semestre no CAPS
Infantil.
Foram experiências maravilhosas que contribuíram bastante para o meu
amadurecimento acadêmico e enquanto futura Assistente Social, mas, apenas
para enfatizar, a experiência de estágio no campo citado acima, mesmo que
tenha sido enriquecedora, não me fez perder o interesse e nem a paixão por
esse tema, pois o mesmo já estava fazendo parte do meu cotidiano através de
leituras envolvendo esse tema, reportagens em jornais regionais e programas
de televisão, além das inúmeras vezes em que eu tentava me aproximar
desses (as) meninos (as) nos terminais, pelas calçadas e nas praças. Na
maioria das vezes apenas para observá-los.
Vale ressaltar a importância dessa temática para o Serviço Social, pois
esse profissional está diretamente ligado às expressões da questão social,
enquanto mediador entre a sociedade e o Estado através das políticas públicas
e intervindo diretamente no processo de resgatar o vínculo familiar,
fortalecendo os laços que foram rompidos por diversos motivos. Além da
19
necessidade de levar cada vez mais essas discussões para o espaço
acadêmico. Portanto, o interesse por essa temática perdurou até o 8º semestre,
onde finalmente iniciei a construção de uma pesquisa que resultou na produção
da minha monografia.
O presente trabalho está divido em três capítulos. No primeiro, intitulado
Adolescência, iremos contextualizar os adolescentes em situação de rua
trazendo fatos que marcaram o início dessa problemática e também salientar
as mudanças ocorridas a partir da aprovação do Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990. Em seguida, abordaremos o conceito de adolescência,
suas características físicas, psicológicas e especificaremos algumas de suas
peculiaridades advindas com essa fase. Os principais autores utilizados foram
Bursztyn (Org.) (2003), Pinheiro (2006), Morais; Silva; Koller (Org.) (2010),
Calligaris (2000) e Zagury (2009).
No capítulo seguinte que tem como título O trajeto da rua e suas
estratégias abordaremos a questão da rua, o que ela significa como é trilhar
esse caminho da rua e quais as principais motivações encontradas para que os
adolescentes deixem suas casas e percorram o caminho da rua. Faremos
também uma breve abordagem diferenciando os espaços da casa e da rua,
além disso, discutiremos brevemente se existe alguma ligação entre a rua e o
uso de drogas. Os autores utilizados foram Rizzini (2003,2004 e 2007), Escorel
(1999), Da Matta (1997) e Nascimento (1997).
No terceiro capítulo que tem como título Descobrindo novos
caminhos: a trajetória da pesquisa trataremos do percurso metodológico.
Iremos expor a pesquisa de campo realizada na ONG o Pequeno Nazareno,
situada em Maranguape-Ce, descreveremos o cenário detalhado, as
dificuldades encontradas no decorrer do presente trabalho, o perfil dos sujeitos,
os relatos e análises. Para a realização da pesquisa usamos como técnica a
entrevista semiestruturada. Os autores utilizados neste capítulo foram Gil
(2011), Minayo (2007) e Goldenberg (2004).
20
1 - ADOLESCÊNCIA
1.1. Breve contexto sobre adolescente em situação de rua
“Há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro”. Machado de Assis
3
Os adolescentes em situação de rua na cidade de Fortaleza são
personagens marcantes da exclusão social e da violação de seus direitos. Para
onde se olha percebe-se meninos e meninas espalhados pelas grandes
avenidas, nos sinais, terminais e debaixo de viadutos. Todos os dias eles lutam
em prol de sua sobrevivência, seja pedindo, limpando carros, vendendo balas
dentro de ônibus e, até mesmo, se prostituindo ou roubando.
Segundo Bursztyn
[...] Os que moram nas ruas, têm por trás de sua situação uma longa história e causas sociais determinadas que se ligam a questões econômicas , de migração, de desagregação familiar, de desemprego, de violência urbana, de drogadição, de alcoolismo, entre outros. (BURSZTYN, 2000, p.89).
De maneira abrangente, geralmente a sociedade pondera as pessoas
que estão nas ruas e coloca nelas um rótulo apenas do que essa sociedade
ouve falar ou pela própria aparência, mas não se preocupa em conhecer seus
relatos de vida, seus lamentos, suas perdas e aflições.
De acordo com uma reportagem de Lavor do Jornal Diário do Nordeste4
publicado no dia 12 de outubro de 2011, dos 191 meninos e meninas
3 Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista,
romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Disponível em: http://www.releituras.com/machadodeassis_bio.asp. 4 Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=10080059. Acesso em:
12/10/11.
21
pesquisados em Fortaleza, exatos 44% estão na rua por conta do ambiente
familiar desconfortável, ou seja, violência e até mesmo condições sub-humanas
de moradia. A pesquisa também mostrou que dos 191 pesquisados, 33,9%
estão no Centro da cidade, 46,9% em terminais, 15,2% na orla e 4% na
comunidade. Sabe-se, segundo os dados da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República (SDH/PR)5,que ao todo são 1.575 crianças e
adolescentes em situação de rua em Fortaleza. A violação de direitos as quais
estes jovens estão expostos consiste exatamente na própria situação de
moradia de rua, uso de drogas, exploração do trabalho infantil e sexual.
(DIÁRIO DO NORDESTE, 2011).
Diante desse cenário, destacamos a industrialização como um dos
fatores determinantes dessa problemática. Segundo Pinheiro (2006), a partir
das décadas de 1930 e 1940 ocorreu uma grande migração do campo para a
cidade, onde parte dessa população não se integrava ao sistema social, nem
ao mercado de trabalho. As grandes cidades ficaram aglomeradas de famílias
sem ter para onde ir, sem alimentação e proteção básica. Em conseqüência
disso, a referida autora destaca o crescimento da desigualdade social,
incidindo sobre as condições de vida da classe trabalhadora, trazendo com isso
um aumento significativo da disparidade social.
Os adolescentes também vivenciaram a conjuntura de vulnerabilidade
social desde o início do processo de industrialização brasileira, sendo vítimas
da ausência de políticas sociais públicas. (PINHEIRO, 2006). Assim, a sua
ocupação nas ruas, passou a ser tratada como um incômodo pelo Estado e
uma ameaça à sociedade.
Diante desse contexto, o Estado assume uma postura punitiva baseada
no Código de Menores da América Latina que entrou em vigor em 1927, e a
criação do SAM (Serviço de Assistência ao Menor) em 1940, onde se fazia o
atendimento de “menores” de 18 anos abandonados e delinqüentes.
(KRAMER, 1992; OSTERNE, 1993 apud PINHEIRO, 2006). A autora ressalta,
5 Matéria publicada no Jornal o povo, crianças, infância violada. Fortaleza, quinta-feira, dia 13 de
outubro de 2011.
22
ainda, que esse aparato legal se resguardou do isolamento e da repressão de
crianças e adolescentes, destituindo-os quase sempre do convívio social, pois
representavam uma perturbação para o bem estar da sociedade.
Nessa concepção, a autora afirma que o Código de Menores tinha um
caráter discriminatório e era associado à pobreza e à delinquência, era voltado
para crianças e adolescentes que não tinham condições de sobreviver, ou seja,
carentes, “infratores” ou abandonados. A forma de proteger era a repreensão
como instrumento de correção e o isolamento como cerceamento do convívio
social. O objetivo do isolamento era para que pudessem se reeducar e voltar
ao convívio social, porém não deram bons resultados. Em 1964 no período do
regime militar o SAM foi substituído pela FUNABEM (Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor) a fim de retificar as graves distorções do antigo SAM,
onde era fortemente associado à violência do adolescente como uma forma de
causar perigo á sociedade. (OSTERNE, 1995 apud PINHEIRO, 2006).
Contudo, em 1979 o código de menores teve algumas alterações, onde
passou de instrumento de proteção e vigilância, em que os adolescentes eram
vítimas da omissão e transgressão da família em seus direitos básicos para
instrumento de controle social, nesse caso não era apenas a transgressão da
família, mas também do Estado e da sociedade. (PINHEIRO, 2006).
Então, segundo (RIZZINI et al, 2003), nos meados dos anos 1980, as
crianças e adolescentes em vulnerabilidade já estavam marcados pela
desigualdade social, marcas essas que se alastram até os dias de hoje. Foi
justamente nesse período que eles levaram o título “geração da rua”, no qual
ficou mais conhecido como crianças e adolescentes em situação de rua. Vale
salientar, que em 1984 aconteceu o primeiro encontro do Movimento Nacional
de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)6, o qual teve uma extrema
6Esse movimento deu início em 1982 e se estabeleceu como uma entidade civil em 1985, hoje
existe cinco sedes espalhadas pelas principais capitais do país. Este movimento não presta atendimento direto aos menores, mas busca movimentar os próprios menores, educadores de rua, instituições, enfim, todos os envolvidos com essa temática. Disponível em http://www.scielo.php?script=sciarttex&pid=s1414-98931988000100007 acesso em 06/10/2013.
23
importância e foi essencial para as conquistas futuras em assuntos
relacionados à garantia de leis.
Finalmente, em 1990 foi aprovado no Brasil, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), resultado de uma série de mobilizações sociais,
substituindo o Código de Menores. Por sua vez, o ECA teve como principal
objetivo a proteção e os direitos de todas as crianças e adolescentes
independente de sua classe social, cor ou religião e o tratamento dado a essas
crianças e adolescentes como pessoas que necessitam de cuidados especiais,
possibilitando um desenvolvimento saudável. O ECA afirma em seu artigo 4º
que a responsabilidade que antes cabia apenas a família, agora é
responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1990).
Observa-se que com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, foi
garantida legalmente a proteção ampliada à criança e ao adolescente (Art. 1º,
ECA, 1990), todavia, na realidade, diversos desafios estão postos à efetivação
dessa conquista. É importante frisar que esses (as) meninos (as) em situação
de rua já têm seus direitos infringidos desde o momento que são cerceados do
direito à escola, a convivência familiar, habitação, ao lazer, entre outros, bem
como susceptíveis à violência. Contudo, apesar das mudanças ocorridas ao
longo dos anos a história desses adolescentes teve forte impacto econômico e,
principalmente, social. Como foi supracitado, o período da revolução industrial
acarretou diversos problemas sociais, trazendo para a sociedade o aumento da
desigualdade, pois os que migravam do campo para cidade, vinham à procura
de uma vida melhor, mas o sistema não inseriu todos, causando assim uma
afluência de pessoas sem ter para onde ir.
Para Nascimento
A problemática da criança e do adolescente é ainda [...] um grande desafio, político, econômico, social e cultural, para todas as sociedades, mesmo para aquelas que ingressam em um modo de desenvolvimento considerado hoje pós-moderno e que preconizam os direitos dos indivíduos e dos cidadãos: direito á liberdade de ser sujeito, de ir e de vir, de se expressar, direito á afirmação de sua própria identidade [...]. (NASCIMENTO, 1997, p.13).
24
Esse contexto reflete a realidade de muitos adolescentes que hoje
padecem com a pobreza e vivem à margem da sociedade, muito distante do
que está proposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda há muito a
se fazer, políticas públicas a serem criadas e projetos a serem aprovados, para
que esses adolescentes não sejam apenas recolhidos como era feito antes e
ainda nos dias de hoje, mas que aconteçam reformas nas políticas públicas e
seja amenizada a triste realidade dessa população de rua que está exposta
todos os dias a todo tipo de violência que a rua apresenta.
Sobre população de Rua Nascimento complementa:
Os mendigos dormindo nas ruas, em pleno dia, e as pessoas que vão as compras ou ao trabalho passando por cima deles ou evitando-os, é uma imagem emblemática. Os prostrados no solo não são visto como semelhantes, mas como bichos, espécies distintas. Estão sujos, cheiram mal e são feios... pedaços perdidos da humanidade. (NASCIMENTO2000, p. 56).
Essa é uma cena corriqueira nos dias de hoje nas grandes cidades.
Quantas vezes não nos deparamos com meninos e meninas de rua nos
lugares públicos? A sociedade e o Estado têm naturalizado esse
acontecimento, que só tem aumentado e trazido diversas discussões no âmbito
acadêmico. Mas apenas falar, não adianta, pois esses adolescentes que estão
nas ruas necessitam de ações urgentes e de políticas públicas que lhes
assistam.
Mas o autor Bursztyn (2000, p.19) salienta que “viver no meio da rua não
é um problema novo”. Isso é fruto das raízes históricas. Esse passado traz
consigo um estigma de que a maioria dos que se encontram em situação de
rua é marginal, a sociedade e o Estado os julgam pelo modo de se vestir, falar
e principalmente pelo próprio fato de estar nas ruas. Desta forma, concordamos
com a afirmação de Medeiros (1995) apud Câmara et al. (2000, s/p) quando ele
diz que:
Não podemos perder de vista que mesmo muitas vezes rotuladas pela sociedade como anti-sociais e
25
infratores, são crianças e adolescentes que se encontram em suas respectivas fases de crescimento e desenvolvimento, e também que apesar de permanecerem pelas ruas sujeitas aos riscos pessoais e sociais característicos do universo da rua, nem sempre compõem um grupo naturalmente predisposto ao crime e à marginalidade.
Essa afirmação nos faz refletir sobre o padrão que a sociedade impõe
sobre os indivíduos e com isso os que estão nas ruas são categorizados como
aqueles que causam perigo a quem quer que seja e não percebem que eles
também estão sujeitos aos perigos eminentes da rua. Não podemos afirmar
com veemência que todos eles não têm envolvimento com a violência e o
crime, mas podemos perceber o quanto esses adolescentes foram excluídos
da sociedade de forma geral, pois estão desvalidos nas ruas, sem orientação,
sem escola, sem o apoio do Estado e a única atitude que se tem é
simplesmente ignorar esse fato que aumenta cada dia mais.
Sendo assim, consideramos relevante uma discussão teórica sobre as
varias faces da adolescência e suas características, perpassando as mais
variadas mudanças que são típicas dessa fase.
1.2 - A adolescência e suas particularidades
Afinal, alguém pode explicar o que é ser um adolescente? O que ele
sente e pensa? Como definir essa fase crucial na vida de uma criança que está
prestes a enfrentar esse momento? São muitas indagações, pois sabemos que
essa etapa vem acompanhada de surpresas.
Falar de adolescência é sinônimo de mudanças. É uma fase
caracterizada por grandes transformações tanto físicas quanto psíquicas.
Segundo Calligaris (2000) “[...] ele não é mais nada, nem criança amada, nem
adulto reconhecido [...]” (pg. 24), ou seja, é um momento em que o adolescente
deixa de ser criança, mas não sabe o que realmente está se tornando, pois ele
26
ainda não é um adulto, isso se torna um momento muito conflituoso na cabeça
do adolescente, pois nem mesmo ele sabe quem é.
Geralmente, a adolescência para a maioria das pessoas é marcada pela
puberdade, ou seja, pelas mudanças ocorridas em seu corpo do jovem,
fazendo com que se torne cada vez mais parecido com um adulto, mas, ao
mesmo tempo, essas modificações não permitem que ele se torne uma pessoa
madura e independente.
Diante do exposto, Calligaris afirma que:
O começo da adolescência é facilmente observável, por se tratar da mudança fisiológica produzida pela puberdade. Trata-se, em outras palavras, de uma transformação substancial do corpo do jovem, que adquire as funções e os atributos do corpo adulto (CALLIGARIS, 2000, pg.19).
A palavra “adolescer”7 vem do latim e significa crescer, desenvolver-se.
Essa fase é o período da busca pela personalidade, das descobertas, das
conquistas, das dúvidas, é a fase das contestações. Eles gostam de viver em
grupos e sentem a extrema necessidade de amar e ser amados. Essa é a
idade em que vivem mudanças rápidas, porém profundas que acabam
influenciando o comportamento, no que diz respeito à família, religião e a
sociedade de forma geral (FIER, 2007).
Essas mudanças no desenvolvimento, segundo Zagury (2009), são
comuns à idade, pois essas modificações tanto físicas como psicológicas tem a
finalidade de preparar esse adolescente para torna-se um adulto futuramente.
O autor destaca também que, para que haja um desenvolvimento saudável
nessa fase da vida, é necessário que os pais mantenham um bom
relacionamento com seus filhos adolescentes, pois assim perceberão o quanto
essa fase é fantástica, e mesmo com as dificuldades que são comuns, poderão
viver momentos incríveis com eles, apesar dos transtornos que a própria fase
traz á tona.
7 Disponível em: http://www.paralerepensar.com.br/josefierapalavraadolescer.htm. Acesso em
16/05/13.
27
O autor francês Áries (1981), em seu livro História Social da Criança e
da Família, afirma que o termo infância foi construído ao longo da História, e
destaca que a criança não era vista como uma pessoa em desenvolvimento. As
crianças e adolescentes tinham acesso a brincadeiras abrasivas, participavam
das festas, das conversas, jogos e trabalhos dos adultos, ou seja, eram
tratados igualmente, não existia ainda nenhuma concepção de que a criança e
o adolescente necessitavam de cuidados especiais de acordo com sua idade.
Após longos anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma
no artigo 2° que é considerado adolescente aquele entre doze e dezoito anos
de idade incompletos, sendo garantido por lei o direito ao desenvolvimento
físico e social saudável, diferentemente do que foi supracitado por Áries (1981).
Nesse sentido, o ECA nos artigos seguintes enfatiza sobre os direitos inerente
a criança e ao adolescente.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.Art. 4º É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990).
Oliveira (2001) destaca complementando que “[...] a adolescência pode ser
compreendida mais como um trabalho psíquico do que como uma faixa etária,
porque a sua durabilidade não dependerá tanto da idade, mas do peculiar
tempo de cada sujeito para a realização desta operação subjetiva de buscar
um lugar”. (p. 35).
Portanto, a adolescência não é caracterizada apenas pela idade, mas
existe toda uma maturidade a ser alcançada no decorrer dessa fase, uma vez
28
que cada ser humano tem sua subjetividade, seus limites. Portanto, não é
possível classificar definitivamente o que é ser adolescente apenas pelo
período de vida de cada indivíduo.
Frota em seu artigo, afirma que:
A adolescência, portanto, deve ser pensada para além da idade cronológica, da puberdade e transformações físicas que ela acarreta, dos ritos de passagem, ou de elementos determinados aprioristicamente ou de modo natural. A adolescência deve ser pensada como uma categoria que se constrói, se exercita e se reconstrói dentro de uma história e tempos específicos. (FROTA, 2007; p.157).
É de suma importância fazer uma alusão sobre essas características
que geralmente são observadas na fase da adolescência, mas levando em
consideração que esse processo não é sinalizado apenas pelas mudanças
corporais, mas esse período é justamente o de adequação e de aprendizagem,
entretanto também é o momento em que os erros são constantes, ou seja, é
como se tudo o que aprendeu na infância não tivesse tanta importância sendo
agora necessárias certas mudanças na forma de se comportar, falar, se vestir e
até brincar. Também é importante frisar que é preciso ter um olhar peculiar e
específico, pois cada adolescente tem sua cultura, seu desejo, vive em
situações econômicas e sociais diferentes.
Ainda sobre a temática adolescência, vale ressaltar que ser adolescente
está ligado também aos mais variados aspectos sociais, culturais ou
financeiros de cada pessoa. Partindo dessa mesma suposição o autor Osório
(1989) citado por PIMENTEL (2010, p.46) julga que a adolescência é um
privilégio vivido apenas pelas pessoas mais favorecidas, ele estima que é “um
luxo não permitido aqueles que estão empenhados na encarnecida luta por
subsistência. Estes apenas experimentam a puberdade”.
A puberdade geralmente é a primeira característica citada quando se
trata de adolescência, por isso geralmente confundem-se. A primeira distingue-
se pelas mudanças físicas e biológicas enquanto a adolescência corresponde
29
ao próprio desenvolvimento comportamental e psicológico, ou seja, é um
conjunto de mudanças que ocorrem simultaneamente. (CALLIGARIS, 2000).
Portanto, ao fazermos uma síntese sobre os conceitos supracitados
compreendemos que a adolescência é uma metamorfose, pois está em
constante mudança, trazendo em cada adolescente uma ânsia de chegar à
idade adulta, de desfrutar da tão sonhada independência e, principalmente, do
reconhecimento.
Para Calligaris 2000, a adolescência é marcada pela construção de sua
identidade, é o momento em que o jovem está à procura de saber quem ele é,
o que vai ser, quem são seus amigos e o que pensam a respeito dele. É uma
fase em que procura ser reconhecido, pois até então não sabe realmente o que
é ser um adolescente e muito menos até quando vai permanecer nessa fase.
Finalizamos essa categoria com uma citação do autor Becker citado por
Pimentel. Essas palavras finais do autor referido fazem uma síntese de todas
as teorias citadas nesse texto, dessa forma achamos de suma importância
mencioná-la, para complementar os conceitos já aludidos.
Então, um belo dia, a lagarta inicia a construção do seu casulo. Este ser que vivia em contato íntimo com a natureza e a vida exterior, se fecha dentro de uma “casca”, dentro de si mesmo. E dá início á transformação que levará a um outro ser, mais livre, mais bonito(segundo algumas estéticas) e dotados de asas que lhe permitirão voar. Se a lagarta pensa e sente, também o seu pensamento e o seu sentimento se transformarão. Serão agora o pensar e sentir de uma borboleta. Ela vai ter outro corpo, outro astral, outro tipo de relação com o mundo. (BECKER, 1997; p.32).
Frequentemente acontece dessa maneira, o adolescente de repente
acorda e percebe que não é mais o mesmo, o seu corpo está mudando, o seu
humor está constantemente alterando e onde estão os seus brinquedos?
Abandonou-os, pois isso é coisa de criança. As pessoas já não olham mais
para ele como uma criança que precisa de colo, carinho e atenção. Os adultos
começam a cobrar responsabilidades e é justamente nessas circunstâncias
que eles se escondem do mundo e iniciam os seus questionamentos em
30
relação à vida. Entendemos então, que esse momento é crucial para a
construção de uma nova identidade e mais maturidade. Depois dessa etapa,
espera-se que o adolescente compreenda os fatos ocorridos em seu próprio
corpo e mente, levando-o à vida adulta, o momento em que ele mais espera.
Desta forma, devemos salientar a importância da família nesse período de
desenvolvimento dos adolescentes e para tanto, apresentamos algumas
considerações sobre família e o quanto ela pode influenciar em suas vidas.
1.3 – A importância da família na adolescência.
Ao longo dos anos a família vem passando por diversas transformações
em relação a sua estrutura, modelo e costume. Hoje, o conceito de família é
bem diversificado, é quase impossível encontrar uma definição para a mesma,
pois sabemos que, atualmente, família não é somente pai, mãe e irmão, mais
ganhou uma ampliação, de forma que não podemos defini-la como acontecia
anteriormente, ou seja, existia um modelo padrão, o qual foi reproduzido por
muitos anos.
Com base no que foi comentado acima, segundo Gomes& Pereira
(2003) apud Morais (2010) et. al temos que:
Historicamente, a definição de família esteve pautada nas relações de parentesco, as quais envolviam apenas os laços consanguíneos, a filiação e o casamento, definido assim o modelo nuclear como hegemônico perante a sociedade. No entanto mudanças econômicas e sociais mobilizaram novas configurações e formas de organizações familiares. (MORAIS, 2010, p. 178).
Estas transformações que ocorreram trouxeram mudanças significativas
nas relações familiares, pois através delas, segundo Morais et.al. (2010), as
famílias foram divididas em duas classificações: entre a família que é
idealizada e a família em sua realidade, ou seja, existe uma distancia entre o
ideal e o real. O ideal seria a formação de uma família nuclear8, mas o real é o
que certamente é vivenciado diariamente nas relações familiares.
8 Família nuclear é formada por pais e filhos numa mesma casa.
31
O aparecimento de novas configurações familiares9 conseqüentemente
tem causado muitos conflitos, separação dos pais, situação de abandono,
violência, e em muitas circunstâncias, o vínculo familiar é rompido trazendo
conseqüências severas para toda a família, principalmente para as crianças e
adolescentes. Sendo assim, essa fase que por natureza já é turbulenta e
enxurradas de subversões, as dificuldades sofridas por cada família tende a
influenciar em suas relações e conseqüentemente os laços familiares tornam-
se frágeis.
Neste item, a família tem papel fundamental em direcionar o adolescente
em seu caráter, princípios e principalmente ensinar e ter os cuidados básicos
que um adolescente necessita para um desenvolvimento saudável e feliz.
Ainda sobre a importância do papel da família na vida dos adolescentes.
Kaloustian afirma que:
A família é a principal responsável pela alimentação e pela proteção da criança, da infância à adolescência. A iniciação das crianças na cultura, nos valores e nas normas de sua sociedade começa na família. Para um desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança deve crescer num ambiente familiar, numa atmosfera de felicidade, amor e compreensão. (KALOUSTIAN, 2011; p. 05).
Assim, a participação da família é de extrema necessidade na formação
da percepção em relação ao que diz respeito à vida do adolescente em todos
os aspectos, pois é na família que aprendemos o valor do outro, a importância
da educação, do respeito, do afeto, das conquistas, dos relacionamentos
interpessoais, uma vez que todos os dias novos desafios estão postos nesse
período da adolescência, posto que é o momento em que a família se torna um
referencial para a vida adulta.
9 Destacamos algumas configurações familiares: A monoparental é comandada por um único
responsável adulto, as famílias reconstituídas são formadas por padrastos, madrastas e novos irmãos e a família ampliada que é composta por avós, tios, amigos, vizinhos etc.
32
Rizzine (2007), também ressalta que o adolescente tem direito à
convivência familiar, contudo existem milhares deles espalhados por todo
Brasil, tendo seus direitos violados e sofrendo violência e descaso nas ruas,
pois segundo o ECA (1990), como já foi supracitado, é dever da família,
sociedade e do Estado lhes garantir um desenvolvimento favorável e
principalmente direito à uma vivência familiar e comunitária harmoniosa que é
de extrema importância para sua desenvoltura no meio em que vive.
Zagury (2009) comenta que a família é uma grande influenciadora na vida
desses adolescentes, tanto positivamente como negativamente, pois se dentro
de sua casa a vivência é harmônica, há respeito uns pelos outros, diálogo e
paciência a probabilidade dos pais amenizarem a ida desse jovem para as ruas
em busca de amigos, por más companhias, e que provavelmente lhes mostrará
caminhos errôneos, será muita, uma vez que tudo que é importante e
necessário ele encontrará em seu ambiente familiar.
Em contrapartida, existem as famílias que vivem diversos tipos de
dificuldades e toda essa teoria citada infelizmente não é praticada, pois os
problemas são tantos que eles não encontram espaço para esse tipo de
assunto, já que estão mais preocupados com o que precisam fazer para manter
suas famílias. Essa realidade atinge milhares de famílias que hoje vivem
condições sub-humanas e ainda são cobradas e julgadas por não terem
condições de sustentar e educar seus filhos, pois a pobreza os atingiu de tal
forma que nem o básico para viver os pais consegue prover para sua família.
Então, Osório afirma a importância da participação da família e da
sociedade.
A participação de cada um de nós, como cidadãos, é obviamente a gota de água indispensável para que se forme o caldal de boa vontade e espírito coletivo capaz de transformar a sociedade. A família, como unidade matricial do corpo social, tem, contudo, seu papel a desempenhar. A forma como as relações humanas se processam no âmbito da família é o modelo interacional para o funcionamento das coletividades [...]. (OSÓRIO, 1996, p.86).
33
O autor menciona a importância dessas duas participações, pois para
ele são elementares para amenizar a desigualdade e a injustiça social.
Também percebemos o quanto as famílias em situação de vulnerabilidade
precisam de atenção básica, visto que muitas vezes seus filhos lhes são tirados
por não conseguirem mantê-los, com isso o vínculo familiar é quebrado e como
resultado dessa separação, vem o desapego à família, a insensibilidade, em
muitos casos a rebeldia, dentre outros. A seguir, iremos continuar tratando
sobre a adolescência, mas dessa vez sob um ponto de vista diferente, o
adolescente que vive essa fase e ao mesmo tempo enfrenta a pobreza.
1.4 - A adolescência e a pobreza
No filme “Crianças Invisíveis”, dirigido por Veneruso (2005) ocorre uma
cena em que um adolescente chamado Ciro, que vive na periferia de Nápoles,
em uns prédios com aparência de abandonado, sem perceber escuta seu
padrasto e sua mãe brigando por causa da falta de condições financeiras. Em
uma das falas de sua mãe, o garoto a ouve afirmar que não suporta mais
aquela situação, o dinheiro não estava suprindo nem as necessidades básicas
da família e que a partir daquele dia o menino Ciro teria que colocar dinheiro na
mesa e ajudá-la nas despesas de casa.
Nas cenas seguintes, o adolescente começa a se envolver com más
companhias, planejar roubos e conseguir seu próprio dinheiro. Dentre várias
cenas, destaca-se a que ele troca produtos roubados por dinheiro e também
por fichas para brincar em um parque de diversão e comprar algodão doce. No
decorrer da história, ele continua a submergir no mundo da criminalidade, e é
importante frisar que em algumas partes do filme, ele relembra as amargas
palavras de sua mãe. Também podemos perceber o contraste dos desejos
daquele menino, roubava para manter-se, ou até mesmo porque foi o caminho
mais fácil que encontrou para solucionar de imediato seus problemas, mas no
profundo de seus anseios infantis, queria apenas realizar desejos que toda
34
criança e adolescente têm, assim como brincar no parque de diversão, comer
guloseimas e ser feliz.
Mas não, ele se vê na obrigação de se sustentar, mesmo sendo apenas
um adolescente, na verdade, uma criança sozinha, que precisa tão cedo
enfrentar as dificuldades da vida. E infelizmente no final do curta-metragem, o
garoto simbolicamente faz uma arma com sua própria mão e aponta para sua
boca, finge que atira e cai no chão como se estivesse morto. Essa cena
exemplifica a massacrante realidade dos adolescentes que são privados de
seus direitos tão cedo, pois a desigualdade social os acompanha desde o seu
nascimento.
Diante dessa realidade retratada no filme Rizzini complementa dizendo
que:
Além de escapar da incômoda evidência de tanta miséria, preenche-se este vácuo por uma retórica na qual os pobres são desqualificados enquanto pais. Passam a ser vistos como pais que não amam, incapazes de estabelecer vínculos com suas crianças. (RIZZINI, 2003, pg. 53).
Faz-se necessário salientar que as condições econômicas de uma
família não são o mais importante, mas é de extrema necessidade para que os
seus membros venham desenvolver-se em todas as formas, principalmente se
tratando de adolescentes, uma vez que esse período é composto de decisões,
conquistas, alegrias e tristezas, pois quando uma família está bem em todos os
aspectos, ela sente-se segura em apoiar os filhos e dar todo um suporte para
um futuro digno. Mas também não significa dizer que quando determinada
família não tem uma boa condição financeira seja incapaz de proporcionar um
vínculo familiar forte o suficiente para enfrentar as dificuldades juntos e superar
até mesmo a pobreza.
Becker (2011) salienta que abandono e pobreza tende a ser confundido
no seu conceito, pois existem muitas crianças e adolescentes em situação de
rua ou nos abrigos que possuem vínculos com seus familiares em sua maioria.
A causa que os levam a situação de vulnerabilidade na maior parte das vezes
35
não é a negligência dos pais, mas sim uma estratégia de sobrevivência, pois
como foi relatado acima, no filme “Crianças Invisíveis”, podemos perceber essa
relação de pobreza e abandono, e muitas vezes o senso comum que julga as
famílias dizendo que elas abandonam e não sabem educar seus filhos sendo
essa a razão pela qual eles estão nas ruas fazendo o que é errado.
Portanto, é importante desmistificar esse pré-conceito, pois a autora
Becker (2011) afirma que “se abandono existe, não se trata de crianças e
adolescentes abandonados por seus pais, mas de famílias e populações
abandonadas pelas políticas públicas e pela sociedade” (p. 63). O ECA (1990)
frisa também, especificamente no artigo 23, que “a falta ou a carência de
recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar” e no parágrafo único do artigo 23 afirma que quando a
família não possuir uma boa condição econômica para permanecer com as
crianças e adolescentes no seio familiar, esta deve ser incluída em programas
oficiais de auxílio, para que seja possível efetivar o direito a convivência familiar
e comunitária. (BRASIL, 1990).
Enfim, as políticas públicas têm deixado a desejar quanto a essa
problemática, pois segundo o ECA (1990), o Estado tem o dever de assumir a
responsabilidade nessas situações apresentadas para dar subsídios as famílias
para que possam permanecer com seus filhos e apoiá-las no desenvolvimento
deles.
Kaloustian afirma que:
Por detrás da criança excluída [...] nas favelas, no trabalho precoce urbano e rural e em situação de risco, está a família desassistida ou inatingida pela a política oficial. Quando esta existe, é inadequada, pois não corresponde as suas necessidades e demandas para oferecer o suporte básico para que a família cumpra, de forma integral, suas funções enquanto principal agente de socialização dos seus membros, crianças e adolescentes principalmente. (KALOUSTIAN, 2011, p. 13).
Diante dessa realidade percebemos o quanto as famílias precisam da
mínima atenção básica para que possam exercer o direito que já lhe pertence,
que é o de criar e educar seus filhos de forma que eles sejam inseridos e
36
tenham seus direitos efetivados, tais como: saúde, educação, lazer, moradia,
convivência familiar, entre outros; ou seja, para que esses filhos tenham a
oportunidade de crescer e desenvolver tanto o físico quanto o intelecto, que
venham ser vistos como cidadãos que contribuem para o bem comum e para
que tanto a família como o adolescente possam compreender a importância da
participação familiar em seu crescimento e o quanto ela pode influenciar em
seu futuro.
O autor supracitado afirma que a família não é apenas responsável pelo
comportamento de seus filhos, mas sim pela trajetória de vida que cada
membro vai fazer individualmente, como a formação de uma nova família,
enfrentar o mercado de trabalho, etc. Ele comenta que nas famílias mais
pobres esse trajeto acontece de maneira traumática, pois o processo depende
das condições econômicas e das formas de sobrevivência que se dá em cada
família.
Segundo Carvalho
Vive-se no Brasil hoje um verdadeiro “apartheid” 10
entre ricos e pobres. Não se percebe, mas este “apartheid” é notório especialmente nas regiões metropolitanas, onde a maioria da população vive em cortiços, favelas e casas precárias das periferias, excluídos não apenas do acesso a bens e serviços, mas também do usufruto da própria cidade. A pequena população rica vive em bairros que são verdadeiros condomínios fechados com todos os bens e serviços disponíveis. (CARVALHO, 2011, p. 96).
A desigualdade em todos os aspectos tem causado uma verdadeira
divisão até mesmo geográfica. Segundo o autor referido a população mais
desprovida de recursos financeiros vive o processo de exclusão a começar
pelos serviços básicos que uma sociedade precisa, sem mencionar que
quando algumas comunidades com muito sacrifício constroem seus barracos
ou simples casas de alvenaria, onde o Estado por motivo de higienização, ou
10
Apartheid ("vida separada") é uma palavra de origem africana, adotada legalmente em 1948 na África do Sul para designar um regime segundo o qual os brancos detinham o poder e os povos restantes eram obrigados a viver separados dos brancos, de acordo com regras que os impediam de ser verdadeiros cidadãos. Disponível em http://questionadora.blogspot.com.br/2009/07/o-significado-de-apartheid.html acesso no dia 05/11/2013
37
seja, estética da cidade e também por causa de grandes eventos,
simplesmente dá ordem para demolir suas casas, os seus sonhos.
Nascimento (2000), comenta que “[...] os excluídos não têm lugar.
Vagabundeiam pelos interstícios das cidades [...]”. (p.66). E Bursztyn (2000,
p.38), afirma que os excluídos “[...] São os sem-teto, sem moradia, sem
trabalho, com seus vínculos familiares rompidos, que fazem do espaço da rua
sua morada [...]”. Pelo exposto, percebemos o quanto a desigualdade causa a
exclusão social, pois estamos habituados nessa sociedade a valorizar as
pessoas que possuem algo a oferecer, damos valores aos próprios interesses,
não nos importando com aqueles que estão a vaguear nas ruas sem destino,
sem esperança de dias melhores, como diz a música da banda Jota Quest11:
“Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor,
melhores na dor, melhores em tudo [...]. Dias melhores pra sempre [...]”.
Todas as pessoas desejam desfrutar de dias melhores, de uma vida
digna e sem privação de direitos, mas a realidade vivida pelos adolescentes
que por causa da pobreza e da miséria têm suas vidas impactadas e marcadas
pela violência, fome, drogas e abandono escolar, tem como consequência, na
maioria das vezes, a quebra da convivência familiar, uma vez que tanto a
família quanto o adolescente estão excluídos da sociedade, causando
progressivamente a distância entre eles, seja geográfica ou afetivamente.
Por fim, salientamos o quanto é importante compreendermos essa etapa
da adolescência, pois assim saberemos como lidar com as situações postas,
bem como frisar a necessidade da participação da família nesse momento
crucial na vida deles e o quanto ela pode entusiasmá-los a crescer em todos os
aspectos, sem deixar de destacar que os jovens nessa fase que vivem em
situação de vulnerabilidade necessitam de atenção. O que adianta a família ter
vontade de educar e proporcionar um futuro melhor para seus filhos se as
condições financeiras as limitam? Se a sociedade os desprezam e se o Estado
os abandona? No próximo capítulo iremos acompanhar como acontece o
11
Jota Quest é uma banda de pop rock formada em Belo Horizonte em 1993.
38
processo da casa para a rua, como os adolescentes, segundo os autores
referenciados, percebem esse universo e também como se deu o processo de
institucionalização no Brasil e quais as mudanças ocorridas.
39
2. O TRAJETO DA RUA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO
2.1 - O caminho da rua começa a ser trilhado
“Desde que sou gente a rua é meu mundo,
vivendo como indigente neste isolamento
profundo”.
Francisco Fernandes Nascimento12
Ao sairmos diariamente de nossas casas passamos por diversas ruas,
seja a pé, de ônibus ou carro, nas quais encontramos um universo cheio de
diversidade, composto por pessoas que seguem individualmente o seu
caminho. E é no espaço da rua que muitas pessoas sobrevivem de maneira
inumana, pois não encontram outra saída além dela. Sendo assim, é relevante
que aprofundemos mais sobre essa categoria, a fim de analisarmos o que a rua
significa para essa população nela habita, especificamente, os adolescentes.
Morais observa que:
Quando pensamos em rua, visualizamos um lugar de passagem, um lugar pelo qual devemos passar para chegar até o nosso objetivo final (escola, trabalho, lojas, casas de familiares, amigos etc.). Ao caminharmos a pé ou nos locomovermos de ônibus e automóvel, a rua mostra-se como um conjunto de estímulos (visuais, sonoros e olfativos) que se multiplicam de forma rápida e dinâmica. Além dos estímulos físicos, encontram-se (em maior ou menor quantidade) as pessoas que dela fazem parte e lhe dão cor e vida. Para a maioria dessas pessoas, a rua continua sendo simplesmente um “lugar de passagem”, de impessoalidade (multidão de desconhecidos) e que gera insegurança. (MORAIS, 2010, p.35)
Para o senso comum, a rua continua sendo apenas um lugar onde
podemos transitar com o intuito de chegar a um determinado local, assim como
também realizar atividades físicas e brincadeiras como: futebol, pipas, etc. Mas
quando chega o final do dia todos caminham em direção as suas casas, seu
12
Francisco Fernandes Nascimento é um poeta, natural de Natal - RN
40
aconchego, seu conforto, pois na rua você está desprotegido, exposto e
inseguro. Resumindo, realmente ela é apenas um local onde muitos passam,
mas preferem voltar as suas casas e ter uma boa noite de sono.
Mas acontece que nem todos podem fazer esse caminho de volta, pois
para muitos a rua não é mais apenas um lugar de transição, mas sim de
moradia e também de sobrevivência. Hoje, tem se tornado cada vez mais
comum vermos os sinais de grandes avenidas repletos de crianças e
adolescentes mostrando o que sabem e o que podem fazer para conseguir o
seu próprio sustento e também o da família. A situação precária nas famílias
traz um peso de responsabilidade muito cedo para esses meninos e meninas
de rua, pois são obrigados a abandonar sua infância, já que precisam trabalhar
para garantir pelo menos uma refeição por dia. Gastam toda a sua força
vendendo balas dentro de ônibus, limpando carros, engraxando sapatos ou
mesmo mendigando.
Rizzini enfatiza sobre suas vivências nas ruas.
Suas vidas são marcadas, desde o início, por adversidades contínuas, forçando-os a circunstâncias desumanas, que vão compondo o pano de fundo de suas trajetórias. Embora ocupem as ruas com sede de viver, suas histórias são pautadas por episódios de fome, brigas, desastres, mortes, perdas, falta de opção, de apoio, de tudo. (RIZZINI, 2003, p.12).
Então, quando esse adolescente por determinada situação sai de seu
ambiente familiar para as ruas, já traz consigo feridas abertas, mágoas,
ressentimentos, solidão e tristeza. A sua ida para as ruas é como se fosse a
solução dos seus problemas, ficam “a mercê da sorte”, vivendo de maneira
inumana, como se fossem o que sobrou da sociedade: o resto, inútil, sem valor
algum. Mesmo que a aproximação com a rua, embora muitas vezes, seja em
prol de sua sobrevivência, o adolescente está tão fragilizado que qualquer
pessoa de má influencia completa o vazio que as circunstâncias da vida lhe
proporcionaram. Dessa forma, a ida para as ruas começa a ganhar um atrativo,
não apenas pelo fato do trabalho, mas sim, pelos vínculos que são feitos.
41
Morais, et.al. (2010) enfatiza que a ida para as ruas não acontece de
repente, existe um processo que acresce gradativamente o elo com as pessoas
que já fazem parte desse espaço, geralmente esse processo de aproximação
com a rua se dá justamente pelo rompimento de vínculo na sua família e
também na sociedade. Com isso, aquele menino que ia para as ruas apenas
para trabalhar ou encontrar os amigos, de repente, percebe que quanto mais
tempo ele passa fora de casa, mais se afasta dos problemas que tanto lhe
perturbam e tiram a sua alegria. Tudo isso vai aproximando ele cada vez mais
das ruas e o distanciando do espaço de casa porque, nesse ambiente
consegue dinheiro e comida, quase sempre pedindo, já que não tinha acesso a
esses itens no meio familiar. Sem nem perceber, esse adolescente se encontra
vivendo nas ruas, mudança essa que se dá por vários fatores, uma vez que a
autora afirma que há uma vulnerabilidade que predispõe crianças e
adolescentes irem para as ruas e na maioria das vezes começam indo para os
sinais como “flanelinhas”, vendendo água, bombons e etc.
Para melhor compreensão, a autora supracitada (2010) define o que é
vulnerabilidade social: “[...] é o resultado negativo da relação entre a
disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores [...] e o acesso
à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que provêm do
Estado, do mercado e da sociedade”. (p. 38). Sendo assim, é possível entender
que a falta de acesso a recursos básicos resulta na precariedade na forma em
que vivem, ou seja, são impossibilitados de suprir por seus próprios meios às
situações de suas vidas em determinados aspectos, sejam eles econômicos,
sociais, entre outros.
Para exemplificar as situações de vulnerabilidade que esses
adolescentes sofrem, trazemos aqui alguns dados para basear o que ocorre
com eles antes de irem para as ruas. De acordo com uma pesquisa13 anual, na
cidade de Fortaleza no ano de 2010, existem alguns fatores determinantes
para que isso aconteça.
13
Disponível em http://www.criançanaoederua.org.br/pdf/Pesquisa_Anua_Fortaleza_2010.
42
Quadro 1 - Distribuição por motivo de ida para as ruas.
Motivação de ida para as
ruas
ABS %
Abuso sexual 2 1,0
Exploração sexual 25 13,1
Amigos 7 3,7
Conflitos comunitários 24 12,6
Drogas 7 3,7
Exploração do trabalho
infantil
9 4,7
Miséria 18 9,4
Vínculos familiares
fragilizados
24 12,6
Violência doméstica 7 3,7
Outros 68 35,6
Fonte: Pesquisa anual de Fortaleza 2010. “Continuação” Quadro 1.
Esses fatores contribuem com a ida de crianças e adolescentes para as
ruas de Fortaleza. Segundo Morais, et.al (2010), esse caminho para as ruas se
mostra como uma alternativa de sobrevivência ao ambiente e situações que
vivenciam diariamente. Alguns dados ganham um maior destaque nas
motivações, dentre eles, enfatizamos a miséria e os conflitos familiares. Com
isso, as ruas acabam de certa forma se tornando um espaço de fuga para
esses meninos que estão nas ruas. Não que a rua seja uma boa opção, mas
de acordo com um estudo realizado por Leite (1991, 1998, 2005), Morais
(2005) e Westphal (2001) apud Morais et.al.
O (a) menino (a) que vai para a rua, inúmeras vezes, está fugindo de dados reais da sua vida, como: condições de moradia precária, insalubridade, “casa cheia”, violência doméstica, fome, exploração pelo trabalho etc. Assim, procuram escapar dos fatores ambientais e psíquicos que lhe causam danos físicos e psicológicos, mesmo que isto não lhes seja consciente. (2010, p. 70).
A rua é o caminho que eles encontram para não encarar as dificuldades
dentro de casa, com isso ela torna-se um espaço diversificado e usado para o
43
trabalho infantil, mendicância e muitos outros. Como conseqüência disso,
ocorre o baixo rendimento escolar ou o abandono, uso de drogas, revolta,
roubos, etc. Por fim, começam a viver longe de casa, tentando de todas as
formas sobreviver como pode, além de enfrentar o medo e a violência que
existem nas ruas. A rua é vista como um local inseguro, principalmente nos
dias atuais em que a violência tem gerado pânico nas pessoas, tendo como
resultado desconfiança e preconceito por aqueles que estão nas ruas. Enfim,
ausentam-se do seu ambiente familiar em busca de sobreviver e resistir às
circunstâncias vividas.
Dirk apud Graciani (1997) apud Gomes e Pereira (2003) esclarece que:
Viver na rua significa viver em um espaço público, um espaço livre e aberto a toda população. Mas, por isso, um espaço anônimo. Ao contrário da casa, na rua as pessoas não têm nome, nem identidade pessoal, apenas funcional. A rua é para todos e para ninguém: indivíduos não têm importância, seus traços desapareceram. Eles se tornam circunstâncias abstratas e podem facilmente ser vítimas de ações gerais de violência e agressão. (2003, p. 115).
Os quem vivem nas ruas acabam tornando-se invisíveis diante da
sociedade, pois não são identificados por seus nomes, não possuem um
espaço confortável para morar, antes, passam a maior parte do seu tempo em
um lugar que pertence a todos, a rua. Os nomes que recebem são pejorativos,
carregados de marcas e estigmas. Entre eles, como já foi citado
“trombadinhas”, “mendigos”, “mirins” “vagabundos”, “sem educação”,
“flanelinhas”. São inúmeras as qualificações dadas a esses adolescentes que
estão a vagar pelas ruas de Fortaleza à procura de serem reconhecidos
simplesmente como seres humanos, adolescentes, sujeitos de direitos, assim
como outros. No próximo tópico iremos abordar as diferenças encontradas no
espaço da casa e da rua, como a sociedade caracteriza esses espaços e como
ela percebe as pessoas que nela vivem.
44
2.1.1 - Entre a casa e a rua
Da Matta (1997), faz uma síntese sobre as diferenças encontradas entre
a casa e a rua. Ele comenta que em casa somos livres para ter certas atitudes,
que na rua seria impróprio e causaria contestações como, por exemplo, “exigir
atenção para nossa presença e opinião, querer um lugar determinado e
permanente na hierarquia da família e requerer um espaço a que temos direito”
(p.19). Quando uma pessoa está em sua casa ela tem um espaço que é seu,
tem um nome, uma classificação, ou seja, é um filho, tio, sobrinho, é alguém,
realiza um papel na sociedade, na comunidade em que vive, mas nas ruas,
quem é por eles? Quem os é?
DaMatta (1997) continua discorrendo que a casa é um local de
tranquilidade, recuperação e comodidade, ou seja, é um espaço de
demonstração de amor, ternura, afeto e cuidado. O autor destaca que em casa
somos todos “supercidadãos”. Mas na rua, será que temos voz, será que
alguém nos enxerga? Qual é a nossa identidade?
Segundo DaMatta (1997, p. 19), na rua somos “[...] indivíduos anônimos
e desgarrados, somos quase sempre maltratados pelas chamadas
“autoridades” e não temos nem paz nem voz. Somos rigorosamente
“subcidadãos” [...].” Diante disso, compreendemos que a rua extrai a
subjetividade daquele que está exposto a ela, não restando nem sequer o
direito de ser respeitado como cidadão e também como ser humano.
Escorel (1999, p.11) enfatiza que “Os cidadãos são indivíduos
portadores de interesses e direitos legítimos, são sujeitos com poder de agir e
falar”. Mas infelizmente, quando se está nas ruas, esse legítimo direito
submerge juntamente com sua dignidade e seus valores, além dos seus
direitos civis que é o acesso à educação, moradia, saúde, entre outros.
Esses indivíduos sem vínculos com o mundo do trabalho e da cidadania
em que não podem usufruir dos direitos que já lhes foram concedidos, além
45
das limitações humanas de sobrevivência, não causam interesse e importância,
são inúteis, exoneráveis e desnecessários para a sociedade. (ESCOREL,
1999). A rua torna-se um lugar de sobrevivência, pois eles vivem o presente,
certos de que o futuro não está as suas vistas, pois “torna-se permanente o
processo de morrer”. (Escorel (1997) Apud Arendt (1989); p,81).
Quando tratamos de adolescentes em situação de rua, temos que eles
vivem à margem da sociedade, estão morrendo socialmente, sendo excluídos
desse sistema capitalista e individualista, onde as pessoas não se importam
com quem está caído em uma calçada, uma vez que essa cena já se
naturalizou. É normal passar pelas ruas de Fortaleza e ver inúmeros
adolescentes encontrando o mundo do crime ao invés de estarem na escola,
no vínculo familiar, na sua comunidade, mas não, estão sozinhos, perdidos e
recusados.
Essa é uma situação degradante, pois cada vez mais esses
adolescentes têm os seus direitos negligenciados e desde muito cedo eles
iniciam o processo da morte social, começando em seu ambiente familiar,
depois em sua ida para as ruas e consequentemente adentram nesse processo
tão desumano e doloroso o qual quando não há a intervenção da família, da
sociedade e do Estado infelizmente os levam a experimentar além da morte
social a morte física, mesmo sem ter vivido plenamente. Sobre a visão que a
sociedade tem da rua e das pessoas que estão nela.
DaMatta ressalta
Até hoje a sociedade parece fiel á sua visão interna do espaço de rua como algo movimentado, propício à desgraças e roubos, local onde as pessoas podem ser confundidas com indigentes e tomadas pelo que não são. Nada pior para cada um de nós do que ser tratado como “gente comum” [...], do que ser tomado como uma “mulher da vida” ou alguém que pertence ao mundo do movimento e do mais pleno anonimato. (DAMATTA, 1997, p. 54).
Necessariamente, quem está nas ruas não é sinônimo de “marginal”,
muito pelo o contrário, em sua maioria são pessoas em busca de escapar da
46
fome, pobreza, violência doméstica, entre outros, em busca de resistirem às
dificuldades que a vida lhe trouxe. Nas ruas, o anonimato prevalece, pois a
sociedade apenas visualiza sua aparência suja, maltratada e pés descalços.
Não observam para além da aparência, os seus nomes, sua história, seus
medos e seus sonhos. Então, essa visão de que a rua é favorável apenas a
acontecimentos ruins, acaba infelizmente trazendo para os indivíduos que nela
habitam essa característica de que a rua é perigosa, portanto quem nela vive,
também é.
Ainda sobre população de rua, Silva (2009, p. 120) salienta que “É muito
comum que as pessoas em situação de rua sejam responsabilizadas pela
situação em que se encontram, por suas “imperfeições” ou “falhas” de caráter.
Muitas vezes também são tratadas como uma ameaça à comunidade”.
Frequentemente vemos esse tipo de insinuação, como se a maior parte das
pessoas que se encontram nas ruas estivessem ali por vontade própria e não
por circunstâncias da vida. Além de colocar em julgamento seu modo de ser e
sua integridade.
Borin apud Silva por sua vez destaca que “os moradores de rua são
muito estigmatizados (...) eles despertam medo, nojo e descaso”. Silva
continua sua linha de pensamento dizendo que:
As práticas higienistas, direcionadas para camuflar o fenômeno, mediante massacres, extermínios ou recolhimento forçado dessas pessoas das ruas, continuam presentes nos tempos atuais, nos grandes centros urbanos do País, até mesmo conduzidas por órgão do poder público. Essas práticas são impregnadas de preconceitos e estigmatizam as pessoas a quem são dirigidas. (BORIN Apud SILVA, 2009; p. 120).
Essas ações realizadas contra a população de rua simplesmente
existem para mascarar o problema, muitas vezes parece que o país está
vivendo um retrocesso, pois ao invés de solucionar essa situação que só tem
aumentado alarmantemente, parece que essa causa não é problema de
ninguém, muito menos do governo, uma vez que as medidas tomadas são
essas imediatistas e carregadas de marcas do passado.
47
Diante do contexto compreendemos que a rua desde muitos anos é
caracterizada como um espaço negativo, um local de todos, mas que ninguém
é valorizado, já que é nesse lugar que estranhos transitam cotidianamente, isto
é, não se conhecem e nem se cumprimentam, este é o espaço da rua. E por
fim, o espaço da casa, onde mesmo que não seja um ambiente agradável ou
como se sonhava é nesse espaço que se dá início ao exercício da cidadania,
uma vez que em casa é possível ser ouvido e percebido, pelo menos deveria
ser assim. Mas sabemos que existem muitas contradições sobre os
relacionamentos familiares em casa, pois muitas das vezes, a violência física e
psicológica começa dentro do próprio lar.
No próximo ponto iremos discutir a questão do uso das drogas,
observando se existe alguma relação com a ida desses adolescentes para as
ruas e qual é a semelhança existente entre elas: a rua e as drogas.
2.1.2 – As drogas, a rua e os seus impactos.
Segundo a reportagem de D’alama (2012) no site G1, através do
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD)14, o Brasil é o segundo
maior consumidor mundial de cocaína e seus derivados. Segundo a pesquisa
mais de 6 milhões de brasileiros já usaram cocaína e dentro desse grupo 2
milhões já experimentaram o crack e outras drogas. O estudo observou
também que o uso de drogas ilícitas começa muito cedo, pois 45% das
pessoas que usaram a substância pela a primeira vez foram antes dos dezoito
anos de idade. Esse consumo precoce traz consequências prejudiciais ao
longo da vida.
Atualmente podemos perceber o quanto as drogas têm ceifado a vida de
muitas pessoas, principalmente a dos jovens, pois basta assistir a um
14
Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/09/brasil-e-o-segundo-maior-consumidor-de-cocaina-e-derivados-diz-estudo.html Acesso em 01/12/2013.
48
programa policial de televisão para observar o quanto ela têm adentrado e
destruído a vida de muitas famílias. As drogas não escolhem a situação
econômica, mas é muito provável que as pessoas que estão vivendo de
maneira precária e vulnerável tenham uma maior possibilidade de se envolver
e iniciar o uso de drogas muito cedo.
Nascimento e Soares ressaltam que:
O contato dos meninos (as) com as drogas é uma das conseqüências inevitáveis de sua situação na rua. Mesmo para aqueles que têm internalizada uma moral da ordem e da religião, o contato se faz pela proximidade com os companheiros que fazem algum uso da droga (...). (NASCIMENTO e SOARES, 1997, p. 44).
Esses contatos dos adolescentes em situação de rua com as drogas
geralmente vêm da relação que eles têm com sua própria comunidade ou até
mesmo os exemplos que são mostrados para eles dentro de suas próprias
casas através de seus familiares, sendo essa uma realidade constante nas
famílias desajustadas e que estão em situação de vulnerabilidade, pois ficam
fragilizados quanto às dificuldades da vida e acabam se entregando a vários
vícios, inclusive as drogas. Os autores citados acima enfatizam também que
mesmo que esse adolescente tenha uma moral internalizada ou tenha
princípios religiosos, ainda assim estão propícios às drogas se estiverem
vivenciando as ruas como um lugar de moradia ou até mesmo de
sobrevivência.
Essa vulnerabilidade que está presente no cotidiano desses
adolescentes facilmente os leva a fazer com que as drogas colaborem como
uma maneira de substituição de determinadas necessidades básicas, assim
como: um simples banho, um local para dormir, a alimentação e muitas outras.
Se em casa muitos deles convivem com essa realidade, e na rua? Como
será?(NASCIMENTO, 1997).
As drogas afetam e destroem não apenas quem as usa, mas de fato
toda a sua família, pois os laços entre eles tornam-se frágeis e debilitados,
49
causando, na maioria das vezes, a violência familiar, tráfico de drogas, baixo
rendimento escolar, a falta de saúde do usuário, além de dificultar diretamente
os vínculos familiares e também na sua comunidade, visto que a droga como
bem sabemos causa dependência e modifica as suas funções físicas,
psicológicas e econômicas,15 além de por vezes definir o rompimento dos
vínculos no ambiente familiar, causando com isso uma severa separação entre
pais e filhos. Essa situação tende a piorar quando esse menino (a) decide ir
para as ruas, pois é nesse ambiente que eles “afogam” suas tristezas, revoltas
e sofrimento, tendo como resultados as mais variadas formas de sobrevivência
nas ruas, entre elas, as drogas como já foi citado, e outras como roubo,
trabalho infantil e mendicância.
Segundo Nascimento (1997, p.22), “[...] a rua oferece muitas
oportunidades de aventuras e aprendizagens e a criança termina mesmo por
ingressar no mundo das drogas, do roubo, da prostituição [...]”. Através destas
oportunidades maléficas os adolescentes vivenciam situações que causam de
imediato boas impressões, pois nas ruas, por meio da mendicância, eles
conseguem se alimentar, situação que nem todo dia eles realizam em casa e
conseguem dinheiro para comprar o que quiserem, inclusive drogas.
De acordo com a reportagem de Madeira (2013) do Diário do Nordeste16,
na cidade de Fortaleza, 46% dos meninos e meninas que estão nas ruas
conseguem dinheiro por meio da mendicância e esse dinheiro geralmente é
gasto com as drogas. Inicialmente, ao chegarem à rua, esses adolescentes têm
a ilusão de que a rua é melhor que a sua própria casa, mas as boas
impressões passam rápido, pois ao longo de dias, meses e anos a rua vai
deixando marcas difíceis de cicatrizar, pois ela de certa forma apresenta-lhes
as drogas que consequentemente os fazem conhecer o caminho do crime.
De acordo com Prates
15
Disponível em: http:portal.saude.gov.br/portal/arquivos/multimedia/adolescente/drogas2.swf. Acesso dia 28/11/2013. 16
Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1252919. Acesso dia 01/12/2013.
50
Ninguém nasce com sonho de ser menor infrator, bandido, traficante, detento, e de morrer ainda jovem. O jovem quando escolhe o caminho do crime, só o faz por falta de opção, quando lhe é tirado o direito de escolher o caminho da cidadania, da oportunidade, da chance de ser feliz. É preciso romper com o estigma da delinquência juvenil e do seu envolvimento com crimes relacionados ao tráfico de drogas. O envolvimento de jovens nos crimes relacionados às drogas requer o fim da exploração do trabalho juvenil no tráfico e isto somente se conquista com a adoção das políticas preventivas. (PRATES, 2010, p.169).
Portanto, a rua e a droga tornam o caminho desses adolescentes mais
curto e turbulento. A falta de oportunidades e de acesso a um desenvolvimento
saudável ainda é uma realidade constante em nosso país, pois os direitos
básicos lhes são negados principalmente no que se refere à educação de
qualidade. É necessário investir nesses jovens por meio de políticas públicas
voltadas para ações preventivas, a fim de amenizar a situação de pobreza, da
criminalidade, das drogas e, principalmente, intervir nessa problemática tão
discutida atualmente que é a de crianças e adolescentes em situação de rua.
No entanto, pouco o governo e a sociedade fazem por elas.
No próximo tópico, entraremos na questão da institucionalização de
crianças e adolescentes no Brasil. Apresentaremos um breve contexto de como
se deu inicio a esse processo e enfatizaremos os desafios e as modificações
realizadas através do ECA.
2.2 – Os desafios e as mudanças no processo de institucionalização no
Brasil
No passado, as crianças e adolescentes quando nasciam em situação
de pobreza e miséria e em famílias que apresentavam certas dificuldades na
criação e educação dos filhos, tinham um destino certo, eram direcionadas
para instituições como meninos e meninas órfãos ou simplesmente
abandonados. Exceto, quando a família buscava ajuda do Estado (RIZZINI,
2004).
51
Rizzini (2004) continua a discussão e afirma que o Brasil tem uma
extensa tradição no que se refere à internação de crianças e jovens. Ela
salienta que essa prática era comum na questão da educação, muitos filhos de
famílias ricas e dos setores pauperizados eram ensinados e criados em
colégios internos, seminários, escola de aprendizes, etc. Esse ensino no qual
as crianças e os adolescentes ficavam internos tinha caráter educacional, mas
também apresentavam interesses de ordem social e assistencialista. No
período após a segunda metade do século XX o modelo de internação para os
filhos dos ricos estava chegando ao fim, mas para a classe pobre foi o
contrário. Os menores, como eram chamados, passaram a ser foco de
intervenção do Estado, instituições beneficentes e outras de cunho religioso.
O recolhimento de crianças e adolescentes era a ferramenta usada
pelas instituições de retraimento como um meio de proteção e assistência no
Brasil. Nessas instituições “o indivíduo é gerido no tempo e no espaço pelas
normas institucionais, sob relações de poder totalmente desiguais, é mantida
para os pobres até a atualidade” (p. 22).
Para Silva essa prática de institucionalizar filhos de pobres é uma
questão ainda a ser discuta. Ele afirma que:
As razões que explicam por que algumas famílias pobres ainda acabam por utilizar os abrigos para garantir os direitos fundamentais de seus filhos enquanto outras, apesar da privação material que enfrentam, continuam se responsabilizando pela sobrevivência de seus filhos, ainda não foram suficientemente estudadas. No entanto, aqui também vale a observação de que a pobreza ou a privação material, das quais padece grande parte das famílias brasileiras, é insuficiente para explicar as razões que levam a padrões de comportamento tão distinto entre famílias de uma mesma classe social. Novos estudos nessa área são necessários para fundamentar a questão e para evitar o equívoco de culpabilizaras famílias que deixam seus filhos em abrigos. (SILVA, 2004, p.61).
O autor chama a atenção para essa prática de institucionalizar pelo
motivo das condições financeiras das famílias, levantando a questão de que
algumas famílias, mesmo passando por dificuldades, permanecem com seus
filhos, enquanto outras preferem deixá-los em abrigos para que eles tenham
52
acesso à condições básicas e consigam pelo menos se alimentar e estudar.
Rizzine (2004, p.78) concorda com Silva (2004) quando afirma que “Crianças
não deveriam ser institucionalizadas por serem pobres, mas ainda são”.
Ainda no contexto da institucionalização de crianças e adolescentes no
Brasil, Rizzini (2004) afirma que no período de 1980 essa prática começa a ser
questionada e protestada. O termo “internato de menores” ainda era usado
para se referir as instituições de acolhimento, fosse ele temporário ou
permanente. O período foi marcado por manifestações em defesa de uma nova
forma de realizar a política de internação, pois era um período de “transição
política rumo ao processo de redemocratização do país” (p.46). Houve nesse
momento a participação dos movimentos sociais organizados, o empenho de
profissionais de diversas áreas do conhecimento e também o protesto dos
meninos e meninas internados.
Conforme Rizzini esse movimento supracitado representou:
[...] Uma década de calorosos debates e articulações em todo o país, cujos frutos se materializaram em importantes avanços, tais como a discussão do tema na constituinte e a inclusão do artigo 227, sobre os direitos da criança, na Constituição Federal de 1988. Mas o maior destaque da época foi, sem dúvida, o amplo processo de discussão e de redação da lei que viria substituir o código de menores (1927 1979): o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). (RIZZINI, 2004, pp. 46-47).
O período marcado pela década de 1990 é destacado por importantes
modificações relacionadas com a proteção da criança e do adolescente. É
formidável salientar a inserção do artigo 227 para a constituição que enfatiza
que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir o direito à saúde, à
vida, à alimentação, à educação, aos direitos básicos, assim como também à
proteção de toda e qualquer forma de discriminação, violência ou negligência
(BRASIL, 1998).
Estes avanços trouxeram mudanças significativas para eles,
transformando-os em um sujeito de direitos e logo em seguida, no ano de
1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que lançou
53
estratégias na contra mão das antigas práticas de institucionalização da criança
e do adolescente e uma política de amparo integral.
Heleno (2010) faz algumas comparações em relação às mudanças
ocorridas depois do ECA, entre elas, está a questão de que a criança e o
adolescente devem ser resguardados, segundo prevê o artigo 101 do ECA.
Esse fato antes não era aceito, os menores eram percebidos como sujeitos de
direitos apenas quando realizava alguma infração e tinham como resultado
uma punição, outro fator importante era a questão das crianças abandonadas
pelos pais, órfãs ou aquelas que eram deixadas nos abrigos até completarem
maior idade porque os pais não tinham condições de criá-las.
Hoje, essa situação é um pouco diferente, pois a institucionalização é
revisada, segundo o ECA, a cada seis meses, uma vez que a equipe
interprofissional e multidisciplinar têm a responsabilidade de enviar relatórios
para a autoridade judiciária competente para que possam realizar a
reintegração da criança e do adolescente no seio da família ou em família
substituta, e a sua permanência em acolhimento institucional não pode
ultrapassar os dois anos, exceto quando apresentar uma necessidade
devidamente comprovada para a autoridade judiciária (BRASIL, 1990).
O ECA enfatiza com veemência a importância da convivência familiar e
afirma que a institucionalização, abrigos ou famílias substitutas é o último
recurso e que em casos nos quais a família não tenha recursos suficientes para
permanecer com seus filhos o governo é responsável de incluir essa famílias
nos programas de orientação e auxílio do governo (BRASIL, 1990).
Diante disso, Helano (2010) afirma que ainda existe um extenso
caminho a trilhar, pois muitas mudanças se realizaram apenas no campo da
teoria, da lei, mas infelizmente não foram completamente efetivadas como
deveriam. Ainda existe muito a se fazer e a realidade é que muitas crianças e
adolescentes ainda encontram-se institucionalizados, longe de suas famílias e
do afeto, em um momento tão crucial da vida, a fase do desenvolvimento.
54
Roman comenta sobre as implicações da institucionalização:
A respeito dos maléficos da institucionalização, verifica-se que, mesmo que se desenvolva uma boa relação entre os acolhidos e acolhedores, nomeadamente com os responsáveis pelo o estabelecimento, a relação será sempre sem vínculos afetivos seguros e com inegável estigma da institucionalização. (ROMAN, 2010, p.102).
Segundo o autor referenciado o ato de institucionalizar não causa bons
resultados, apesar de atualmente ainda ser a saída frequente para a crescente
demanda. Os relacionamentos, em sua maioria, são superficiais, sem vínculos,
já que eles não se sentem pertencentes àquele local e às pessoas, além de
afetar diretamente em seu desenvolvimento, pois como desenvolver e crescer
em um local que não é seu, com pessoas que não fazem parte de sua família,
pessoas que você não sabe se pode confiar, uma vez que o natural do ser
humano é ser assim, desconfiado e inseguro com o desconhecido, certamente
eles, as crianças e adolescentes, agem da mesma forma.
Pilloti Apud Roman ainda sobre a institucionalização complementa:
Acarreta mais danos que benefícios para a maioria das crianças internas, devido ao predomínio das características negativas no ser humano: impossibilidade de interação com o mundo exterior e consequente limitação da convivência social; invariabilidade de ambiente físico, do grupo de parceiros e das autoridades; planejamento das atividades externas das crianças, com ênfase na rotina e na ordem; vigilância contínua; ênfase na submissão, silêncio e falta de autonomia. (PILLOTI 1995, Apud ROMAN 2010; p. 102).
Quando o autor traz essa citação a qual fala que a institucionalização
traz mais perdas do que ganho, significa que esse processo não é totalmente
negativo, já que muitas crianças e adolescentes gostam de estar no abrigo,
pois neste local elas se alimentam, estudam, têm onde dormir e existem
pessoas responsáveis por elas, enfim, não estão nas ruas sofrendo os perigos
e a violência que a rua os destina.
Entretanto, percebemos o quanto a institucionalização é negativa no
sentido geral da vida de uma criança e adolescente, pois quando ela é
abrigada, mesmo que seja provisoriamente, conseqüentemente ela é privada
55
em muitos aspectos, uma vez que será submetida a regras, subordinação e a
rotina que deverá ser mantida por todos. Existe também a questão da
convivência social, pois eles passam a viver somente com as mesmas
pessoas, com o mesmo grupo de crianças, fazendo quase sempre a mesma
atividade, causando provavelmente neles a falta de interação com o ambiente
fora dos muros da instituição.
Diante disso, percebemos o quanto o Estatuto da Criança e do
Adolescente tem permanecido apenas em meras discussões e debates. Souza
Neto concorda quando diz que o que está escrito no Estatuto são:
Palavras belas, intenções corretas, propósitos louváveis, destinados a proclamar a doutrina da proteção integral no tocante aos direitos das crianças e adolescentes; mas que, quanto se sabe, nem de perto alcançaram, ainda, aqueles objetivos. (SOUZA NETO, 2001; p. 7).
Então, os desafios estão visíveis, ainda há muito que rever, pois a
criação do ECA foi um marco histórico para que fique apenas em meras
palavras e belos discursos. É necessário sair da visão imediatista, porquanto
não é dessa forma que o problema de institucionalizar crianças e adolescentes
será amenizado, muito menos resolvido. É preciso a ação do Estado e a
mobilização da sociedade para que as famílias dessas crianças se apoderem
do direito de criar seus filhos como qualquer outra família o faz.
Rizzini (2007) salienta que, nesse exato momento, existem muitas
crianças e adolescentes espalhados pela as ruas da cidade, de um lado para o
outro, dormindo por cima de papelões, pedindo nos sinais, tentando sobreviver
de qualquer forma, indo para abrigos, albergues, em fim, o histórico de idas e
vindas de instituições não são poucos, apesar da maioria desses meninos (as),
terem famílias.
A realidade é que alguns serão encaminhados para suas casas, suas
famílias, enquanto outros, em sua maioria, se conseguirem sobreviver às ruas,
serão constantemente conduzidos para as mais diversas instituições e nesse
percurso poderão não mais voltar para o seu ambiente familiar, já que entre a
rua e as instituições muitas situações podem acontecer, pois sabemos o
56
quanto eles correm perigo tanto na rua, que são os perigos relacionados à
violência, exploração sexual, drogas, entre outros, quanto aos problemas que a
institucionalização causa no desenvolvimento da criança e do adolescente.
Portanto, apesar das mudanças ocorridas no que se refere ao direito da
criança e do adolescente, esta prática de institucionalizar ainda permanece
presente, pois as modificações que o ECA exigiu em relação aos abrigos não
foram efetivadas completamente. Rizzini (2007) afirma que essa situação
apenas aumenta, pois as condições das famílias não são resolvidas e o “ciclo
vicioso” de institucionalizar crianças e adolescentes, considerando que a
família não possui recursos, apenas continua.
Em seguida, apresentamos os caminhos da pesquisa no qual iremos
conhecer o histórico da ONG Pequeno Nazareno, discutiremos as dificuldades
até chegar à instituição, assim como também traremos os relatos e análises da
pesquisa.
57
3. DESCOBRINDO NOVOS CAMINHOS: A TRAJETÓRIA DA PESQUISA
3.1 Construção da pesquisa
“A percepção do desconhecido é a
mais fascinante das experiências. O
homem que não tem os olhos abertos
para o misterioso passará pela vida
sem ver nada”.
Albert Einsten17
Neste trabalho realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, já que
tem a finalidade de compreender e apresentar a realidade dos sujeitos
participantes a partir de suas falas e comportamentos. De acordo com Minayo
(2007, p. 21) “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares [...]
ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das
crenças, dos valores e das atitudes”. Sendo assim, é possível adentrar ao
mundo real dos sujeitos e interpretar os fatos ocorridos em suas vidas para
compreender a realidade.
Quanto ao tipo de pesquisa, nesse trabalho utilizamos a explicativa, a
qual, segundo Gil tem como princípio perceber os fatores causados por
determinados acontecimentos, ou seja, está interessada nas causas que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos, além de ser “o tipo de pesquisa
que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o
porquê das coisas” (GIL, 2011, P. 28).
Durante essa pesquisa também foi realizado um levantamento
bibliográfico com o objetivo de nos aproximarmos dos autores que tratam da
temática escolhida. Nesse sentido, Gil (2011) afirma que a pesquisa
bibliográfica é realizada a partir de materiais já expostos e compostos,
17
“Albert Einstein foi um físico teórico alemão. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Suas grandes conquistas intelectuais e originalidade fizeram a palavra “Einstein” sinônimo de gênio”. Disponível em http://pt.wikipedia.org/Albert_Einstein
58
sobretudo por livros e artigos científicos, dessa forma é possível aderir
conhecimentos e fundamentar a pesquisa através de determinados autores, a
fim de neutralizar nossa opinião e pensamento em relação ao tema. Também
fizemos uso da pesquisa documental, já que durante a pesquisa descrita no
corpo do texto, utilizamos algumas legislações, como o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal de 1988.
Para Gil (2011) a pesquisa documental se assemelha a bibliográfica
tendo como diferença “a natureza das fontes”. Além disso, o trabalho teve
também a observação simples que cooperou bastante para que pudéssemos
compreender os sujeitos da pesquisa, pois é possível analisar de maneira
natural os acontecimentos, sem que eles notem que estamos observando-os.
Para que as entrevistas fossem analisadas foi utilizada a técnica análise
de conteúdo. Sobre essa técnica, Caregnato e Mutti afirmam que:
A maioria dos autores refere-se a AC como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de uma forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Na AC o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases), que se repetem, inferindo uma expressão que as representem. (CAREGNATO, MUTTI, 2006; p. 682).
Portanto, através dessa técnica iremos analisar as falas dos sujeitos
entrevistados, identificando-as por categorias, observando-as no que se
repetem e no que diferem uma das outras e também perceber o que está por
trás das falas, fazendo assim, uma possível análise a fim de alcançar o objetivo
proposto já supracitado.
Neste trabalho também realizamos o uso da pesquisa de campo que, de
acordo com Minayo (2007), “[...] permite a aproximação do pesquisador da
realidade sobre qual a formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma
interação com os “atores” que conformam a realidade [...]”. A pesquisa de
campo promove essa aproximação com o sujeito estudado, facilitando assim a
articulação com as teorias estudadas, além de nos aprofundar ainda mais na
realidade dos pesquisados.
59
Antes de ter acesso à instituição, foi feito o pedido de um ofício para a
Faculdade Cearense, a fim de facilitar o acesso para a realização da pesquisa
no intuito de oficializar a ação. A administração do Pequeno Nazareno fica
localizada no centro da cidade de Fortaleza. Depois de uma reunião com o
coordenador responsável recebemos a autorização para que fossem feitas
visitas à instituição com a finalidade de realizar a pesquisa. Essa reunião com o
coordenador foi marcada previamente e durante ela conversamos sobre os
objetivos da pesquisa e como pretendíamos realizá-la. Deixamos acordado
que, como se tratava de adolescentes, seria necessário que o próprio
coordenador pudesse apreciar o roteiro de entrevista (ver apêndice B) antes de
iniciá-la.
Então, de acordo com o combinado, antes de ir a campo retornamos à
administração da ONG com o roteiro de entrevista, o ofício e o termo de
consentimento para que ele pudesse assinar como responsável pelos
adolescentes, só depois desse processo foi possível iniciar a pesquisa de
campo. No próximo tópico iremos finalmente nos aproximar dos sujeitos da
pesquisa e conhecer as dificuldades encontradas no caminho para chegar até
eles.
3.2 Adentrando o desconhecido
A primeira visita a ONG o Pequeno Nazareno, foi repleta de aventuras e
desafios, uma vez que a instituição situa-se na cidade de Maranguape-Ce,
sendo assim, um pouco distante para chegar até o local da pesquisa. Para ir de
Fortaleza até as instalações da ONG na região metropolitana da cidade são
necessárias três conduções. Por motivos de segurança, essa pesquisadora foi
acompanhada até o local da pesquisa. Por ser um local distante e também por
motivo de segurança, optei em levar uma pessoa para me acompanhar nessa
aventura. Vale ressaltar que a alguns anos atrás, em grupo, visitamos a ONG
também com fins acadêmicos, nessa ocasião o acesso foi por meio de veículo
60
particular. Sendo assim, não houve maiores dificuldades em chegar ao local
destinado.
Dessa vez, estávamos voltando ao mesmo local, mas não era mais em
grupo, mas nos encontrávamos numa cidade para nós desconhecida, mas
ainda assim, estávamos lá, enfrentado o medo do desconhecido. Nosso
objetivo para o trajeto era ir até o local que dá acesso ao Sítio o Pequeno
Nazareno via transporte público alternativo, já que esse transporte não tinha
itinerário que contemplasse as dependências do sitio, por isso desse ponto
continuaríamos de taxi. No entanto, nosso planejamento foi frustrado uma vez
que não haviam taxis na estrada. Sendo assim, optamos por caminhar até o
local específico.
Não sabemos informar exatamente à distância em quilômetros, mas
ficou evidente que se trata de um longo percurso, sobretudo pelo tempo de
caminhada feito até o local da pesquisa. Depois de muito andar, muito sol e
muita sede, finalmente conseguimos chegar à instituição.
Como o local é muito amplo e não sabíamos onde a Assistente Social
responsável pela visita estava, entramos em contato com a referida e ela logo
veio ao nosso encontro. A Assistente Social foi bem receptiva e antes de
realizar a pesquisa quis saber um pouco mais sobre o trabalho que estávamos
fazendo. Foi um momento agradável, objetivo, onde não apenas ela, mas a
psicóloga que estava presente esclareceram algumas informações sobre os
adolescentes e se dispôs a apoiar-nos durante as entrevistas, no sentido de
orientar e chamar os adolescentes para o local que seria realizada as
entrevistas, etc. Depois, a Assistente Social nos direcionou para a área externa
do sítio e disse que nós poderíamos ficar a vontade para conhecer o mesmo e
também para nos aproximar dos adolescentes.
Fomos à procura deles e logo avistamos um grupo onde todos estavam
em cima de uma árvore tirando manga e logo que nos viram ficaram nos
observando, uns se aproximaram, outros acenaram com a mão e sorriram.
Iniciamos um diálogo com eles, perguntamos os nomes, a idade, para que
61
pudéssemos nos aproximar um pouco mais daqueles que seriam os supostos
sujeitos da nossa pesquisa.
A pesquisadora se apresentou como estudante de Serviço Social e foi
comunicado que haveria outras visitas para a realização efetiva da pesquisa e
que alguns desses adolescentes seriam convidados a participar das
entrevistas. Esse foi um dia muito rico, pois pode-se obter uma aproximação
com os adolescentes, observando, conversando, almoçando com eles, ou seja,
foi criado um vínculo com alguns deles.
A técnica utilizada durante essa pesquisa foi a entrevista semi-
estruturada, acompanhada de um roteiro que consiste de perguntas abertas a
fim de nortear a fala dos entrevistados. Conforme Minayo (2007, p. 64) a
entrevista semi-estruturada “[...] combina perguntas fechadas e abertas, em
que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão
sem se prender à indagação formulada”. A entrevista semi-estruturada leva o
entrevistado a não se prender a pergunta que lhe foi feita, além de ter a
possibilidade de adentrar em assuntos que não estava no roteiro de entrevista.
Ainda sobre entrevistas, Goldenberg (2004) deixa uma observação dizendo
que o pesquisador precisa organizar um roteiro claro e objetivo a fim de não
perder o foco nas questões que são importantes e fazem parte dos seus
objetivos.
Sobre o registro das entrevistas Gil enfatiza que:
A gravação eletrônica é o melhor modo de preservar o conteúdo da entrevista. Mas é importante considerar que o uso do gravador só poderá ser feito com o consentimento do entrevistado. O uso disfarçado do gravador constitui infração ética injustificável. (GIL, 2011, p. 119).
As entrevistas foram todas registradas através de um gravador, mas
antes de iniciá-las foi perguntado individualmente se poderia ser gravado e
também foi explicado o termo de consentimento18. Sendo assim todos os
18
O termo de consentimento continha os objetivos da pesquisa. No corpo do texto eu me comprometia com os adolescentes pesquisados que eles não seriam identificados, os mesmo assinavam duas vias do
62
entrevistados assinaram o termo e autorizaram a gravação da entrevista sem
nenhuma resistência.
As entrevistas foram realizadas em novembro de 2013 e todas
aconteceram dentro de uma sala de aula desocupada. Como os adolescentes
estavam muito eufóricos, correndo do lado de fora da sala, não foi possível
manter o silêncio, mas em nenhum momento fui interrompida por eles, exceto
um deles que pediu licença e entrou para entregar um caju que ele havia
colhido naquele instante. Fora da sala ficava um educador social que era
responsável pelo grupo.
Os adolescentes no início apresentavam muita timidez, mas depois
ficavam mais a vontade para responder as perguntas e falar até sobre
situações de suas vidas que não lhes foram perguntadas, ao passo que outros
responderam apenas o necessário, mesmo sendo instigados a falar. Os
critérios utilizados para selecionar os participantes da pesquisa era a idade,
entre 12 a 14 anos, e o tempo de instituição, mas como o número de
adolescentes era bem reduzido, então prevaleceu apenas o critério da idade,
ressaltando que os adolescentes entrevistados estavam entre doze e treze
anos de idade, já que ao completar a idade de quartoze anos eles são
encaminhados para Fortaleza com o objetivo de inseri-los em cursos
profissionalizantes.
Foram entrevistados onze adolescentes, sendo o total de crianças e
adolescentes assistidos pela ONG de trinta e um, portanto esse número de
participantes representaria uma quantidade significativa. O tempo das
entrevistas durou entre oito e vinte e cinco minutos. É importante enfatizar que
dentre as onze entrevistas duas não foram tão exploradas quanto às outras, já
que os sujeitos entrevistados não atenderam aos objetivos da pesquisa. A
seguir iremos conhecer um pouco da história da ONG o Pequeno Nazareno,
como se iniciou, como é sua estrutura física e etc.
Termo afirmando que permitiu ser entrevistado, assim como também aceitou que elas fossem gravadas. Uma via permanecendo comigo e a outra na Instituição com os profissionais responsáveis.
63
3.3 Conhecendo a Instituição
O cenário da pesquisa foi a instituição o Pequeno Nazareno19, situada
em Maranguape-Ce, no bairro Sapupara S/N. É uma Organização não
Governamental (ONG), sem fins lucrativos e trabalha especificamente com
crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas praticamente há
dezesseis anos. Foi fundada oficialmente no dia 07 de abril de 1998. O seu
atendimento é em Fortaleza e Recife e tem militância em todo o Brasil e na
Europa.
A sua missão é acolher crianças e adolescentes em situação de moradia
nas ruas, contribuir na construção de seus projetos de vida, reatando o vínculo
familiar e comunitário, buscando a garantia dos direitos fundamentais, e a
inclusão social das famílias, visando uma sociedade justa e solidária. E sua
visão é desenvolver um trabalho de excelência na inclusão social de crianças e
adolescentes em situação de moradia nas ruas e de suas respectivas famílias.
A instituição nasceu através da indignação de um homem que morava
na Alemanha, ele se chama Bernad Josef Rosemeyer, mas atende pelo o nome
de Bernardo.20 Está há quase vinte anos na luta pela conquista dos direitos e
de uma vida melhor para as crianças e os adolescentes em situação de
moradia nas ruas. Chegou ao Brasil no ano de 1986, de família pobre,
trabalhava fazendo de tudo um pouco. Aos vinte e dois anos despertou nele um
grande interesse nas questões relacionadas com injustiças sociais, ele disse
que sentiu que seria o despertar de uma vocação. Ele conheceu uma pessoa
que estudou teologia aqui no Nordeste, ele era franciscano; então ele se
interessou e entrou na ordem dos franciscanos que se situava aqui na região
Nordeste, começou a estudar em Recife e foi justamente lá que, pela a primeira
vez, ele viu crianças morando nas ruas. Para ele isso foi um choque, pois uma
19
Disponível em: www.opequenonazareno.org.br/visao.html acesso em 12 de dezembro de 2013. 20
Disponívelem:www.opovo.com.br/app/opovo/paginasazuis/2013/10/14/noticiasjornalpaginasazuis,3145620/sobre-nao-desistir-do-outro.shtmlacesso em 20 de dezembro de 2013.
64
das primeiras cenas que presenciou foi de crianças catando lixo à procura de
comida.
Durante algum tempo ele se aproximou dessa realidade, conversava
com essas crianças, criava vínculos. Por falta de tempo deixou o curso de
teologia, mas permanecendo ainda ligado a Ordem Franciscana. Decidiu vir à
cidade de Fortaleza para estudar direto e também se valeu desse tempo para
observar a realidade das crianças e adolescentes aqui de Fortaleza. Através do
convívio com eles, mesmo nas ruas, Bernardo vivenciou a perdas de algumas
crianças e adolescentes de maneira horrenda. A mais marcante foi a de um
garoto que queria ajudar tirando das ruas, então pediu para uma pessoa que
ele conhecia para que o menino pudesse ficar na Paróquia do Otávio Bonfim
por um período, mas lá ele permaneceu pouco tempo e logo quis voltar para as
ruas, em seguida esse jovem se envolveu numa briga, com uma garrafa de
vidro quebrada, o menino foi ferido de baixo para cima, felizmente ele foi
operado e sobreviveu, mas esse episódio deixou Bernardo inconformado com
essa triste realidade de ter crianças e adolescentes morando nas ruas.
Nesse mesmo período Bernardo recebeu um telefonema de seu irmão, o
informando que tinham pessoas na Alemanha que queriam ajudá-lo,
prontamente ele falou que desejava uma casa. E foi assim que comprou uma
casa na Rua Senador Alencar, 1324, no Centro e logo depois veio o Sítio em
Maranguape-Ce como já foi supracitado.
A estrutura física do sítio21 é muito ampla, com vasta área verde, belas
paisagens arborizadas e tem capacidade para acolher 120 crianças e
adolescentes, mas atualmente22 encontra-se apenas com 31. O sítio tem sete
casas, cada uma tem o nome de uma fruta, mas apenas três estão ativas: a
casa sede (a primeira casa), a mangueira e a sapoti. Cada casa é composta
geralmente de seis ou sete quartos, em cada um deles dormem duas ou quatro
crianças. Os espaços físicos têm em sua estrutura uma escola em que
21
Disponível em htpp//www.opequenonazareno.org.br/acolhimentoinstitucional.html acesso em 23/12/2013 22
As informações atuais foram enviadas via e-mail por uma profissional da instituição e as demais estão no site ONG.
65
funcionam três séries (2º, 3º e 4º ano) quadras poliesportivas cobertas, um
campo de futebol, pista de skate, auditório, refeitório, piscina, almoxarifado,
farmácia, sala do coordenador, sala das técnicas e a casa do presidente da
instituição.
Figura 1 – Visão aérea do sítio o Pequeno Nazareno
Fonte: Site do Pequeno Nazareno
A diretoria é formada pelo presidente da instituição, tesoureiro, secretária
e o conselho fiscal composto por três pessoas. A equipe do sítio é constituída
por seis mães e pais sociais (são os educadores sociais), cada um deles é
responsável por determinado grupo de acordo com a faixa etária, dois
professores, um motorista, duas cozinheiras, o coordenador e duas técnicas
(Assistente Social e Psicóloga). A instituição também tem um programa
chamado “Projeto Gente Grande” 23 que tem parceria com o ministério de
trabalho e também possui o curso de áudio visual do projeto “Luz, Câmera e
Ação” que é patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará
(SECULT) e conta com o apoio de mais de sessenta empresas em Recife e
Fortaleza.
Os adolescentes ao completarem 14 anos são inseridos nesses
programas de profissionalização, assim como seus irmãos que tem a mesma
faixa etária também usufruem dessa oportunidade. Eles se preparam para o
23
Disponível em http>www.opequenonazareno.org.br/profissionalizacao.html
66
mercado de trabalho através de cursos como: informática, técnico em venda,
auxiliar administrativo e áudio visual, além de ter palestras sobre ética e
postura profissional.
A partir de agora será conhecido os sujeitos da pesquisa. Onde eles
moram, como são suas famílias, qual sua idade, o que pensam. Em fim, como
são suas vidas.
3.4 Quem são esses adolescentes?
Foram entrevistados onze adolescentes na idade entre 12 e 13 anos e
que estão institucionalizados na ONG o Pequeno Nazareno. Para que suas
identidades fossem mantidas em sigilo apresentamos os perfis através de
nomes fictícios. Com exceção do entrevistado Caio, que mora em Várzea
Alegre, interior do estado, os demais entrevistados residem em Fortaleza-Ce.
DAVI
Davi, 12 anos, reside no bairro Rosa Linda com sua mãe, seu pai e mais
quatro irmãos. Antes de ir para o abrigo tinha parado de estudar, atualmente
cursa a 4º ano, quando questionado sobre suas crenças religiosas, ele
responde que é a capoeira. Davi, apesar de ser um pouco tímido ao falar de
sua história é um menino muito comunicativo e brincalhão e o que ele mais
anseia na vida é ser cantor de “funk”. Demonstra pouco interesse em sua
família, mas gosta muito do seu irmão de onze anos, porém sua companhia
principal era o primo que o acompanhava para qualquer lugar.
Saiu de casa aos 10 anos por vontade própria, mas passando alguns
dias voltava a casa, depois de um tempo saía para as ruas novamente. Davi
roubava para manter o vício da maconha e cocaína, porém para se alimentar
67
pedia nos sinais. Já sofreu tentativa de abuso sexual por um homem. Ficava
preferencialmente no centro da cidade de Fortaleza.
BRUNO
Bruno, 13 anos, reside no bairro Conjunto Esperança com seus pais e
irmãos, antes de ir para o abrigo tinha parado de estudar, mas atualmente faz o
4º ano e não tem religião. Antes de ir para o Pequeno nazareno, ele já tinha
passado por mais três instituições de acolhimento. Bruno é um menino muito
tranquilo, apresenta uma boa comunicação, sonha em ser jogador de futebol.
Ao falar de sua família demonstra amor e muita saudade, apesar de ter saído
de casa por conflitos familiares.
Não lembra a idade com que saiu de casa, mas recorda que saiu porque
sua mãe sempre o mandava pedir nas ruas e seu pai lhe batia. Nas ruas ele
pedia para poder se alimentar, afirma ter roubado apenas uma vez em um
mercantil, e nunca usou drogas, mas assim que chegou às ruas para pedir
sofreu agressão física de outra pessoa que já estava mais tempo que ele
naquele local, era como se ele estivesse invadindo o espaço do outro.
Costumava ficar na Beira-Mar por ter maior fluxo de pessoas para pedir.
LUCAS
Lucas, 13 anos, reside no bairro Bom Jardim com seu pai, mãe e onze
irmãos. Antes de ir para a instituição fazia a 2ª série, atualmente faz o 4º ano,
vendia merenda com seu pai nas ruas, não tem religião. Já passou por outro
abrigo antes do Pequeno Nazareno. Lucas é um menino muito calmo e
receptivo e ao se reportar a sua família ele demonstra muita preocupação,
principalmente com seus irmãos que estão envolvidos com drogas. Seu maior
desejo é que eles deixem de ser usuários.
A sua ida para as ruas foi por conflito com o pai e também por falta de
alimentação em casa, então ia para as ruas pedir e com o dinheiro que
ganhava comprava alimentação. Começou a usar drogas com apenas sete
68
anos, depois que ficou viciado no crack, o dinheiro que conseguia era somente
para o vício. As drogas usadas por ele eram maconha, cola, solvente e aranha.
Ele também roubava para manter o vício. Nas ruas já sofreu violência física dos
guardas nos terminais porque ele estar pedindo, já fugiu algumas vezes da
instituição, quando saía logo ia ao terminal do Siqueira em busca de drogas. O
terminal era o local em que ele permanecia, pois tinha muitos conhecidos e
havia um grande fluxo de pessoas.
HIAGO
Hiago, 13 anos, reside no bairro Jardim Iracema, filho de pais separados
mora com a avó, seu irmão de dez anos e o pai, mas foi criado pela avó
paterna desde os seus dois meses de nascido. Os seus outros dois irmãos
moram com sua outra avó materna. Estudava, mas por causa das drogas
desistiu na 2º série, atualmente faz o 4º ano e também não tem religião. Antes
de vir para o Pequeno Nazareno passou por três abrigos. Durante a entrevista,
Hiago manteve a cabeça baixa, demonstrava um semblante sério e frio ao falar
de sua vida. Sua família mora em um barraco, sua avó cata latinhas para
sustentar a casa, seu pai é usuário de cocaína e geralmente o agride
fisicamente.
Saiu de casa aos dez anos em decorrência de conflitos com o pai, nas ruas
roubava, chegou a sofrer violência física por policiais, usava drogas,
principalmente cigarro, maconha e cocaína. Para manter o vício ele praticava
roubos e traficava, além de ter cometido uma tentativa de homicídio. Um dos
fatos mais marcantes em sua vida foi a morte do seu amigo, morto a tiros em
sua presença. Hiago, mesmo com seu semblante sério e frio, tem um carinho
enorme por sua avó e sempre enfatiza querer ajudá-la para que ela não
trabalhe mais nas ruas e que seu pai se interne em uma clínica de
recuperação. Pouco fala a respeito da mãe. O local que costumava ficar era na
rua Vila Velha, na Barra do Ceará, pois conhecia alguns amigos e também
tinha uma namorada.
69
LUCIANO
Luciano, 13 anos, filho de pais separados, reside no bairro Papicu com sua
mãe e seus três irmãos. Estudava, mas pouco ia à escola. Atualmente faz a 4º
ano e não tem religião. É a primeira vez que está em um abrigo. Luciano,
durante a entrevista, se mostrou muito à vontade em falar dos fatos que
aconteceram em sua vida, sempre atento ao que lhe perguntava e muito
simpático. Sua maior vontade é ajudar sua família e realizar o sonho de ser um
cientista.
Saiu de casa aos 12 anos após a separação dos seus pais, mas o maior
motivo foi as drogas. Depois da separação foi morar com o seu pai, que é
usuário de drogas e acabou se envolvendo com um primo que era traficante,
dessa forma o uso das drogas ficou mais intenso, além de começar andar
armado e praticar roubos junto com esse primo. Ele não permaneceu com seu
pai, foi para as ruas e adentrou o mundo do crime, presenciou a quase morte
de um tio a facadas, vendia drogas e ganhava R$ 200,00 por semana e assim
sobrevivia nas ruas. O local que frequentemente ficava era nas proximidades
do Barroso II por ser mais próximo da casa de seu pai.
ARIEL
Ariel, 13 anos, reside no bairro Siqueira com a mãe, pai e os irmãos.
Perguntamos quantos eram, mas ele não conseguiu definir a quantidade, pois
são muitos, no entanto acha que são oito irmãos. Seu pai é usuário de drogas
e bate em sua mãe. Antes de ir para o Pequeno Nazareno tinha parado de
estudar, mas atualmente faz o 4º ano, às vezes ia a uma igreja evangélica.
Vendia bombons nas ruas e já passou por dois abrigos.
Ele é um menino cheio de energia, gosta muito de brincar, fala bastante,
se irrita com facilidade e sente dificuldade de recordar rapidamente do que
aconteceu em sua vida, mesmo que seja um fato recente. Quando fala em sua
família ele fica emotivo, pois sente muita saudade e deseja muito um dia dar
uma casa melhor para sua mãe. Foi para as ruas porque não gostava de ficar
70
em casa, pois se sentia desconfortável, já que a casa só possuía dois cômodos
e também porque sofria agressões por parte do pai. Sofria também com
ameaças do seu irmão que o obrigava ir ás ruas conseguir lanches para ele.
Ariel usava drogas, roubava, e pedia, no entanto no que ele mais comprava
com o dinheiro era alimentação. O local que ele ficava para sobreviver era o
terminal do Siqueira por ser próximo de sua casa.
CAIO
Caio, 13 anos, filho de pais separados, reside no interior do Ceará,
Várzea Alegre, com sua mãe e mais cinco irmãos. Antes de ir para o Pequeno
Nazareno já estudava, atualmente faz a 3º ano, não tem religião e já passou
por três instituições antes da atual. Durante quase toda entrevista ele puxava
um carrinho de brinquedo no chão, de vez em quando olhava timidamente para
a pesquisadora. Quando ele estava em Várzea Alegre costuma estar nas ruas,
já que sua mãe o mandava pedir e se ele voltasse para casa sem nada, ele
apanhava, em razão disso, muitas vezes preferia permanecer nas ruas.
Durante a maior parte do tempo ficava na rodoviária da cidade.
A história de Caio é gravemente marcada pela violência física praticada
por seus pais. Saiu definitivamente de casa aos sete anos após chegar a sua
casa de mãos vazias e ser pendurado em um armador pela sua mãe. Ao relatar
esse fato ficou muito emotivo e com os olhos lacrimejando. Depois desse
ocorrido, seu pai foi buscá-lo para morar em Fortaleza, mas ele não queria ir.
Ainda assim, seu pai o obrigou deixando sua mãe chorando. O motivo para a
resistência de Caio se deu pelo fato de seu pai ser viciado em cocaína e por
costumeiramente o agredir. Quando chegou a Fortaleza, Caio começou a usar
crack, roubava mercantis e vendia a mercadoria roubada para comprar drogas.
Foi ameaçado por traficantes, por não pagar pelas drogas consumidas. O local
que passava a maior parte do tempo nas ruas de Fortaleza era na praia do
Futuro e na Beira-mar, já que nesses locais o fluxo de pessoas é intenso.
71
DANIEL
Daniel, 13 anos, filho de pais separados, reside no bairro Jangurussu,
mora com sua mãe, seus três irmãos e a namorada de um desses irmãos.
Antes já estudava, mas parou por causa das drogas, atualmente faz a 3º ano,
não tem religião e já passou por um abrigo antes do Pequeno Nazareno. Daniel
aparenta ser um menino sério e pouco comunicativo. Quando falamos em
família ele enfatiza que gosta muito dos seus dois irmãos, pois eles os ajudam
muito, mas nunca esquece o dia em que presenciou um de seus irmãos sendo
ameaçado de morte dentro de casa, por causa de drogas, foi necessário que a
família mudasse de casa. Mesmo diante dessa realidade, Daniel tem muita
esperança de um dia poder ajudar sua família e ter uma vida melhor.
Foi para as ruas com 10 anos, pois esperava ter seu próprio dinheiro
para comprar o que queria, já que sua mãe trabalhava como faxineira e não
tinha condições de comprar o que ele desejava. Daniel e seus irmãos
passavam o dia em casa sozinhos e, na maioria das vezes, não tinham o que
comer. Nas ruas trabalhava limpando carros. Já roubou duas vezes e utilizou
solvente como droga, era pedinte e já foi violentado nas ruas fisicamente por
policiais. O local que Daniel costumava estar ficava nas imediações de um
posto de gasolina no José Walter, pois era melhor de pedir, já que tinha um
grande número de restaurantes e mercantis por perto.
HENRIQUE
Henrique, 12 anos, filho de pais separados, reside no bairro Parque
Santa Maria, com sua mãe e seus três irmãos. Sua mãe é usuária de crack e
seu pai chegou a usar também, mas parou recentemente. Antes de ir para o
abrigo estudava e atualmente faz a 3º ano, não tem religião e já passou por
dois abrigos. Em casa sofria violência física por parte da sua mãe. Ela o fazia
ficar apenas com as roupas de baixo e o agredia com corda e cinturão. O
adolescente diz nunca se esquece disso.
72
Henrique é apenas um menino, mas em algumas situações ele aparenta
ter muita maturidade e ao mesmo tempo age por impulso. Em virtude disso, em
umas vezes que fora agredido por sua mãe, num momento de muita raiva
queimou o sofá de casa. Ele também ficava muito chateado quando sua mãe
usava droga dentro de casa e ainda trazia outros usuários com ela. Nessas
ocasiões ele expulsava a todos e, quando sua mãe vinha brigar, ele preferia
sair para as ruas a ficar em casa vendo aquela situação ou tendo discutindo
com ela. Saiu de casa aos oito anos por conflitos constantes com sua mãe
recebendo incentivo por parte do irmão mais velho que por vezes, sem ter o
que fazer dentro de casa nem o que comer, o chamava para pedir nas ruas.
Não usou drogas ilícitas, mas por um curto período de tem fumou cigarro. O
local que ele tinha preferência em ficar era uma praça nas proximidades de sua
casa, já que todos o conheciam.
EDUARDO
Eduardo, 13 anos, filho de pais separados, reside no bairro Conjunto
Ceará com sua avó, tio e pai. Comenta que sofreu muito com a separação de
seus pais. Começou a estudar quando chegou ao abrigo, atualmente faz a 7º
série, fora da instituição, o transporte do abrigo vai deixar e buscar. A sua
religião é católica.
Eduardo está no abrigo há seis anos, sente muitas saudades de sua
mãe e também muita tristeza por não estar vivendo com sua família. Ele diz
que não gosta do marido de sua mãe, pois ele batia nos seus irmãos. Relata
nunca ter usado drogas, nunca roubou, apenas era muito inquieto dentro de
casa, não ficava parado nenhum momento. Ele disse que por causa disso sua
mãe decidiu levar ele para o Pequeno Nazareno. Ele parecia não querer
aprofundar a sua história de vida, tudo que lhe era perguntado ele respondia
superficialmente de forma muito objetiva e quando aprofundava a pergunta
para tentar entender melhor o que me dizia, ele ficava calado, olhando sempre
para outros lugares, desatento, como se não quisesse responder mais.
73
THALES
Thales, 13 anos, filho de pais separados, reside no Bom Jardim com sua
avó e tio. Antes de ir para o abrigo fazia a 3º série, atualmente faz o sétimo ano
em uma escola fora do abrigo, o transporte vai buscar e deixar. Não tem
religião, antes de estar no atual abrigo ele já passou uma vez por outro, mas foi
pouco tempo. Thales, é muito sereno, fala pouco, demonstra muita timidez.
Quando se trata de família ela ressalta o amor que ele tem por sua avó, pois
ela o criou desde pequeno e quanto a sua mãe ele não mantém nenhum
contato com ela, pois mora no Aracati e em relação ao seu pai ele nunca o
conheceu.
Saiu de casa aos nove anos, pois não suportava mais sofrer agressões
físicas praticadas por seu tio. Ficava a maior parte do tempo no polo de lazer,
mas foi por pouco tempo, pois foi abordado por educadores sociais e o levaram
para um albergue, mas neste local ele apenas se alimentava e depois podia
sair e logo depois foi chamado para ir para o Pequeno Nazareno.
3.5 Relatos e análises
Após analisar os perfis e também as respostas dos entrevistados é
possível identificar prováveis resultados em relação aos objetivos propostos da
pesquisa, assim como o objetivo geral que é compreender as motivações que
levaram os adolescentes da ONG o Pequeno Nazareno a morar nas ruas de
Fortaleza.
3.5.1 Percepção de adolescência para os entrevistados
Em relação à categoria adolescência notam-se algumas semelhanças
nas respostas. Durante as entrevistas percebe-se que eles demonstram um
pouco de dificuldade em falar sobre essa fase, mas em geral eles respondem.
74
Para apresentar o que eles pensam sobre essa fase trazemos respostas de
alguns deles: “Fazer o que é certo, estudar, trabalhar” (LUCAS). “É começar a
estudar, se interessar nos estudo e alguma coisa pra fazer, é quando a pessoa
começa a trabalhar já também” (LUCIANO). “Respeitar os mais velho, ajudar
as família, é quando chegar à idade certa, trabalhar” (CAIO). “Ser uma pessoa
boa, estudar bem muito e trabalhar” (VÍCTOR). “Pensar no futuro, estudar,
fazer faculdade” (EDUARDO). “Quando a pessoa tá ficando [...] tá se
desenvolvendo” (BRUNO).
É dos doze pra cima né não? É trabalhar, trabalhar e brincar também, só que adolescente a pessoa vai fazer uma coisa a mais, trabalhar [...] vai ter que cuidar da casa, vai fazer isso, aquilo, fazer as compra. A minha adolescência foi boa, ruim, terrível, foi tudo isso. Porque tem as vez que eu gosto tem vez que eu num gosto, tem vez que sinto raiva tem vez que num sinto. (ARIEL).
Pra mim é... Ser adolescente é que a gente pensa que quando a gente é menor a gente pode robar, matar que num vai preso, mais um dia vai. Quando ficar maior ai fica marcado na polícia. [...] adolescente é ter uma vida melhor, brincar enquanto é pequeno porque quando é maior é só trabalhar é cuidar da família. (HIAGO).
Para a maioria deles, ser adolescente é estudar, trabalhar, ir à busca de
uma vida melhor, adquirir melhores condições financeiras. De todas as falas
citadas acima apenas uma não falou em trabalhar, mas em apenas estudar.
Portanto, a repetição dessas falas faz com entendamos que a visão deles
quanto à adolescência se fixe prioritariamente ao trabalho, em ajudar sua
família a sobreviver nas supostas condições precárias. Destaco entre eles
Bruno, Ariel e Hiago.
O Bruno traz a questão do desenvolvimento,o qual podemos relacionar
com o próprio ECA (1990) no artigo 6º que afirma que a criança e o
adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Enquanto Ariel apresenta
características típicas dessa fase: confusão de sentimentos, inquietude, não
conseguindo definir com certeza o que sente, mostra diversas definições, entre
elas a questão da responsabilidade que, na visão dele, o adolescente precisa
ter e essa visão se traduz em uma de suas falas quando diz que quando se é
adolescente “vai ter que cuidar da casa”. Já a fala de Hiago traz uma
75
concepção bem diferente de todas, além dele ter mencionado as mesmas
definições ao final de sua fala menciona o fato de ter que trabalhar. Ele nos
define adolescência ao afirmar que adolescente “pode roubar que não vai
preso”.
Percebe-se no relato de Hiago o tipo de adolescência que esse menino
está vivenciando, pois a primeira situação que lhe vem a memória é roubo e
prisão, ou seja, é a partir desses fatos que ele conceitua a adolescência.
Segundo a sua fala, de início ele não consegue representar essa fase como
uma etapa de conquistas, aprendizados, em fim, ele simplesmente marca a
adolescência a partir do momento em que já pode ser preso ou ser fichado pela
polícia.
Diante desses relatos Salum afirma que:
A adolescência é uma época de incertezas, indefinições, de busca de autoafirmação e de pertencimento, enfim, de angústias [...] Dessa forma, eles furtam, muitas vezes para pertencer a um grupo; agridem, sobretudo, para se afirmar e se defender. (SALUM, 2010; p. 61).
O autor supracitado se aproxima dos relatos dos sujeitos quando diz que
a adolescência é marcada por incertezas e indefinições, pois a fala de um dos
adolescentes traz visivelmente essa questão; logo em seguida foi destacado o
menino Hiago que relata sobre roubar na adolescência e o autor em questão
mostra que é uma forma de se afirmar, ou seja, de se sentir reconhecido diante
da sociedade que, muitas vezes, não o enxerga.
3.5.2 A trajetória de casa para a rua
Para um adolescente sair de sua casa e ir morar nas ruas, ou
simplesmente passar uns dias e depois voltar, sempre haverá um motivo, um
fato ocorrido, uma situação desconfortável na qual os levam a fazer escolhas,
na maioria das vezes, trágicas que resultam em rompimento familiar, uso de
76
drogas, etc. Para exemplificar, nada melhor do que trazermos as falas dos
entrevistados relatando o motivo que, infelizmente, os levaram para as ruas.
“Teve um dia que eu sai, fugi de casa e voltei mais não [...] tava
cansado de viver lá [...] eu ficava só saindo de casa ai eu fui e fiquei logo lá [...]
meu pai me batia”. (BRUNO). “Eu num gosto se num tem nada pra mim comer
em casa é o jeito fazer outra coisa, vou pra rua”. (Henrique).
Meu tio pediu pra mim ir comprar um negócio lá, um pão eu acho ai num voltei mais pra casa não [...] dava raiva do meu tio [...] o meu tio me batia com a chinela. O meu pai eu nunca conheci e minha mãe mora lá no Aracati. (THALES). Eu saia e voltava pra casa, já passei dois dias na rua [...] eu num gosto de ficar em casa não, eu gosto de andar, passear [...] Meu pai tava drogado e me batia [...] na rua apanhava do meu irmão e dos cara lá [...] ele queria que eu arrumasse merenda pra ele ai eu num arranjava não. (ARIEL). Foi quando minha mãe se separou do meu pai ai fui morar com ele ai os meninos começaram a me oferecer droga ai comecei ir pra rua [...] aí eu comecei no mundo do crime [...] usava droga (maconha), roubava com um oitão mermo do meu primo que era traficante ai me dava, vendia droga (ganhava R$ 200.00 por semana). Meu pai tá usando droga de novo. (LUCIANO). Minha mãe me amarrou no armador, empendurou meus braços e amarrou uma corrente com um cadeado ai eu fiquei empendurado [...] ai foi que eu comecei a sair mermo. Eu saia de casa, mas eu voltava á noite ai quando ela me amarrou, sai e num voltei mais não [...] em casa me colocava eu pra sair também pra pedir, ai eu saia pra ir pedir quando eu voltava sem nada ela me batia, por isso que eu ficava nas rua. (CAIO).
Diante desses relatos, percebemos algumas motivações mais evidentes,
as quais segundo eles interferiram na ida para as ruas. Todas as falas acima
citam a violência dentro de casa quer seja por tio, irmão ou pais. Essa violência
praticada com esses adolescentes é marcante em suas vidas, pois em algumas
vezes, durante a entrevista, quando se perguntava sobre algo que marcou em
suas vidas, eles perguntavam logo assim: “é coisa ruim é tia”? E muitos deles
respondiam que eram as surras que levavam. Outro fato visível, no qual
podemos perceber é o uso de drogas, pois nas ruas o acesso é mais fácil e o
dinheiro também. Dentre estes, existe um fator que infelizmente está presente
77
na vida de todos eles: a pobreza, a qual também os leva a saírem de suas
casas para a mendicância.
Diante dessa realidade, Nascimento fala sobre essas crianças e
adolescentes que vivem nas ruas:
Essas crianças seriam principalmente crianças trabalhadoras, responsáveis por parte do suprimento familiar. São crianças que, pela falta de condições de seus pais, premidos pela carência material e cultural (desempregados ou subempregados, semi ou completamente analfabetos), não têm condições de prover as crianças do amor, do carinho, dos cuidados básicos de higiene e saúde, de alimentação, moradia e escola de qualidade. Ao contrário têm as crianças como responsáveis pela manutenção da família, forçando-as muitas vezes a irem para a rua, em tenra idade, para criar estratégias de aquisição dos recursos necessários à sobrevivência. (NASCIMENTO, 1997, p. 20).
Caio, no qual cito acima, relata uma cena chocante de violência, pois ele
era obrigado a sair de casa todos os dias para pedir e se retornasse sem nada
ele apanhava. Ele fala que sua mãe já colocou plástico quente em suas costas.
Esse garoto após a separação dos seus pais continuou morando com sua mãe,
mas logo depois, seu pai veio buscá-lo para morar com ele mesmo sendo
contra sua vontade. O seu pai e seu irmão são usuários de drogas.
Enfatizamos esse exemplo, pois é muito semelhante aos outros, exceto a
forma como Caio era fortemente agredido em casa.
Esses exemplos apenas confirmam o que Nascimento (1997) disse em
relação à vida desses garotos, pois em sua maioria a mendicância é a forma de
sobrevivência deles. Faz-se necessário frisar que a família não é a única
culpada de tudo o que acontece, mas a situação em que vivem os leva
infelizmente a passar por tudo isso. Desse modo, as necessidades básicas
como ter uma casa, usufruir da saúde, educação, alimentação, lazer, entre
outras é um direito de todos eles, mas infelizmente não são efetivados e com a
ausência desses direitos essa situação perpassa de geração em geração. E
assim, essa expressão da questão social, adolescentes em situação de rua,
apenas aumenta.
78
3.5.3 A rotina, a rua e seu significado na visão dos adolescentes.
O universo da rua é uma categoria da qual eles falam com propriedade,
mas ao mesmo tempo é um assunto que lembra muitos fatos ruins em suas
vidas, como por exemplo: a violência, as drogas, o rompimento do vínculo
familiar e etc. Diante disso, trazemos algumas falas para exemplificar e
esclarecer melhor esse outro mundo que a rua oferece para esses pequenos
adolescentes, tão frágeis e tão fortes ao mesmo tempo.
A rua pra mim é um ambiente ruim porque só tem gente que num presta. Quando a gente dorme na rua é arriscado alguém entrar entre vida ou morte porque tem gente que mata só por matar mermo. [...] melhor tá em casa do que na rua porque em casa a gente sabe que tá seguro, na rua a gente tá entre vida e morte. A minha rotina era roubar, usar droga, fazer mal os outros [...] eu roubava, as vez a gente batia nos outros. [...] tinha medo de morrer e os outro que eu tinha roubado ir lá me buscar pra me matar, me maltratar. (HIAGO). Dar pra mim andar, da pra mim comprar minhas coisa, roupa nova, da pra fazer um monte de coisa na rua [...] dá pra mim arranjar namorada, até roubar dá. Tem o dia bom, tem o dia ruim. O dia bom é quando Deus manda e o ruim é quando vem a desgraça [...] quando a pessoa oferece droga, quando você bate na pessoa. Eu dormia, virava a noite, botava um papelão debaixo do banco e dormia. Eu pedia, merendava, usava droga [...] solvente, cola, maconha. [...] A rua num tem nada pra mim, num tem o que aprender, se eu for pra rua é só pra me morrer mermo. (ARIEL).
A rua para esses dois adolescentes, Hiago e Ariel, tem significados
fortes. DaMatta (1997, p.54) afirma que “A sociedade parece fiel à sua visão
interna de espaço da rua como algo movimentado, propício a desgraças e
roubos”. Assim também, eles que vivenciaram muitos momentos ruins nas
ruas, sabem o quanto a rua é propícia à violência, ao medo e às drogas. Esses
meninos saem de suas casas por diversos motivos e enfrentam os perigos das
ruas como gente grande. A maioria das respostas continha em suas rotinas a
mendicância, a prática de roubos e o medo da violência e da morte.
79
Durante as entrevistas foram questionados sobre o que mais tinham
medo nas ruas e as respostas foram quase unânimes em afirmar que o pior
momento era a hora de dormir, por isso eles procuravam os lugares mais
movimentados possíveis, como o terminal, restaurantes, Beira-Mar, etc. As
suas falas refletem os seus maiores medos e deixam transparecer a criança
que ainda existe em cada um deles, pois apesar de viverem como adultos
independentes, são carentes de muito amor e atenção, sobretudo de proteção
e segurança. Eles sentem falta da tranquilidade de um lar, de um lugar para
encostar a cabeça e poder dormir sossegados, sem preocupação e medo de
que alguém possa lhes tirar a vida a qualquer momento ou os violentar
fisicamente. Observando algumas falas, temos:
“Tinha medo de dormir de noite [...] dormia nos cantinho das parede [...]
no centro, lá perto da Riachuelo”. (DAVI). “De dormi em algum canto e a
pessoa for e vai faz alguma coisa comigo”. (BRUNO). “Era quando eu tava
dormindo, porque é quando tinha muita violência ai eu ficava com medo de
levar um tiro”. (LUCAS).“Da polícia, de ser pegue, ir preso (...) pelo COTAM e
pelo Raio” (LUCIANO).
Essa é a realidade de muitos adolescentes que enfrentam as noites
perigosas nas ruas da cidade de Fortaleza, eles demonstram o sentimento de
medo até mesmo em suas expressões faciais durante o momento das
entrevistas, contam esses fatos com desprazer e tristeza no olhar, já que essa
não era a vida que eles queriam, uma vida de medo, pânico, insegurança,
desconforto, sem um lugar para dormir, longe da família, longe de seus sonhos.
3.5.4 As mudanças ocorridas em relação à família após a
institucionalização
Os adolescentes entrevistados têm de onze meses a seis anos de
permanência na ONG o Pequeno Nazareno, sendo assim, é possível
acompanhar as mudanças ocorridas nesse período em que eles estão
institucionalizados e distantes da família. Para isso, trazemos relatos de alguns
80
deles com o objetivo de saber dos próprios adolescentes as mudanças que
perceberam ou não no decorrer desses meses e anos.
Ficou melhor, minha família num me dava nada, agora minha família me dar as coisa porque sabe que eu estou bom, bem, estudando, sabendo ler, ai elas traz as coisa pra mim. Quando eu era da rua elas num me dava nada minha família, principalmente minha mãe, minha mãe veio aqui ela trouxe um bocado de coisa pra mim. (HIAGO). É bom, traz coisa pra mim, shampoo, um bocado de coisa, traz alimento também as vez pra me merendar [...] trata bem porque tão sabendo que quero alguma coisa na vida ai tá me ajudando também. Quando tava na rua num me ajudava não porque tava sabendo que eu num queria prestar, me ajudar pra quê se eu num queria prestar? (LUCIANO).
Esses dois adolescentes (Hiago e Luciano) citados acima, quando
perguntamos sobre as mudanças que aconteceram, rapidamente se referem à
forma como a família começou a tratá-los e gratificá-los mesmo que fossem
com presentes simples como um shampoo, por exemplo. Mas a fala deles traz
algo a mais, pois através de uma simples lembrança dada a eles, podemos
perceber que se sentem amados e lembrados e, o principal, eles percebem o
amor e o apoio que a família está oferecendo.
Já Ariel, relata que uma das mudanças ocorridas foi que a ONG o
Pequeno Nazareno começou a ajudar sua família em muitos aspectos, e isso o
deixou muito feliz, mas explica que ficaria bem mais contente se pudesse
vivenciar essas mudanças junto com sua família e não apenas ouvir dos outros
as melhorias. Isso significa o quanto esse garoto anseia estar com sua família
e se alegrar com ela, durante a entrevista ele fala que, mesmo com as
dificuldades, ele preferia estar com sua família. Esse relato abaixo retrata
visivelmente o desejo que ele tem em viver ao lado das pessoas que ele ama.
“Melhorou um pouco, melhorou que eu sinto saudade da minha família e
também eles tão ajudando a minha casa também [...] fico alegre, mas eu fico
mais alegre quando eu vejo com meus próprios olhos”. (ARIEL).
81
Morais et.al. afirma que:
Embora o afastamento não seja uma medida imposta pelos órgãos responsáveis pela proteção da infância e juventude, mas escolha que visa o rompimento com a pobreza, a violência e a vulnerabilidade social, existe o desejo de retorno para o convívio familiar. (MORAES, et al 2010, p. 194).
Ariel é apenas um dentre outros que deseja retornar ao convívio familiar.
Infelizmente a pobreza é um dos maiores fatores que causa esse afastamento,
pois a família prefere que eles estejam na ONG, onde estão se alimentando
todos os dias do que em casa passando fome. Claro que existem outros
motivos, mas a miséria é visivelmente percebida nos relatos dos adolescentes.
Trazemos também mais um relato que chamou bastante atenção sobre a
questão da institucionalização, o relato de Davi. Ele está na ONG há quase
dois anos e quando perguntado sobre sua família ele dá uma resposta curta e
diferente de todos os outros entrevistados. “Tenho saudade não dela não eu já
tô com minha família aqui já [...] Aqui é meu lugar [...]”. (DAVI).
Esse adolescente aparentemente não se interessa mais pela
convivência familiar, para ele tanto faz ter visita ou não. Na entrevista ele relata
que são muito os dias de visita, uma vez na semana, ou seja, o vínculo familiar
literalmente foi rompido pelas circunstâncias de sua vida, fazendo uma
substituição de sua casa pela ONG e de sua família pelas pessoas que
trabalham no Pequeno Nazareno. Por sua vez, Luciano faz uma comparação
que o autor a seguir comenta, ele fala o seguinte: “Eles trata a gente bem, é
como se fosse pai e mãe, cuida da gente”.
Morais et.al afirma esse acontecimento dentro das instituições:
No cotidiano das instituições é fácil ver essas demonstrações recíprocas de carinho e afeto entre eles. Alguns educadores são, ao mesmo tempo, aqueles que acolhem com carinho, mas também aqueles que repreendem quando necessário. Papel muito semelhante ao que é esperado de uma relação pai/mãe/filho, mas da qual eles estão distantes. Certamente, ao reconhecerem alguns educadores como sendo da sua família, esses adolescentes estão dizendo que reconhecem e apreciam o trabalho que os primeiros desenvolvem,
82
assim como dizendo que há entre eles uma relação positiva de afeto, ou seja, um vínculo positivo estabelecido. (MORAES et al, 2010, p. 186).
A realidade é que a maioria deles deseja retornar ao vínculo familiar,
pois sabemos que essa temporária substituição faz parte do processo de
institucionalização, pois nesse período, os adolescente estão distantes de suas
famílias e se sentindo muito fragilizados, mas é preciso ficar atento para que
essa falta da família não se naturalize ao ponto de o adolescente não sentir
mais a ausência de sua família e pensar que vai morar a vida toda na
instituição, pois chegará o dia que precisará seguir seu rumo, voltar a sua
família.
3.5.5 E O QUE ELES ESPERAM DO FUTURO?
Falar de futuro com esses adolescentes é um presente, pois diante de
tanta miséria e desgraça que eles vivenciam, ainda conseguem sonhar; alguns
deles tem sonhos bem desafiadores ao passo que existem aqueles que não
desejam nada, pois já estão tão decepcionados com suas vidas que preferem
não criar expectativas e se frustrarem no futuro. Então, vamos conhecer alguns
desejos desses jovens:
Davi relatou que seu sonho é ser “fankeiro” e quando sair da ONG o seu
desejo é “Só cantar funk”. Para Bruno o seu sonho é ser jogador de futebol,
mas ele vai muito além de se realizar profissionalmente ele diz assim: ”Eu
pretendo trabalhar, ai comprar minhas coisa, ajudar minha família e fazer uma
família”. Henrique relata seu sonho e diz com muita convicção: “Quero ser
polícia pra prender os traficantes, trabalhar e comprar uma casa”.
Para Lucas um dos seus maiores sonhos é esse: “Que os meus irmãos
tudinho saísse das drogas”. Como já foi citado em seu perfil, esse adolescente
tem onze irmãos e segundo ele, infelizmente, todos estão envolvidos com
drogas. Ele também deseja estudar e se realizar profissionalmente, pretende:
83
“Fazer curso, estudar, se eu for estudar, estudar e ir pra faculdade queria ser
administrador”. Para Eduardo e Thales ao perguntar sobre sonhos eles
disseram não ter nenhum, mas ao instigá-los a responder eles falaram
respostas praticamente iguais que é “trabalhar e ajudar minha família” Os
relatos acima são semelhantes, mas em cada um percebemos a singularidade
deles.
Vejamos mais alguns relatos:
Queria sair daqui ficar em casa com minha família, não ir mais usar droga, se eu pudesse trabalhar eu trabalhava pra ajudar minha família [...] fazer minha família ter uma vida melhor, minha vó não sair mais pelas ruas pra ir catar latinha e ajudar ela. Meu pai, eu quero que ele vá pra uma clínica deixar as droga, fique em outa vida melhor, que ele pare. (HIAGO). Queria que eu e minha família mudássemos de vida [...] ter uma casa melhor [...] a minha casa é um pouquinho feia, tem a sala e só tem a cozinha ai pronto. Quero uma casa com sete quarto dos meus irmãos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, um quintal, só, uma piscina, uma ruma de brinquedo. Meu futuro é ajudar minha família, tirar a minha família dessa vida réa (sic) ruim. Pra ela num ficar numa casa feia assim, toda feia mermo [...] ajudar meu irmão a sair das drogas. (ARIEL).
Podemos afirmar que os sonhos, em sua maioria, estão voltados em
ajudar suas famílias: comprar uma casa, ajudar algum familiar a sair das
drogas, também se pode perceber o desejo que eles têm em continuar
estudando e se realizar dentro de uma profissão. Luciano não foi citado acima,
mas o seu sonho é ser um cientista, ou seja, ele não enxerga barreiras em sua
frente, ele sonha, planeja e disse que vai lutar para isso.
Neto comenta sobre os sonhos e dar base para as falas dos sujeitos
pesquisados:
O sujeito é também aquele que consegue sonhar e ter um olhar antitrágico, que se apropria de sua história como motivação para um projeto de vida e luta para transformar sua realidade de morte em vida. Cada sujeito inventa e cria sua história. Quem não consegue sonhar e esperar, mesmo com ajuda de outras pessoas, talvez não supere suas tragédias. (NETO, 2001; p. 172).
84
Portanto, o autor enfatiza a importância de sonhar, pois a vida desses
garotos é marcada por episódios violentos e tristes, vivem em uma realidade
massacrante de exclusão, sem infância. Andam por aí nas ruas de Fortaleza à
procura de sobreviver mais um dia. Mesmo vivendo assim, no profundo de
suas almas ainda existem sonhos que fazem com que eles tenham esperança
de um dia viver em melhores condições para que possam realizá-los e viver em
família.
85
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou compreender o que leva um adolescente a
deixar sua casa e ir morar nas ruas, pois desde o primeiro contato com esses
sujeitos sobrevieram-nos os primeiros questionamentos à mente, no qual nos
fez querer saber mais sobre a realidade deles: como era sua adolescência, sua
família, o que eles faziam nas ruas, o que ela significava para eles e o que eles
pensavam para o futuro, tudo isso em busca de responder a essas
inquietações.
No decorrer da realização desse trabalho foi necessária uma maior
aproximação com autores que tratam dessa temática, além de sempre
estarmos atualizados com notícias nos jornais, revistas, televisão, internet,
sempre acompanhando os poucos dados estatísticos e noticiários divulgados
pela mídia. Para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado, inicialmente
traçamos o perfil dos adolescentes pesquisados com o intuito de apresentá-los
ao leitor. Em seguida trouxemos uma abordagem sobre a adolescência a fim de
saber como eles estavam vivenciando essa fase. Dos onze entrevistados,
apenas um não falou na questão do trabalho, todos os outros ao responder o
que era ser adolescente incluía essa palavra em sua resposta. Sendo assim,
podemos perceber que a maioria deles enxerga a adolescência da forma como
eles vivenciam essa fase, ou seja, esse momento no qual deveriam estar na
escola, estão nas ruas tentando sobreviver, trabalhando, mendigando e até
roubando.
Outro fator primordial foi saber o porquê deles deixaram suas famílias e
irem para as ruas. Quando eles respondiam, percebia-se em suas falas e olhar
marcas de sofrimento, dor, fome e violência. A suas histórias são marcadas por
perdas, rompimentos de vínculos e pobreza. A maioria dos entrevistados relata
que saiu de casa após o ato de violência física, esse foi um dos pontos mais
marcantes em seus relatos, outro motivo bem evidente foi a falta de condições
dos pais, pois muitos deles afirmam que nem todos os dias que tinham o que
86
comer em casa, precisavam “se virar nas ruas” para conseguir dinheiro e
ajudar a família.
Durante a entrevista, percebemos que muitos deles queriam descrever
como eram suas casas, mesmo quando essa pergunta não fazia parte do
roteiro de entrevista. Eles faziam questão de falar sobre elas: “feias”, “só tem a
sala e a cozinha”, “é um barraco que não tem muito valor”. A pobreza é
perceptível, a vida que eles têm é muito sofrida, literalmente sobrevivem e
tentam todos os dias resistir às dificuldades postas a eles. Alguns dizem que foi
por causa das drogas; oito dos entrevistados usavam drogas, dentre esses,
dois eram traficantes. No entanto, pudemos perceber que a droga era apenas a
consequência de estar nas ruas e não o motivo de sair de casa. Em alguns
casos o motivo principal foi a separação dos pais; de onze adolescentes
entrevistados sete são filhos de pais separados e um afirmou presenciar
violência física contra sua mãe praticada pelo pai.
Em relação ao que eles fazem nas ruas e o que ela significa para eles,
podemos afirmar que a maioria respondeu ter medo de estar nas ruas,
principalmente na hora de dormir. O que mais faziam nas ruas era pedir, usar
drogas e roubar, essa era a rotina da maioria, mas hoje eles acham que a rua
não significa nada para eles, é um lugar que não tem nada a oferecer.
Em relação à família, todos eles têm contato com elas, através dos pais
ou de algum parente. Todos relatam mudanças significativas ocorridas nos
relacionamentos familiares após a institucionalização. Apesar de esses garotos
gostarem de estar na ONG, demonstram o desejo de retornar ao convívio
familiar, falam que sentem muitas saudades e acham que os dias reservados
para as visitas são muito poucos, ainda assim um dos adolescentes afirmou
que sua família é as pessoas da instituição, sendo ali o seu lugar e que visita
para ele não faz diferença. O que percebemos é que a família continua sendo o
alicerce de uma pessoa, pois esses meninos tão sofridos, muitos deles,
violentados dentro de sua própria casa, outros, sendo obrigados a pedir nas
ruas, contudo ainda demonstram o desejo de voltar ás suas famílias. O que faz
um adolescente mesmo sofrendo violência doméstica querer voltar ao convívio
87
familiar? É interessante perceber esse desejo quase que unânime, pois apesar
desse quadro degradante de violência, eles preferem estar juntos a sua família.
Por fim, enfatizamos os sonhos desses adolescentes e notamos que o
que eles mais querem é ajudar suas famílias a melhorar de vida, a ter uma
casa melhor, ver seus familiares longe das drogas, se realizarem
profissionalmente e formar uma família feliz. Aparentemente são sonhos que
geralmente as pessoas conseguem realizar, mas para eles, esses desejos se
tornam desafios frente às circunstâncias vividas, pois não é fácil encarar desde
tão jovem tantos obstáculos, os quais eles ainda não estão preparados para
enfrentar com a maturidade e responsabilidade devida, uma vez que são
apenas adolescentes.
Deste modo, diante de tudo que foi discutido, o que fazer frente a essa
problemática tão complexa? Na realidade é quase impossível tirar todos os
adolescentes das ruas, pois todos os dias mais um sai de sua casa e adentra
ao mundo da rua, e este sai por diversos fatores, entre eles: a violência
doméstica, a pobreza extrema, as drogas, separação dos pais, ou seja,
situações que os levam gradualmente para as ruas e os fazem conhecer e
experimentar o mundo do crime, das drogas, da mendicância, entre outros.
Diante das motivações relatadas pelos entrevistados da pesquisa
percebemos que a desigualdade social é um fator relevante nessa questão,
pois a pobreza é visível e desde o nascimento os seus direitos lhe são negados
na própria família por viverem precariamente, pela a sociedade por excluí-los e
a negligência do Estado diante de uma expressão da questão social tão
discutida, mas pouco resolvida.
Portanto, após essas considerações, ressaltamos que esta pesquisa não
finaliza neste trabalho monográfico, esse assunto é muito amplo, podendo ser
apenas o início de muitas pesquisas que virão e esta também poderá subsidiar
futuras pesquisas relacionadas com a mesma temática, a fim de contribuir
através das informações alcançadas.
88
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÁRIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2º Edição. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. BECKER, D. O que é adolescência?. São Paulo: Brasiliense, 1997. 97 p. ISBN 85-11-01159- 5. BECKER, Maria Josefina. “A ruptura dos vínculos: quando a tragédia acontece”. In: Família Brasileira: a base de tudo. 10. ed. São Paulo: Cortez. Brasília: UNICEF, 2011. BRASIL. Lei nº 8099, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Senado Federal, 1990. BURSZTYN, Marcel (organizador). No meio da rua: Nômades, excluídos e viradores. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. CALLIGARIS, Contardo. A adolescência – São Paulo :Publifolha, 2000. CÂMARA, M.F.B.; MORAES, M.M.; MEDEIROS, M.; FERRIANI, M.G.C. – Aspectos da assistência prestada a criança e adolescentes em situação de rua no Município de Goiânia. Revista Eletrônica de enfermagem (online), Goiânia, v.3, n.1, jul-dez.2000.Disponível:http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/694/774. CANELAS, Pesquisa mostra que esmola financia o uso de drogas das crianças de rua. G1, reportagem do fantástico [online], Fortaleza, Ceará, 06 de outubro.2013. Disponível em: g1.globo.com/fantástico/noticia2013/10/pesquisa-mostra-que-esmola-financia-o-uso-de-drogas-das-crianças-de-rua.html. acesso em 24/10/2013.
CAREGNATO, RCA, Multi R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de conteúdo. Rio Grande do Sul, 2006. CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. “A priorização da família na agenda da política socal” In: Família Brasileira: a base de tudo. 10. ed. São Paulo: Cortez. Brasília: UNICEF, 2011.
89
D’ALAMA, Luna. Brasil é o 2º consumidor mundial de cocaína e derivados, diz estudos. G1, Ciência e Saúde [online], Fortaleza, Ceará, 05 setembro. 2012. Disponível em http:// g1.globo.com/ciência-e-saude/noticia/2012/09/brasil-e-o-segundo-maior-consumidor. Acesso dia 01/12/2013. DAMATTA, Roberto,1936. A casa & a rua. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Rocco, 1997. EQUIPE INTERINSTITUCIONAL DE ABORDAGEM DE RUA. Núcleo de articulação de educadores sociais. Pesquisa anual sobre vivência de crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas de Fortaleza, 2010. Disponível em http://www.criançanaoederua.org.br/pdf/Pesquisa_Anua_Fortaleza_2010.pdf acesso em 16/11/2013. ESCOREL, Sarah. Vidas ao léu: Trajetória de exclusão social. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. FIER, Jose. A palavra “adolescer” vem do latim e significa crescer. Sem local,2007.Disponível em http://www.paralerepensar.com.br/josefier_apalavraadolescer.htm. Acesso dia 16/05/13. FROTA, Ana Maria Monte Coelho. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. Estudos e pesquisas em psicologia, UERJ, RJ, v. 7, n. 1, p. 147- 160, abr. 2007. Disponível em http://www.revispsi.uerj.br/v7n1/artigos/pdf/v7n1a13.pdf . acesso dia 07/10/2013. GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social/ Antônio Carlos Gil.- 6.ed. – 4. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2011. GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 2004. GOMES, Mônica Araújo e PEREIRA, Maria Lúcia Duarte. Revista mal-estar e subjetividade/ [online]. Fortaleza. 2003 O adolescente e a rua: encantos e desencantos. Vol.3, n.1, pp.106- 120. ISSN 1518- 6148. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/malestar/v3n1/06.pdf acesso em 20/11/2013. HELENO, Camila Teixeira. Criança e adolescente como sujeitos de direitos: uma introdução. In: HELENO, Camila Teixeira; RIBEIRO, Simone Monteiro (Orgs.). Criança e adolescente: sujeito de direitos. Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 2010. KALOUSTIAN, Sílvio Manoug. “O papel da família”. In: Família Brasileira: a base de tudo. 10. ed. São Paulo: Cortez. Brasília: UNICEF, 2011. LAVOR, Thaís. Crianças e adolescentes têm direitos violados.Jornal Diário do Nordeste [ online ], Fortaleza dia 12 de outubro de 2011. Disponível em:
90
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1008059 acesso em 12/10/11. MADEIRA, Vanessa. Drogas motivam Jovens a permanecer nas ruas. Diário do Nordeste [online], Fortaleza, Ceará, 11 abril. 2013. Disponível em:http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1252919. Acesso dia 01/12/2013. MINAYO, Cecília de Sousa (organizadora). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. MORAIS, Normanda Araújo; PALUDO, Simone; KOLLER, Sílvia. (Organizadores). Endereço desconhecido: crianças e adolescentes em situação de rua. Ed. São Paulo: Casa do psicólogo, 2010. NASCIMENTO, Severina Ilza (organizadora). E se fossem nossos filhos?;crianças e adolescentes em situação de rua. João Pessoa: idéia, 1997. NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários. In: BURSZTYN, Marcel (organizador). No meio da rua: Nômades, excluídos e viradores. Rio de Janeiro: Garamond, 2000. NASCIMENTO E SOARES. Violência como negação dos direitos da criança e do adolescente: a rua como espaço de resistência. In: NASCIMENTO, Severina Ilza(organizadora) e se fossem nossos filhos?;crianças e adolescentes em situação de rua. João Pessoa: idéia, 1997. OSÓRIO, Luiz Carlos. Família hoje. Porto Alegre. Artes Médicas, 1996. OLIVEIRA, Carmen Silveira de. Sobrevivendo no Inferno. Porto Alegre: Sulina, 2001. PIMENTEL, Marília Rodrigues. A relação entre o uso de drogas e atos infracionais sob a ótica dos adolescentes em conflito com a lei do Centro Educacional São Miguel / Universidade Estadual do Ceará – UECE. – Fortaleza, 2010. PINHEIRO, Ângela. Criança e adolescente no Brasil:porque o abismo entre a lei e a realidade/ Ângela Pinheiro-Fortaleza: editora UFC, 2006. PRATES, Cláudio Ribeiro. As drogas e a lei. In: SOUZA NETO, João Clemente de. Crianças e adolescentes abandonados: estratégia de sobrevivência – São Paulo: Arte impressa, 2001. RIZZINI, Irene (coordenação). Vida nas ruas: Crianças e adolescentes nas ruas: Trajetórias inevitáveis – Rio de Janeiro: Ed. PUC- Rio; São Paulo: Loyola, 2003.
91
RIZZINI, Irene, RIZZINI, Irmã. A institucionalização de crianças no Brasil: Percurso histórico e desafios do presente/ Rio de Janeiro: Ed. PUC- Rio; São Paulo: Loyola, 2004. RIZZINI, Irene, RIZZINI, irmã; NAIF, Luciene; BAPTISTA, Rachel (coordenação) Acolhendo crianças e adolescentes: experiências de promoção do direito a convivência familiar e comunitária no Brasil. – 2. Ed. – São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF; CIESPI; Rio de Janeiro, RJ: PUC- RIO, 2007. ROMAN, Renata. A recuperação da família biológica e o encaminhamento para adoção de crianças e adolescentes em risco. In: Camila Teixeira; RIBEIRO, Simone Monteiro (Orgs.). Criança e adolescente: sujeito de direitos. Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 2010. SALUM, Maria José Gontijo. O sujeito de direitos, o ECA e o sujeito adolescente. In: HELENO, Camila Teixeira; RIBEIRO, Simone Monteiro (Orgs.). Criança e adolescente: sujeito de direitos. Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 2010. SILVA, Enid Rocha Andrade da. O perfil da criança e do adolescente nos abrigos pesquisados. In: O direito á convivência familiar e comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília, Dezembro de 2004. Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit2.pdf acesso em 13/11/2013. SILVA, Maria Lúcia Lopes da.Trabalho e população em situações de rua no Brasil – São Paulo: Cortez, 2009. SOUZA NETO, João Clemente de. Crianças e adolescentes abandonados: estratégia de sobrevivência – São Paulo: Arte impressa, 2001. VENERUSO, Stefano. Ciro. In: Crianças invisíveis, Mehdicharef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, Jonh Woo. Itália, 116 min. Drama, 2005. ZAGURY, Tânia O adolescente por ele mesmo. 16ª ed. – Rio de Janeiro: Record, 2009.
93
APÊNDICE A
IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO ADOLESCENTE
Nome:
Idade:
Bairro que morava:
Residia com quem?
Estuda? Se sim, em que série?
Já passou por outros abrigos? Se sim, Quantas vezes?
Já cometeu algum ato infracional? Se sim, Qual?
Você trabalhava? Fazendo o que?
Tem alguma religião?
Já sofreu algum tipo de violência? Qual?
94
APÊNDICE B
ROTEIRO DE ENTREVISTASEMI - ESTRUTURADA
SOBRE ADOLESCÊNCIA
O que é ser adolescente pra você?
Qual a lembrança que você tem que marcou a sua infância ou adolescência?
Se você tivesse a oportunidade de realizar um sonho, qual seria?
Quando se lembra de sua família, qual o sentimento que vem em você? Por
quê?
Quem é a pessoa que você mais ama? Por quê?
Como é seu relacionamento familiar?
SOBRE RUA
Com quantos anos você saiu de casa? Você recorda como foi esse dia?
O que te motivou a sair de casa?
O que significa a rua para você?
Quando estava nas ruas como era sua rotina?
Quando estava nas ruas usava algum tipo de drogas? Qual?
O que fazia para conseguir o dinheiro para manter o uso da droga? (caso use)
Onde você passava a maior parte do tempo? Por quê?
Do que mais tinha medo nas ruas?
O que fazia para sobreviver nas ruas?
SOBRE INSTITUIÇÃO
Por qual motivo você aceitou sair das ruas?
O que você acha do ambiente institucional?
Como é seu relacionamento com os profissionais dessa instituição?
Como é tratada a sua relação com a família após a sua entrada na instituição?
Quais suas perspectivas para o futuro quando sair da instituição?
95
APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado para participar desta pesquisa que tem como
finalidade compreender as motivações que levaram os adolescentes institucionalizados
na ONG o Pequeno Nazareno a morar nas ruas de Fortaleza. Esta pesquisa está sob
execução das pesquisadoras Valney Rocha Maciel (responsável) e Claudiana Lima de
Sousa (participante). Tal pesquisa é requisito para a conclusão do curso de
Bacharelado em Serviço Social pela Faculdade Cearense.
Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista que será
realizada no âmbito do Pequeno Nazareno, com duração aproximada de 30 minutos, no
dia previamente marcado, de acordo com a sua disponibilidade. Os depoimentos desta
entrevista serão gravados com seu consentimento.
Não há riscos decorrentes da sua participação e você possui a liberdade de
retirar sua permissão a qualquer momento, seja antes ou depois da coleta dos dados,
independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa e nem ao sua estadia na
Instituição. Se aceitar participar, estará contribuindo para a compreensão do fenômeno
estudado e para a produção de conhecimento científico.
Ressaltamos que tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais
da pesquisa. Esclarecemos que, ao concluir a pesquisa, será comunicado dos
resultados finais. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se
existir qualquer despesa adicional, ela será paga pelo orçamento da pesquisa. Os
pesquisadores assumem o compromisso de utilizar os dados somente para esta
pesquisa. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua
identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Em qualquer etapa do estudo, poderá contatar os pesquisadores para o esclarecimento
de dúvidas ou para retirar o consentimento de utilização dos dados coletados com a
entrevista: Valney Rocha Maciel e Claudiana Lima de Sousa, pelo fone: (85)
8665/7206.
96
Consentimento Pós–Informação
Eu,___________________________________________________________, fui
informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto,
sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é
emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando
uma via com cada um de nós.
________________________________________ Data:__/__/__
Assinatura do Participante
__________________________________________
Assinatura do Pesquisador
__________________________________________
ProfªValney Rocha Maciel
Orientadora/ Faculdade Cearense
_________________________________________________
Assinatura do Coordenador responsável (Pequeno Nazareno)