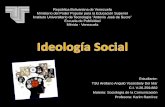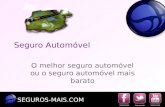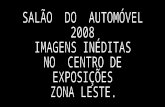André Gorz - A Ideologia Social do Automóvel
-
Upload
emannuel-costa -
Category
Documents
-
view
108 -
download
0
Transcript of André Gorz - A Ideologia Social do Automóvel

3
A ideologia social do carro
O maior problema dos carros é o de serem como os castelos ou as casas de veraneio na Riviera Francesa: são bens de luxo inventados para o prazer exclusivo de uma minoria de muito ricos; e nada, em sua concepção ou em sua natureza, se destinava ao povo. Diferentemente do aspirador, dos aparelhos de rádio ou da bicicleta, que mantêm seu valor de uso quando todo mundo os utiliza, o carro, assim como uma casa na Riviera, só interes-sa e tem vantagens na medida em que a massa não pode utilizá-los. É que, por sua concepção e por sua destinação original, o carro é um bem de luxo. E o luxo essencialmente não se democratiza: se todo mundo acede ao luxo, ninguém pode dele tirar vantagens; ao contrário, todo mundo usa, frustra e desapropria os outros e é frustrado e desapropriado por eles.
A coisa é comumente admitida quando se trata dessas belas casas na Riviera. Até agora, nenhum demagogo ousou argumentar que democratizar o direito às férias era aplicar o princípio: uma casa em praia particular para cada família francesa. Todos compreendem que, se cada uma das tre-ze ou quatorze milhões de famílias devesse dispor de um pedaço de litoral, de não mais do que dez metros, seriam necessários 140.000 quilômetros de praia para que todos pudessem se servir! Atribuir a cada um sua porção seria recortar as praias em tiras tão pequenas – ou apertar essas casas tão perto umas das outras – que seu valor de uso se tornaria nulo, desaparecen-do sua vantagem em relação a um complexo hoteleiro. Em poucas palavras, a democratização do acesso às praias não admite senão uma única solução: a coletivista. E essa solução passa obrigatoriamente pela guerra a esse luxo que constituem as praias particulares, privilégio que uma pequena minoria se concede às expensas de todos.
Ora, por que razão o que é perfeitamente evidente para as praias não é comumente admitido para os transportes? Um carro, assim como uma casa na praia, não ocupa um espaço raro? Ele não rouba as ruas dos outros usuários (pedestres, ciclistas, usuários de trens urbanos ou de ônibus)? Ele

40 Ecológica
não perde o valor de uso quando todo mundo põe seus carros nas ruas? E, no entanto, sobram demagogos que afirmam que cada família tem direito a pelo menos um carro, e que cabe ao “Estado” dar um jeito para que cada um possa estacionar à vontade, andar à vontade na cidade, e, ao mesmo tempo que os outros, partir a 150 quilômetros por hora nas estradas durante o fim de semana ou nas férias.
A monstruosidade dessa demagogia salta aos olhos e, contudo, a es-querda não se envergonha de recorrer a ela. Por que o carro é tratado como vaca sagrada? Por que, diferentemente de outros bens “privativos”, ele não é reconhecido como um luxo antissocial? A resposta deve ser procurada nos dois aspectos seguintes do sistema automobilístico:
1. O sistema automobilístico de massa materializa um triunfo abso-luto da ideologia burguesa no nível da prática cotidiana: ele funda e man-tém em cada um a crença ilusória de que cada indivíduo pode prevalecer e ter vantagens às custas de todos. O egoísmo agressivo e cruel do motorista que, a cada minuto, assassina simbolicamente “os outros”, identificados por ele apenas como incômodos materiais e obstáculos à velocidade; esse egoísmo agressivo e competitivo é o advento, graças ao sistema automo-bilístico cotidiano, de um comportamento universalmente burguês (“nun-ca se fará socialismo com essa gente”, dizia-me um amigo da Alemanha oriental, perturbado pelo espetáculo do trânsito parisiense).
2. O automóvel oferece o exemplo contraditório de um objeto de luxo que foi desvalorizado pela sua própria difusão. Mas essa desvalori-zação prática ainda não causou sua desvalorização ideológica: o mito da aprovação e da vantagem do carro persiste, mesmo que os transportes cole-tivos, se generalizados, viessem a demonstrar uma evidente superioridade. A persistência desse mito se explica facilmente: a generalização do sistema automobilístico individual pôs de lado os transportes coletivos, modificou o urbanismo e o habitat, e transferiu para o carro as funções que sua pró-pria difusão tornou necessárias. Precisaremos de uma revolução ideológica (“cultural”) para quebrar esse círculo. Evidentemente, não se deve esperá-la da classe dominante (de direita ou de esquerda).
Vejamos agora esses dois pontos mais de perto.
Quando o carro foi inventado, ele deveria proporcionar a alguns bur-gueses muito ricos um privilégio absolutamente inédito: o de andar muito mais rápido que todos os outros. Ninguém, até então, tinha sequer sonhado com isso: a velocidade das diligências era mais ou menos a mesma, fosse você rico ou pobre; a carruagem do senhor não andava mais rápido que a charrete do camponês, e os trens punham todo mundo na mesma veloci-

André Gorz 41
dade (eles só adotaram velocidades diferenciadas depois da concorrência do automóvel e do avião). Assim, não havia, até a virada do século, uma velocidade de deslocamento para a elite, e uma outra para o povo. O carro iria mudar isso: ele estendia, pela primeira vez, a diferença de classe à ve-locidade e ao meio de transporte.
Em princípio, esse meio de transporte parecia inacessível à massa por ser diferente dos meios ordinários: não havia nenhuma medida comum entre o automóvel e todo o resto: a charrete, a estrada de ferro, a bicicleta ou as car-ruagens a cavalo. Seres excepcionais passeavam a bordo de um veículo au-totracionado, pesando bem uma tonelada, e cujas partes mecânicas, de uma complexidade extrema, eram tão misteriosas quanto ocultas aos olhares. Pois havia também esse aspecto, que pesa fortemente no mito do automóvel: pela primeira vez, os homens montavam veículos individuais cujos mecanismos de funcionamento lhes eram totalmente desconhecidos, cuja manutenção, e mesmo a alimentação, deviam ser por eles confiadas a especialistas.
Paradoxo do carro automotor: na aparência, ele conferia aos seus pro-prietários uma independência ilimitada, permitindo-lhes deslocarem-se por horas e em itinerários de sua escolha, numa velocidade igual ou superior à da estrada de ferro. Porém, na realidade essa autonomia aparente tinha como inverso uma dependência radical: diferentemente do cavaleiro, do charreteiro ou do ciclista, o motorista iria depender, para a alimentação de energia ou para o reparo da menor avaria, de vendedores e de especia-listas em carburação, em lubrificação, em ignição e na troca das peças. Diferentemente de todos os outros proprietários de meios de locomoção, o automobilista iria ter uma relação de usuário e de consumidor – e não mais de possuidor e de mestre – com o veículo do qual formalmente era o pro-prietário. Dito de outra forma, esse veículo obrigaria a consumir e a utilizar uma grande quantidade de serviços e de produtos industriais que somente terceiros poderiam lhe fornecer. A autonomia aparente do proprietário de um automóvel escondia sua radical dependência.
Os magnatas do petróleo foram os primeiros a perceber a vantagem que poderiam tirar de uma larga difusão dos automóveis: se o povo pudesse ser conduzido a andar em carros movidos a motor, poder-se-ia vender a eles a energia necessária à sua propulsão. Pela primeira vez na história, os ho-mens se tornariam, para sua locomoção, devedores de uma fonte mercantil de energia. Haveria tantos clientes da indústria petrolífera quantos moto-ristas – e como haveria tantos motoristas quanto famílias, toda a população se tornaria cliente dos petroleiros. A situação com a qual sonha todo capi-talista iria se realizar: todos os homens iriam depender, para realizar suas necessidades cotidianas, de uma mercadoria de que uma única indústria deteria o monopólio.

42 Ecológica
Não restava senão levar o povo a andar de carro. Provavelmente, nem foi necessário muito esforço para isso: só se precisou, pela fabricação em sé-rie, e em cadeia de montagem, abaixar suficientemente o preço dos carros; as pessoas iriam correndo comprá-los. E elas realmente foram, sem se dar conta de que eram forçadas a isso. O que lhes prometia a indústria automobilística? Simplesmente isso: “você também, daqui para frente, terá o privilégio de andar, como os senhores e os burgueses, mais rápido que todo mundo. Na sociedade do automóvel, o privilégio da elite está bem ao seu alcance”.
As pessoas correram em direção aos carros até o momento em que, os trabalhadores tendo também acesso a eles, os motoristas constataram, frustrados, que não eram os únicos a tê-los. Havia-se lhes prometido um privilégio de burguês, eles tinham se endividado para ter carros, e eis que percebiam que todo mundo também tinha comprado carros. O que é um privilégio, se todo mundo pode tê-lo? É um mal negócio. E, além disso, é um contra todos. É a paralisia geral causada por uma luta geral. Pois quan-do todo mundo pretende andar na velocidade privilegiada dos burgueses, o resultado é que ninguém mais anda; a velocidade de circulação urbana se reduz – em Boston, como em Paris, em Roma ou em Londres – para aquém da velocidade das carruagens a cavalo, e a média da velocidade nas vias de acesso, durante os fins de semana, é menor que a de um ciclista.
Nada funcionou: todos os remédios foram tentados, e terminaram to-dos, no final das contas, por agravar o mal. Que se multipliquem as vias radiais e as circulares, os viadutos suspensos, as estradas de dezesseis pistas e com pedágio, o resultado será sempre o mesmo: quanto mais se façam es-tradas vicinais, mais carros haverá para nelas trafegar e mais paralisante será a congestão da circulação urbana. Enquanto houver cidades, o problema não terá solução: tão rápida e larga que seja uma via de acesso, a velocidade com que os carros a deixam para entrar na cidade não pode ser maior que aquela com que se espalham depois pela rede urbana. Porquanto a velocidade média em Paris seja de 10 a 20 km/h, dependendo do horário, não se poderá deixar as estradas e vias periféricas da capital a mais de 10 ou 20 km/h. Trafegar-se-á por elas em velocidades até mesmo muito mais baixas que essa se os acessos estiverem saturados, e essa lentidão repercutirá até dezenas de quilô-metros adentro se as vias de acesso também estiverem saturadas.
Dá-se o mesmo em todas as cidades. Na média, é impossível circular a mais de 20 km/h no labirinto das ruas, avenidas e bulevares entrecruzados que constituem o traço próprio das cidades. Toda injeção de veículos mais rápidos perturba a circulação urbana provocando gargalos e, finalmente, a paralisia.
Se o carro deve prevalecer, só resta uma solução: suprimir as cidades, ou seja, estendê-las sobre centenas de quilômetros, ao longo de vias monu-

André Gorz 43
mentais; subúrbios tornados estradas. É o que os EUA fizeram. Ivan Illich resume35 o resultado disso em números impressionantes:
O americano típico dedica mais de mil e quinhentas horas por ano (ou seja, trinta horas por semana, ou ainda quatro horas por dia, aí compreendidos os domingos) ao seu carro: isso compre-ende as horas que passa à frente do volante, andando ou parado; as horas de trabalho necessárias para pagá-lo e para pagar a ga-solina, os pneus, os pedágios, o seguro, as multas e os impostos (…) A esse americano são necessárias então mil e quinhentas horas para fazer (num ano) 10.000 quilômetros. Seis quilôme-tros lhe tomam uma hora. Nos países privados da indústria de transportes, as pessoas se deslocam exatamente nessa mesma velocidade andando a pé, com a vantagem suplementar de po-derem ir não importa aonde, e não somente por vias asfaltadas.
É verdade, diz Illich, que nos países não industrializados os desloca-mentos absorvem apenas de 3% a 8% do tempo social (o que provavelmente corresponde de duas a seis horas por semana). Conclusão sugerida por Illich: em uma hora dedicada ao transporte, o homem a pé percorre tantos quilôme-tros quanto o homem motorizado, mas faz seus deslocamentos em um quinto ou um sexto do tempo gasto por este último. Moral da história: quanto mais uma sociedade produza veículos rápidos, mais – passado um certo limite – as pessoas perdem tempo neles para se deslocar. É matemático.
A razão? Acabamos de vê-la há pouco: produzimos aglomerações em subúrbios tomados de estradas, pois era a única maneira de evitar a con-gestão dos veículos nos centros habitados. Mas essa solução tem um efeito colateral evidente: as pessoas, enfim, não podem circular à vontade, pois se encontram longe de tudo. Para dar lugar ao carro, multiplicaram-se as distâncias: moramos longe do local do trabalho, longe da escola, longe do supermercado – o que vai exigir um segundo carro para que a “dona de casa” possa fazer as compras e levar as crianças à escola. Saídas? Fora de questão. Amigos? Bem, há os vizinhos... O carro, no final das contas, faz perder mais tempo do que economiza, e cria mais distâncias do que pode vencer. É claro que você pode chegar ao seu trabalho fazendo 100 km/h, mas é porque você mora a 50 km do seu trabalho e aceita perder uma meia hora para percorrer os últimos dez quilômetros. Balanço geral: “as pessoas trabalham uma boa parte do dia para pagar os deslocamentos necessários para trabalhar” (Ivan Illich).
35. Cf. Illich, Ivan; Énergie et équité, Le Seuil, 1985.

44 Ecológica
Você diria, talvez: “pelo menos, desse jeito a gente escapa do infer-no da cidade quando termina o dia de trabalho”. Mas é isso. É bem uma confissão. “A cidade” é sentida por nós como “o inferno”; não pensamos noutra coisa senão em dela sair ou em viver no campo, enquanto que, por gerações, a cidade grande, objeto de maravilhamento, era o único lugar em que valeu a pena viver. Por que então essa reviravolta? Por uma só razão: o carro tornou a cidade grande inabitável. Ele a tornou fétida, barulhenta, as-fixiante, suja, obstruída; ao ponto em que as pessoas nem desejam mais sair à noite. Então, já que os carros mataram a cidade, precisaremos agora de carros ainda mais rápidos para fugir pelas estradas em direção a subúrbios ainda mais distantes. Circularidade perfeita: deem-nos mais carros para que fujamos das devastações causadas pelos carros.
De objeto de luxo e de fonte de privilégio, o carro se tornou assim o objeto de uma necessidade vital: precisamos dele para nos evadir do in-ferno citadino do carro. Para a indústria capitalista, é uma partida ganha: o supérfluo se tornou necessário. Doravante, será inútil tentar persuadir as pessoas a não desejarem carros: a necessidade deles está inscrita nas coisas. É verdade que outras dúvidas podem surgir quando a gente vê a evasão motorizada ao longo dos eixos de fuga: entre 8:00 e 9:30 hs da manhã, entre 17:30 e 19:00 hs da noite, de cinco a seis horas durante os fins de semana, veículos que se seguem em procissões, para-choques contra para-choques, no máximo à velocidade de um ciclista, metidos numa grande nuvem de gasolina misturada com chumbo. O que resta das vantagens de um carro? O que resta quando a velocidade básica nas ruas está limitada àquela que, inevitavelmente, o carro de passeio mais lento pode fazer?
Um justo retorno das coisas: depois de ter matado a cidade, o carro mata o carro. Depois de ter prometido a todo mundo que andaria mais rápi-do, a indústria automobilística chega ao resultado rigorosamente previsível de que todo mundo anda mais lentamente que o mais lento de todos, a uma velocidade determinada pelas leis simples da dinâmica dos fluidos. Mais: inventado para permitir a seu proprietário ir aonde quiser, na hora e na velocidade que desejar, o carro se torna o mais aleatório, imprevisível e incômodo de todos os veículos: se você escolheu uma hora extravagante para partir, jamais saberá quando os entupimentos lhe permitirão chegar. Você está colado na rua (ou na estrada) tão inexoravelmente quanto os trens estão nos seus trilhos. Você não pode, não mais que o viajante ferroviário, parar espontaneamente em algum lugar, e deve, assim como num trem, avançar numa velocidade determinada pelos outros. Em suma, o carro tem todas as desvantagens do trem – mais algumas que lhes são específicas: vi-brações, dores musculares, perigo de colisão, necessidade de dirigir – sem nenhuma das suas vantagens.
E, no entanto, você diria, as pessoas não tomam trem. É óbvio: por que elas o fariam? Você já tentou ir de Boston a New York num trem? Ou

André Gorz 45
de Ivry a Tréport? Ou de Garches a Fontainebleu? Ou de Colombes à Isle-Adam? Então tente, num domingo ou num sábado de verão. Precisará de coragem. Você constatará que o capitalismo automobilístico previu tudo: no momento em que o carro ia matar o carro, ele fez desaparecerem as soluções de substituição: um modo de tornar o carro obrigatório. Assim, em primeiro lugar o Estado capitalista deixou que se degradassem, e depois suprimiu as ligações ferroviárias entre as cidades, seus subúrbios e seu cin-turão verde. Somente permitiu as ligações interurbanas de alta velocidade que disputam com o transporte aéreo a clientela burguesa. O aerotrem, que poderia deixar as costas normandas ou os Lacs du Morvan ao alcance dos turistas parisienses de domingo, servirá para poupar quinze minutos entre Paris e Pontoise, e para depositar em seus terminais mais viajantes satura-dos de velocidade do que os transportes urbanos poderão receber. Isso é o progresso!
Na verdade, ninguém realmente tem escolha: não se é livre para ter ou não um carro já que o universo suburbano é agenciado em função dele – assim como, cada vez mais, também o universo urbano. É a razão pela qual a solução revolucionária ideal, que consiste em suprimir o carro e incentivar a bicicleta, o bonde, o ônibus e o táxi sem motorista, não mais é aplicável em cidades-estrada como Los Angeles, Detroit, Houston, Trappes ou mesmo Bruxelas, modeladas para o transporte automobilístico. Vazias, estilhaçadas, ao longo de ruas esvaziadas em que se alinham pavilhões to-dos iguaizinhos e onde a paisagem (desértica) urbana significa: “estas ruas são feitas para andar tão rapidamente quanto possível do local de trabalho para o domicílio, e vice-versa. Passa-se por elas, mas não se fica nelas. Cada um, uma vez que seu trabalho tenha terminado, pode apenas ficar na sua casa, e toda pessoa encontrada na rua de noite deve ser tomada como suspeita de estar preparando um golpe”. Num certo número de cidades americanas, o fato de passear a pé durante a noite pelas ruas é mesmo con-siderado um delito.
E então, a partida está perdida? Não; porém a alternativa ao carro só poderá ser global. Para que as pessoas possam renunciar ao seu carro, não é suficiente oferecer-lhes meios de transporte coletivo mais cômodos: é pre-ciso fazer com que elas simplesmente não necessitem mais de transporte, pois que se sentirão em casa estando em seus bairros, em suas comunida-des, em sua cidade, e terão prazer em ir a pé do trabalho ao domicílio – a pé ou, a rigor, de bicicleta. Nenhum meio de evasão e de transporte rápido compensará a tristeza de morar numa cidade inabitável, de em parte algu-ma sentir-se em casa, de passar pela cidade apenas para trabalhar ou, ao contrário, para se isolar e dormir.
“Os usuários, escreve Illich, quebrarão as cadeias do transporte su-perpotente quando se puserem a amar como um território a sua pequena

46 Ecológica
ilha de circulação, e quando desejarem evitar se afastar dela muito fre-quentemente”. Mais precisamente, para poder amar “seu território”, será em princípio necessário que ele seja habitável e não circulável: que o bairro ou a comunidade se tornem de novo um microcosmo para todas as ativi-dades humanas, em que as pessoas trabalham, moram, se divertem, se ins-truem, se comunicam, se expressam e gereciam em comum o meio de sua vida comum. Perguntaram-lhe, certa vez, o que as pessoas fariam de seu tempo depois da revolução, quando o desperdício seria abolido, e Marcuse assim respondeu: “nós iremos destruir as grandes cidades e reconstruir novas. Isso nos ocupará por um tempo”.
Pode-se imaginar que novas cidades serão federações de comunas (ou bairros), envolvidos por cinturões verdes em que os cidadãos – e prin-cipalmente os “escolares” – passarão várias horas por semana cultivando os produtos frescos necessários à sua subsistência. Para seu deslocamen-to cotidiano, eles disporão de uma gama completa de meios de transporte adaptados a uma cidade média: bicicletas municipais, bondes ou ônibus elétricos, táxis elétricos sem motoristas. Para os deslocamentos mais im-portantes no campo, assim como para o transporte dos hóspedes, um grupo de automóveis comunitários estará à disposição de todos nas garagens do bairro. O carro deixará de ser uma necessidade. Tudo terá mudado: o mun-do, a vida, as pessoas. E isso não terá acontecido isoladamente.
Mas o que fazer para chegar a esse ponto? Sobretudo, nunca pensar o problema do transporte isoladamente; sempre ligá-lo ao problema da cida-de, da divisão social do trabalho e da compartimentalização que esta intro-duziu entre as diversas dimensões da existência: um lugar para trabalhar, um lugar para “morar”, um terceiro onde se abastecer, um quarto para se instruir, um quinto para se divertir. O agenciamento do espaço dá continui-dade à desintegração do homem começada pela divisão do trabalho na usi-na. Ele corta o indivíduo em fatias; corta seu tempo, sua vida, em pedaços bem separados para que, em cada um deles, você seja um consumidor pas-sivo sem defesas contra o mercado, para que nunca lhe venha à ideia que o trabalho, a cultura, a comunicação, o prazer, a satisfação das necessidades e a vida pessoal possam e devam ser uma única e mesma coisa: a unidade da vida, sustentada pelo tecido social da comunidade.