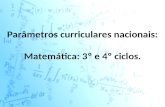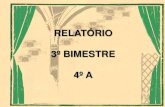Apostila do 2º ano 3º e 4º bi
description
Transcript of Apostila do 2º ano 3º e 4º bi

Profª.:Elza Página 1
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO “SIMÃO JACINTO DOS REIS” Profª.: Elza Aluno(a):______________________________________________Série: 2º Ano - 3º e 4º bimestre
Apostila de Filosofia Assunto: Estética e Filosofia da Arte O conhecimento através dos sentidos e do belo Baseado nessa etimologia, Kant definiu a estética, tempos depois, como a ciência que trata das condições das percepções pelos sentidos. Foi, no entanto, o alemão Alexander Baumgarten (1714-1762) quem a utilizou pela primeira vez no sentido que ela tem hoje, isto é, como teoria do belo e das suas manifestações
através da arte. Como ciência (a teoria do belo), a estética pretende alcançar um tipo especifico de conhecimento: aquele que é captado pelos sentidos. Por esse motivo, ela difere e se contrapõe,radicalmente, a lógica e a matemática. Essas duas disciplinas partem da razão, e não dos sentidos, para estabelecer um conhecimento que é "claro e distinto", conforme o ideal de saber proposto por Descartes. A estética, por sua vez, parte da experiência sensorial, da sensação, da percepção sensível, pare chegar a um resultado que se poderia dizer "confuso" e "obscuro", que não apresenta a mesma clareza e distinção lógico-racional. Seu principal objeto de investigação é a obra de arte. Ocupando-se, também, da obra de arte encontramos a filosofia da arte, que procure investigar o desenvolvimento artístico em busca do "sentido" da historia da arte. Assim, poderíamos dizer então que: tomando como ponto de referencia a obra de arte, procuraria a estética teorizar princípios pertinentes ao belo, ao passo que a filosofia da arte passaria a analisar os aspectos histórico-culturais presente nas diversas manifestações artísticas. Como ligação de interdependência entre as duas epistemologias, encontraríamos sempre a obra de arte, pois a sue existência que possibilita, simultaneamente, princípios estéticos e aspectos artístico-culturais. Em outras palavras: os princípios estéticos são estabelecidos na medida em que existe a obra de arte, a qual, por sue vez, esta de maneira imprescindível inserida num determinado contexto histórico-cultural. Da mesma forma, os aspectos artístico-culturais se manifestam na medida em que existe a obra de arte, a qual, por sua vez, esta também de maneira imprescindível disposta mediante princípios estéticos. Em suma: em torno da obra de arte, complementam-se a estética (ou filosofia do belo) e a filosofia da arte (ou ciência geral da arte)'.
O bom e o belo: a estética na educação Por diversos ângulos e com diferentes enfoques, as discussões sobre a beleza e o estético tiveram uma presença marcante no pensamento de vários autores, desde a Antiguidade grega até os nossos dias. Muitas dessas especulações tomaram o rumo de associar o belo ao bom, entrelaçando os campos filosóficos da estética e da moral. Sócrates e Platão, por exemplo, já diziam que o que é bom é belo, e, o que é belo é bom. Não precisamos, porém, ir tão longe: o próprio senso comum (as pessoas em geral) faz essa ligação. Quando um indivíduo age mal, costuma-se dizer: "Que feio!" Se ele age de maneira ética, corretamente, fala-se que ele teve uma atitude "bonita". Inversamente, se o belo pode também despertar o bom no individuo, deve fazer parte de sua educação. Assim, além da educação ética, o escritor e pensador alemão Schiller (1759-1805) propôs a educação estética como

Profª.:Elza Página 2
forma de harmonizar e aperfeiçoar o mundo e de o individuo alcançar a sua liberdade. Nas suas palavras: Para chegar a uma solução, mesmo em questões políticas, o caminho da estética deve ser buscado, porque é pela beleza que chegamos a liberdade. Através do belo, portanto, o mundo material se reconciliaria com a forma superior da moralidade. E essa seria a grande missão da arte.
A arte e seu permanente fascínio
O encontro da eternidade na criação artística do homem Desde os tempos pré-históricos, o ser humano constroi no mundo suas próprias coisas, demonstrando maior ou menor habilidade. A esse conjunto de coisas feitas pelo homem a que se distingue por revelarem capricho, talento, perícia, beleza e eficiência podemos associar o nome arte. Em algum momento de nossas vidas, todos já sentimos o agradável efeito de alguma obra de arte: uma mística, um romance, uma pintura, uma dança, um poema. Entretanto, não é nada fácil explicar, exatamente, o que nos encanta numa obra de arte, ou entender as razões pelas quais milhões de seres humanos, ao longo da historia, são atraídos pela arte. Mas, afinal, o que a arte? Para a pensadora norte-americana Susanne Langer, a arte pode ser definida como a prática de criar formas perceptíveis expressivas do sentimento humano. Analisemos, então, o conteúdo essencial dos termos dessa definição: Prática de criar: a arte é produto do fazer humano. Deve combinar a habilidade desenvolvida no trabalho (prática) com a imaginação (criação). Formas perceptíveis: a arte se concretize em formas capazes de serem percebidas por nossa mente. Essas formas podem ser estáticas (uma obra arquitetônica, uma escultura), ou dinâmicas (uma música, uma dança). (Qualquer que seja sua forma de expressão, cada obra de arte é sempre um todo perceptível), com identidade própria. A palavra perceptível não se refere as formas captadas apenas pelos sentidos exteriores, mas também pela imaginação. Um romance, por exemplo, é usualmente lido em silêncio, com os olhos, porém não é feito para a visão, como é um quadro; e conquanto o som represente papel vital na poesia, as palavras, mesmo em poema, não são estruturas sonoras como a música. Expressão do sentimento humano: a arte é sempre a manifestação (expressão) dos sentimentos humanos. Esses sentimentos podem revelar a emoção diante daquilo que amamos, ou a revolta em face dos problemas que atingem uma sociedade. Sentimentos de alegria, esperança, agonia ou decepção diante da vida. A função primordial da arte, para Susanne Langer, é objetivar o sentimento de modo que possamos contemplá-lo e entendê-lo. É a formulação da chamada "experiência interior", da "vida interior", que é impossível atingir pelo pensamento discursivo. Durante a Idade Média, o Cristianismo difundiu uma nova concepção da beleza, tendo como fundamento a identificação de Deus com a beleza, o bem e a verdade. Para Santo Agostinho, dentro da filosofia Patrística, a beleza do mundo não é mais do que o reflexo da suprema beleza de Deus, onde tudo emana. A partir da beleza das coisas podemos chegar à beleza Suprema (a Deus). A Escolástica foi uma Escola filosófica medieval que inspirou-se no idealismo de Platão e no realismo de Aristóteles. Para os escolásticos, a arte é uma virtude do intelecto prático, um hábito de ordem intelectual que consiste em imprimir uma ideia a determinada matéria. Dentro da Escolástica, São Tomás de Aquino definia a beleza como "aquilo cuja visão agrada", cujos requisitos são a proporção ou harmonia, a integridade ou unidade

Profª.:Elza Página 3
e a clareza ou luminosidade. Assim, São Tomás de Aquino identificou a beleza com o Bem. As coisas belas possuem três características ou condições fundamentais: a) Integridade ou perfeição (o inacabado ou fragmentário é feio); b) a proporção ou harmonia (a congruência das partes); c) a claridade ou luminosidade. Como em Santo Agostinho, a beleza perfeita identifica-se com Deus.
Idade Moderna: no Renascimento (séculos XV só em Itália,e XVI em toda a Europa), os artistas adquirem a dimensão de verdadeiros criadores. Os gênios têm o poder de criar obras únicas, irrepetíveis. Começa a desenvolver-se uma concepção elitista da obra de arte: a verdadeira arte é aquela que foi criada unicamente para o nosso deleite estético, e não possui qualquer utilidade. Entre as novas idéias estéticas que então se desenvolveram são de destacar as seguintes:
a) Difusão de concepções relativistas sobre a beleza. O belo deixa de ser visto como algo em si, para ser encarado como algo que varia de país para país, ou conforme o estatuto social dos indivíduos. Surge o conceito de "gosto". b) Difusão de uma concepção misteriosa da beleza, ligada à simbologia das formas geométricas e aos números, inspirada no pitagorismo (o pitagorismo é uma escola de sábios e filósofos, é uma seita religiosa fundada por Pitágoras em Crotona) e neoplatonismo. c) Difusão de uma interpretação normativa da estética aristotélica. Estabelecem-se regras e padrões fixos para a produção e a apreciação da arte. Entre os séculos XVI e XVIII predominam as estéticas de inspiração aristotélica. Procura-se definir as regras para atingir a perfeição na arte. As academias que se difundem a partir do século XVII, velam pelo seu estudo e aplicação. No final da Idade Moderna, na segunda metade do século XVIII, a sociedade européia atravessa uma profunda convulsão. O começo da revolução industrial, a guerra da Independência Americana e a Revolução Francesa criaram um clima propício ao aparecimento de novas idéias. O principal movimento artístico deste período foi o neoclacissismo, que toma como fonte de inspiração a antiga Grécia e Roma. A arte neoclássica será utilizada de forma propagandística durante a Revolução Francesa e no Império napoleônico. É neste contexto que surge I. Kant, o principal criador da estética contemporânea. Na sua obra Crítica do juízo (ou da faculdade de julgar), noção que examina os juízos estéticos ao referir-se aos objetos belos da natureza e da arte, Kant concebe o juízo estético como resultado do livre jogo do intelecto e da imaginação e não como produto do intelecto (ou seja, da capacidade humana de formar conceitos), nem como produto de intuição sensível. O juízo estético provém do prazer que se alcança no objeto como tal. Exprime uma satisfação diferente daquela que é proporcionada pelo agradável, pelo bem e pelo útil. Para Kant, os nossos juízos estéticos têm um fundamento subjetivo; este é um dado que não se pode apoiar em conceitos determinados. A satisfação só é estética, porém, quando gratuita e desligada de qualquer fim subjetivo (interesse) ou objetivo (conceito).O critério de beleza que nesses juízos estéticos se exprimem é o do prazer desinteressado que suscita a nossa adesão. Apesar de subjetivo, o juízo estético aspira à universalidade. O belo, diz Kant, "é o que agrada universalmente, sem relação com qualquer conceito". O belo existe enquanto fim em si mesmo: agrada pela forma, mas não depende da atração sensível nem do conceito de utilidade ou de perfeição. Quanto às origens da arte, Kant diz que a imaginação é compelida a criar (causalidade livre) o que não encontra na natureza. A arte é, pois, a produção da beleza não pela necessidade natural, mas pela liberdade humana. Kant propõe uma classificação das "belas-artes" em artes da palavra (eloqüência e poesia), figurativas (escultura, arquitetura e pintura), e as que produzem um "belo jogo de sensações", como a música. Todas se encontram na arte dramática e, de modo especial, na ópera.

Profª.:Elza Página 4
Na Idade Contemporânea a arte atravessa, ao longo do século XIX, profundas mudanças. O objeto da estética, segundo o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), é o belo artístico, criado pelo homem. A raiz da arte está na necessidade que tem o homem de objetivar seu espírito, transformando o mundo e se transformando. Não se trata de imitar a natureza, mas de transformá-la, a fim de que, pela arte, possa o homem exprimir a consciência que tem de si mesmo. O academismo, no século XIX, é posto em cheque por artistas como Courbet, Monet, Manet, Cézanne ou Van Gogh, que abrem uma ruptura com as normas e convenções tradicionais na arte, preparando desta maneira o terreno para a emergência da Arte Moderna (ou modernista). Surge então múltiplas correntes estéticas, sendo de destacar as seguintes: a) A romântica – que proclama um valor supremo para a arte (F. Schiller, Schlegel, Schelling, etc). Exalta o poder dos artistas, os quais através das suas obras revelam a forma suprema do espírito humano. O romantismo foi um movimento artístico ocorrido na Europa por volta de 1800, que representa as mudanças no plano individual, destacando a personalidade, sensibilidade, emoção e os valores interiores. Atingiu primeiro a literatura e a filosofia, para depois se expressar através das artes plásticas. A arte romântica se opôs ao racionalismo da época da Revolução Francesa e de seus ideais, propondo a elevação dos sentimentos acima do pensamento. Curiosamente, não se pode falar de uma estética tipicamente romântica, visto que nenhum dos artistas se afastou completamente do academicismo, mas sim de uma homogeneidade conceitual pela temática das obras. b) A realista – surgiu imediatamente após o romantismo; defende o envolvimento da arte nos combates sociais. As obras de arte assumem, muitas vezes, um conteúdo político manifesto. O homem europeu, que tinha aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, convenceu-se de que precisava ser realista inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade, revelando assim seus aspectos mais característicos e expressivos. A arte passa a ser, assim, um meio para denunciar uma ordem social considerada injusta, manifestando-se como protesto em favor dos oprimidos. Em seu sentido mais amplo, a palavra realismo designa uma maneira de agir, de interpretar a realidade. Esse comportamento caracteriza-se pela objetividade, por uma atitude racional das coisas (e pode ocorrer em qualquer tempo da história). O século XX foi a todos os níveis um século de rupturas. No domínio das práticas artísticas, ocorrem importantes mudanças no entendimento da própria arte, em resultado de uma multiplicidade de fatores, nomeadamente:
a) A integração no domínio da arte de novas manifestações criativas. Umas já existiam, mas estavam desvalorizadas; outras são relativamente recentes. Esta integração permitiu diminuir as fronteiras entre a arte erudita e a arte para grandes massas. Entre as primeiras destacam-se as artes decorativas, a art naïf (arte ingênua ), a arte dos povos primitivos atuais, o artesanato urbano e rural. Entre as segundas destacam-se a fotografia, o cinema, o design, a moda, o rádio, a TV etc. Todas estas artes são hoje colocadas em pé de igualdade com as artes consagradas, como a pintura, escultura etc.(as chamadas"Belas Artes").
b) Os movimentos artísticos que desde finais do século XIX têm aparecido em todo o mundo têm revelado uma mesma atitude desconstrutiva em relação a todas as categorias estéticas. Todos os conceitos são contestados, e todas as fronteiras entre as artes são postas em causa. A arte foi dessacralizada, perdeu a sua carga mítica e iniciática de que se revestiu em épocas anteriores, tornando-se freqüentemente um mero produto de consumo. Quase tudo pode ser considerado como arte, basta para tanto que seja "consagrado" por um artista. c) No domínio teórico aparecem inúmeras teorias que defendem novos critérios para apreciação da arte. No panorama das teorias estéticas podemos destacar três correntes fundamentais: 1ª - As estéticas normativas concebem a beleza fundamentada em princípios inalteráveis. Entre elas sobressai a estética fenomenológica de Edmund Husserl (1859-1938). Segundo Husserl, as coisas caracterizam-se pelo seu

Profª.:Elza Página 5
inacabamento, pela possibilidade de sempre serem visadas por noesis (a operação do nous, pensar) novas que as enriquecem e as modificam. 2ª - As estéticas marxistas e neomarxistas marcadas por uma orientação nitidamente sociológica. O realismo continuou a ser a expressão que melhor se adéqua às idéias defendidas por esta corrente. A arte nos países socialistas, por exemplo, cumpria através de imagens realistas uma importante função: antecipar a "realidade" da sociedade socialista, transformando-a numa utopia concreta. 3ª - A estética informativa que deriva das teorias matemáticas da informação. Esta estética procura constituir um sistema de avaliação dos conteúdos inovadores presentes numa obra de arte. O século XX foi palco de dois grandes movimentos gerais na arte que receberam o nome de Arte Moderna (ou Modernista) – do início do século até por volta de 1950, cinco anos após a 2ª Guerra Mundial e Arte Pós-Moderna (de 1950 em diante). Arte Moderna: alguns estudiosos marcam seu começo em meados do séc. XIX, com o Impressionismo; outros, no final do séc. XIX, com o Pós-Impressionismo. Mais certo, na minha opinião, seria datar seu início com a pesquisa de Cézanne (final do século XIX) ou com o Fauvismo (a utilização de cores fortes no início do séc. XX). Os artistas daquela época queriam algo que não fosse parecido com o clássico e nem que copiasse a natureza. Cores fortes colocadas livremente sobre o suporte, traços vigorosos, tendência à geometrização, desprezo pelas leis da perspectiva e do escorço, expressividade gestual; paulatinamente o ambiente retratado se torna mais urbano que rural. Nas raízes do movimento modernista estão: a Revolução Industrial, a invenção da fotografia, a pesquisa sobre arte primitiva e a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), pois só depois desta é que o movimento modernista toma corpo e é aceito pelos amantes da arte. Arte pós-moderna: aplicamos este nome às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950 quando, por convenção, se encerra o modernismo. Ele nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo com a Arte Pop (anos 60); cresce através da filosofia nos anos 70 como crítica da cultura ocidental. Amadurece até os dias de hoje e incrementa-se com a tecnociência: computadores e programas sofisticados, telefones celulares, câmeras digitais, instrumentos musicais sintetizados. O que Duchamp fizera no início do século XX, preconizou o que a arte faz agora: tudo pode ser arte, e arte é o que o artista diz que é.
ARTE E SOCIEDADE Há estudiosos que vêem na obra de arte uma manifestação pura e simples dos sentimentos individuais do artista. Outros a encaram como uma atividade plenamente lúdica, gratuita, livre de quaisquer preocupações utilitárias ou condicionamentos exteriores à sua própria criação. Não é preciso negar totalmente a validade de cada uma dessas concepções para reconhecer na atividade artística algo que vai mais além: o fato de que a arte é um fenômeno social. Isso significa que é praticamente impossível situar uma obra de arte sem estabelecer um
vínculo com uma determinada sociedade. A arte é um fenômeno social porque:
O artista é um ser social: como ser social, o artista reflete na obra de arte sua própria maneira de sentir o mundo em que vive, as alegrias e angustias, os problemas e as esperanças de seu momento histórico. Para Lukács: O artista vive em sociedade e - queira ou não - existe uma influência recíproca entre ele e a sociedade. O artista - queira ou não - se apóia numa determinada concepção do mundo, que ele exprime igualmente em seu estilo.

Profª.:Elza Página 6
A obra de arte é percebida socialmente pelo público: por mais íntima e subjetiva que seja a experiência
do artista deixada em sua obra, esta será sempre percebida de alguma maneira pelas pessoas. A obra de arte será, então, um elemento social de comunicação da mensagem de seu criador. Assim, como afirmou Lukacs: uma arte que seja por definição sem eco, incompreensível para os outros - uma arte que tenha o caráter de puro monólogo só seria possível num asilo de loucos (...) A necessidade de repercussão, tanto do ponto de vista da forma, quanto do conteúdo, é a característica inseparável, o traço essencial de toda obra de arte autêntica em todos os tempos.
Como fenômeno social, a arte possui relações com a sociedade. Essas relações não são estáticas e imutáveis mas, ao contrario, são dinâmicas, modificando-se historicamente. No que diz respeito ao artista, as relações da sua arte para com a sociedade podem ser de paz e harmonia, de fuga e ilusão, de protestos e revolta. Quanto à sociedade - considerando principalmente o Estado -, seu relacionamento com determinada arte pode ser de ajuda e incentivo, ou de censura e limitação à atividade criadora. Afirmar que a arte é um fenômeno social não significa reduzi-la a mero produto de condicionamentos históricos e ideológicos. Não há duvida de que esses condicionamentos existem e atuam sobre o artista. Mas, na realização da obra de arte, todos os elementos que a envolvem precisam ser resolvidos artisticamente, isto é, precisam ser traduzidos em termos de criação estética. Nessa criação é que reside o valor essencial de toda grande obra de arte. Ocorre nela um rompimento com o tempo e um encontro do homem com a eternidade. Pela criação estética, a obra tende a se universalizar, a permanecer viva através dos tempos, anunciando uma mensagem artística que, independentemente de seu conteúdo ideológico, expressa profunda sensibilidade. Por isso, ela é capaz de atrair homens de diferentes paises, culturas ou sociedades. Como escreveu Ernst Fischer: toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em consonância com idéias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação histórica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação e, dentro do momento histórico, cria também um momento de humanidade que promete constância no desenvolvimento. Assim, as circunstancias particulares que estão presentes na criação artística se unem, harmoniosamente, a elementos de universalidade, que penetram profundamente no espírito humano, gerando um sentido de permanente fascínio.
FUNÇÕES DA ARTE
Ao longo da História, nem sempre a arte teve a mesma função. A arte serviu para aplacar a ira dos deuses, para contar uma história, rememorar acontecimentos importantes, despertar um sentimento religioso, aclamar virtudes morais, despertar sentimentos cívicos. Só no final do século XIX e início do século XX é que a arte foi desvinculada desses interesses não-artísticos e considerada um objeto propiciador de experiência estética com valores intrínsecos. Assim, repassando pelas mais diversas situações e épocas, podemos distinguir três funções principais para a arte:
A) Função pragmática ou utilitária – quando ela é um meio para alcançar outra finalidade. Exemplos: 1) nas igrejas medievais, as paredes pintadas ensinavam à população (que era analfabeta) as histórias de Cristo e dos santos; 2) no início do séc. XX, os socialistas viam na arte um meio para despertar sentimento cívico e manter a lealdade da população. Ou seja: a obra seria “boa” se correspondesse à sua finalidade. B) Função naturalista – quando a obra apenas retrata, imita, copia, enviando-nos para o mundo dos objetos. É o caso dos retratos de figuras políticas ou das imagens fiéis da natureza. Essa função surge na Antigüidade com os gregos e caminhou até o século XIX, quando surgiu a fotografia.

Profª.:Elza Página 7
C) Função formalista – quando a preocupação é com a forma de apresentação da obra, sendo esta a função que se preocupa unicamente com a forma artística como tal. Assim, qualquer que seja o tipo de obra analisado: pintura, escultura, literatura, cinema, música, teatro etc., todos comportam uma estruturação interna de signos selecionados a partir de um código específico. É esta função que é capaz de sustentar e análise de um espectador cuja sensibilidade seja educada e madura. Existe na arte contemporânea, mas também existe na arte de todos os séculos anteriores, pois mesmo que a função da obra tenha sido utilitária ou formalista, o senso estético do artista fazia o melhor que podia. Mas é bom que saibamos que esta distinção das funções é meramente didática, pois sabemos que freqüentemente há mais de uma função em uma só obra.
Estética e Indústria Cultural Indústria cultural é um termo difundida por Adorno e Horkheirmer para designar a indústria da diversão vulgar, veiculada pela televisão, rádio, revistas, jornais, músicas, propagandas, etc. Através da indústria cultural da diversão se obteria a homogeneização dos comportamentos, a massificação das pessoas. A falta de perspectiva de transformação social levou Adorno a se refugiar na teoria estética, por entender que o campo da arte é o único reduto autêntico da razão emancipa tória e da crítica opressão social.
A indústria de lazer e divertimento investe em determinados produtos culturais que agradam às massas de forma imediata. Ela não está preocupada com a educação estética, ou seja, com a criação de condições para que a maioria das pessoas possa receber manifestações artísticas de maior quantidade. A indústria cultural lucra mais com investimentos baratos e com produções artísticas (músicas, filmes, etc.) de pouca qualidade e de entretenimento fácil, que não trazem para o público nenhum enriquecimento pessoal e nenhuma contribuição ao questionamento das coisas, à reflexão. É a indústria do simples divertimento, da distração e, por isso mesmo, da perpetuação das atuais condições de existência. Indústria que pela difusão de suas “mercadorias culturais” (filmes, músicas, shows, revistas) vende os valores dominantes do capitalismo, promovendo uma “colonização do espírito” dos consumidores desses produtos.
Assim, a indústria cultural cria a cultura de massa, ou seja, cultura destinada às massas. Isso não tem nada que ver com cultura popular, que seria a cultura própria e espontânea de um povo, refletindo as suas particularidades regionais e recuperando a tradição e os valores autênticos de um dado grupo. A cultura de massa, ao contrário, homogeniza as manifestações artísticas ao oferecer à exaustão um determinado fenômeno de venda e veicular sempre o mesmo, o que desestimula o espírito inovador e empobrece o cenário cultural.
Embora Adorno tenha retratado com pessimismo o cenário cultural contemporâneo ao apontar como a tecnologia de comunicação perverte o sentido da arte ao transformar tudo em negócio, ele reservou ainda uma esperança na existência de uma arte verdadeira que não sucumba aos ditames do mercado. O Fetiche do Consumo Para explicar essa depravação da arte, em decorrência da falta de critérios de gosto, por parte do público, e o declínio da aura da obra de arte, Adorno resgatou de início o conceito de “fetiche” empregado por Hegel na

Profª.:Elza Página 8
Filosofia da História. Fetiche era a tradução francesa para a palavra feitiço que os portugueses usavam quando designavam o objeto ao qual os africanos atribuíam algum poder mágico. Na interpretação de Hegel, o gênio, ou espírito, seria incorporado em uma coisa qualquer – pedra, madeira, animais ou imagem. Tal retificação não seria independente, portanto, de uma religião, nem do trabalho de criação artística do feiticeiro, embora fosse resultante da imaginação arbitrária de seu criador, que pensava ter o controle completo do feitiço. O caráter de culto original, que havia sido perdido pela reprodução, na visão de Adorno, estaria sendo, pouco a pouco, renovado pela retificação do valor de troca da mercadoria fornecida pela produção artística contemporânea. Um ritual mágico se iniciava com a implantação do consumo imediato e repetitivo. A arte de consumo rápido promete prazer instantâneo, ao passo que nega a duração da felicidade que antes fazia parte das pretensões estéticas e morais. Na era da reprodução da arte ligeira, a passividade das massas proporcionava a necessidade de aquisição de objetos descartáveis, além da satisfação das carências objetivas do consumidor, cujas exigências pessoais passam a ser encaradas como ilusórias. Todos devem se acomodar aos padrões gerais disponíveis. Aquele autor, a quem Benjamin convocava ao engajamento político, tornara-se “estrela” ou celebridade de um sistema totalitário. O simples fato de ser mais conhecido ou famoso é suficiente para garantir o sucesso e alimentar o círculo vicioso da cultura. Não se requer mais o talento virtuoso ou o domínio de uma técnica que se destaque por seu próprio valor, mas a posse de um mero conteúdo que sirva de matéria moldável ao comércio – o rosto do artista ou sua voz, por exemplo. O consumidor não precisa, portanto se esforçar em saber nada mais sobre as qualidades específicas de cada gênero artístico, apenas se está na lista dos mais vendidos. Como toda mercadoria, basta que a obra de arte esteja pronta para ser consumida sem maiores esforços, por parte do proprietário. Os critérios de sucesso seguem assim as normas do mercado, vinculadas à renda apurada na venda ou resultado de bilheteria. Com isso, a participação do público restringe-se em comprar e possuir as últimas marcas e modelos lançados e que estão na moda. O indivíduo deve agora se ater à rotina das compras daquilo que é sucesso. Naquela que deveria ser a época áurea do predomínio do gosto universal, o que prevaleceu, para Adorno, foi a completa falta de gosto subjetivo. A perda da aura abriu espaço para que outros rituais fossem engendrados por interesses alheios ao objeto artístico. Houve uma deterioração do poder criativo, em favor de uma satisfação das necessidades das massas, na suposição que atendiam os desejos de um indivíduo mediano imaginado a partir das estatísticas e leis de probabilidade. Tudo é feito para ser entendido superficialmente sem maiores conseqüências ou esforço interpretativo do consumidor que não contempla mais a obra, mas se distrai despreocupado. O fetichismo do objeto sufoca as tentativas de improvisação espontânea que, quando existem, devem ser previstas plenamente. O autor e intérprete têm à disposição todo instrumental para exercer o domínio do público que deve reagir conforme suas intervenções. O público, dominado pelo fetiche, agora se identifica com os produtos lançados no mercado. Seu comportamento diante da obra não é mais contemplativo, porém a sua descontração possibilita que a música de qualidade sofrível sirva como fundo musical e o quadro como cenário de festa e reuniões sociais também superficiais. Nesse processo de simplificação e decoração do objeto artístico, os critérios de consumo vão sendo rebaixados e o adulto regride a preferências pueris (superficiais). A reflexão necessária da razão pode ser substituída pela mera percepção sensível a qual se agrada ou não de imediato. Todo o processo de formação do gosto passa a ser regido por um sistema que busca alienar as massas e eliminar toda forma de individualismo que preservasse a identidade de cada um. Assim, a distração que poderia inibir a incorporação à totalidade é compensada pelo aniquilamento do indivíduo. As tentativas de conciliação com o coletivo são fracassadas. Toda arte industrial compromete-se apenas com seu próprio ambiente de massificação. Ao invés de revolucionar as relações de sociedade, tal indústria se constituiu na mais séria ameaça aos valores culturais. Apenas o abandono da rotina de padronização seria a alternativa viável para o retorno ao processo de conscientização e retomada da liberdade. Contudo, o caráter nostálgico dessa opção revela que o que na verdade resta ao indivíduo é a submissão aos poderes que o destroi.

Profª.:Elza Página 9
A Indústria Cultural
Em 1938, ano em que foi publicado O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição, Adorno ainda acreditava na possibilidade “dos indivíduos [serem] capazes de representar e defender com conhecimento claro, o genuíno desejo de coletividade face a tais poderes” de massificação. Porém, os desdobramentos dos fatos históricos revelaram o massacre da coletivização promovido pela II Guerra Mundial (1939-1945). O Esclarecimento não fora forte o suficiente para impedir a destruição do indivíduo e o que se viu foi a mistificação das massas e uma falsa reconciliação do particular com o universal. Foi então que o conceito de indústria cultural se tornou mais evidente. Sobre os escombros de uma antiga civilização romântica ergueu-se uma nova ordem para padronização compulsiva dos consumidores. Aqueles que não se adaptassem seriam simplesmente largados à
margem ou acolhidos por um sistema de bem estar que obrigava o total abandono da individualidade. A primeira edição de Dialética do Esclarecimento surgiu dois anos depois do fim da II Guerra Mundial, em 1947. Naquele tempo, Adorno, ao lado de Max Horkheimer (1895-1973), percebeu a mudança para um mundo administrativo, governado a partir dos gabinetes, no qual tentava preservar os últimos vestígios de liberdade. E, enquanto a dominação completa não se consumava, denunciou o florescimento da indústria cultural, conceito desenvolvido primeiro nessa obra. Dessa maneira, a despeito da aparência caótica da cultura, o que estava acontecendo era uma constante homogeneização que conferiu um ar semelhante a todas as coisas lançadas no mercado. Contribuíram para tanto, a formação de um sistema de comunicação envolvendo meios eletrônicos e impressos. Tal unificação fez supor uma subsunção do particular ao universal, que de fato é falsa. Pois não havia o interesse em concretizar o ideal racional kantiano e sim a preocupação em fechar novos negócios. A satisfação de interesses comuns de milhões de pessoas conduziu a uma inevitável produção de bens padronizados, em larga escala. A tecnologia proporcionava, então, ao economicamente mais forte, dominar a sociedade á vida por ser alimentada com produtos que estimulavam sua alienação do processo histórico de conscientização, preconizado por Hegel. Ao contrário de promover a emancipação, a seleção de talentos em meio à multidão visava a perpetuação do sistema e não o esclarecimento dos futuros especialistas. A revolução industrial, de início, havia distinguido com nitidez as diversas classes sociais. A indústria cultural, por sua vez, procurou apagar essas diferenças e unificar a constituição política da sociedade, mantendo os indivíduos agrupados por faixa de poder de compra. Desde então, cada classe é induzida ao consumo de produtos condizentes com o padrão que lhe fosse mais adequado. Ao voltar a produção para o atendimento das categorias unificadas, a indústria cultural se sobrepôs ao sistema político. Mesmo em regimes democráticos, a totalização da produção representou uma vitória sobre os gostos dos insubordinados. Toda uma ordem hierárquica passa a ser repensada em favor de uma ideia mais abrangente de classificação que não permite a conexão social, a fim da preservação de uma pretensa harmonia estética. Isto é, todos acabam por serem submetidos aos interesses industriais, o que caracteriza a violência de um processo do qual ninguém escapa. Os movimentos de vanguarda não têm como fugir ao confronto sem perderem suas características originais ou deixarem de ser moldados pela produção ou censura. Os produtos culturais são preparados para ditar as regras pelas quais um estilo pode ser aceito. Toda tensão entre o universal e o particular é eliminada pelo esvaziamento de qualquer substância própria que a obra de arte pudesse apresentar. O estilo que deve prevalecer é aquele que equivale a uma idéia de universal passível de ser imitado por todos. Ou seja, fazer com que ao sair do horário de seu expediente, o trabalhador consuma os produtos que o mantém preso à empresa e ao seu emprego . A rigidez do estilo da indústria cultural é o resultado distorcido dos objetivos liberais que atacavam aqueles que resistiam à integração ao mercado. Durante longos períodos, a arte ficou protegida do mercado pela

Profª.:Elza Página 10
intervenção do Estado. Aos poucos, os artistas mais elevados foram sendo incorporados aos estilos ligeiros, a fim de emprestar maior prestígio ao produto de qualidade inferior. Até que não sobrasse outro meio de sobrevivência ao artista, senão copiar. Os que se recusavam eram vistos como estranhos pelo público. Todas idéias novas deveriam ser passíveis de renovar a produção. Antes mesmo de ser produzido, o novo projeto deveria ser previamente elaborado no sentido de facilitar sua adaptação à linha de montagem. Por outro lado, até a arte considerada séria passou adotar métodos de entretenimento, pois o que estava em jogo era a capacidade de ser reproduzida e não seu conteúdo. Afinal de contas, a indústria cultural é uma cultura de diversão. Sua ideologia é o negócio rápido que deve subsistir como prolongamento do trabalho cotidiano. Não surpreende, portanto, que haja um empobrecimento da informação transmitida ou até sua completa falta de sentido. Como um enorme mecanismo, a indústria promove o desgaste contínuo do sujeito, esmagando sua resistência isolada. Seus produtos representam a violência contra os personagens de suas histórias como algo a ser usufruído com prazer. Sua tecnologia está voltada para esgotar as possibilidades de consumo estético, como fim, mas pouco importando o fato de muitos passarem fome a sua volta, desde que possam adquirir algumas de suas mercadorias. Em conseqüência disto, a promessa de satisfazer os prazeres nunca é cumprida plenamente. Com o fim da aura, a reprodução industrializada do belo anula toda idolatria da beleza. O prazer mistura-se à comercialização. Para frear excessos de ingenuidade e conteúdo intelectual, a diversão deve dominar os impulsos e purificar as paixões em uma catarse como a preconizada por Aristóteles (384-322 a.C.) para as tragédias. A consolidação da indústria cultural possibilitou o controle total das necessidades dos consumidores, sob o preço da alienação da sua subjetividade. Alguns tipos são selecionados na população para perpetuarem o modelo do gosto médio. O ser humano vira um produto genérico e uma igualdade artificial é imposta a todos que são alvos dos materiais descartáveis. Trata-se da ideologia difusa que esvazia todos seus fundamentos, juízos de valor e argumentação. O objetivo é estabelecer o culto dos fatos, tais como são apresentados, sem maiores reflexões. As grandes corporações, por sua vez, sufocam as livres iniciativas empresariais e anulam os vestígios do sujeito que ainda estão presentes na sociedade liberal. A acomodação das necessidades naturais é feita pela previdência social instituída pelo Estado de bem-estar. Quem alimenta a indústria se vê amparado e alimentado por esta, enquanto os marginais são rotulados como culpados por sua própria condição. A máquina da previdência substitui a solidariedade natural que não pode mais ser mobilizada pelas pessoas. A moral do sistema é expressa na punição dos personagens que não cooperam. O cinema transforma-se em instrumento de educação moral, nesse sentido. Em uma civilização assim montada, todos devem estar empregados e contribuírem para sua manutenção se não quiserem ser mal vistos. Ao eliminar o indivíduo, seu destino trágico também se desfaz na impossibilidade sequer de ruína completa, uma vez que, por ironia, sempre será amparado por um programa assistencialista. Uma falsa harmonia é estabelecida pela padronização da identidade, que ainda resta, e o universal totalitário. Do conceito de indivíduo, sobra apenas a decisão de cumprir seus fins particulares. Todo contato social, ao qual este se relaciona, não ultrapassa a superfície e aparência dos bons modos. A sociedade industrial, assim, acaba por diluir a noção de vida humana. A beleza utilitária está a serviço do tipo mediano e, desse modo, a arte perde sua autonomia, ao ser inserida na lista de objetos de consumo, como uma mercadoria a mais nas gôndolas de supermercado. A finalidade última que lhe era uma exigência idealista passa a ser determinada pelo mercado. A obra de arte assume, então, seu valor de troca e adequação a um gênero comercial. E assim, tudo que é cultura, seja tradicional ou industrial, está sob suspeita de fraude, em suma. A visão libertadora da arte termina na completa apatia de seus consumidores. Como mercadoria, a arte pura converte-se em simples propaganda de si mesma. Sua eficácia resume-se à manipulação de pessoas. Nomes e sobrenomes de seus produtores viram marcas publicitárias que sinalizam a entrada de um novo produto em circulação. A divulgação por meios de comunicação provoca um verdadeiro contágio na população que passa a repetir mecanicamente sua expressão como palavra de ordem, ou a nova gíria da moda. O sucesso da arte na indústria cultural foi reduzir as pessoas a simplórias imitadoras compulsivas do hábito de consumir. O diagnóstico traçado pela Escola de Frankfurt para a arte resultou em uma crítica ao fracasso do Esclarecimento em seu projeto emancipatório. Tal crítica foi equivocadamente interpretada como antecessora da

Profª.:Elza Página 11
vertente nihilista (da verdade) pós-moderna, do final do século XX. Pelo contrário, em vez de se acomodar ao estado de coisa irracional da cultura contemporânea, desde o início, com Walter Benjamin, houve a preocupação de chamar atenção para retomada do rumo do processo de conscientização do sujeito. Mesmo quando as críticas tomavam ares negativos, Adorno e Horkheimer não pretendiam um total abandono das utopias iluministas, mas alertar para suas distorções e paradoxos (contradições, absurdos, contra-senso). Uma tentativa de resgatar o projeto original do modernismo foi retomada por Juergen Habermas, na segunda geração de Frankfurt, que inspirado pela mudança de paradigma lingüístico, procurou uma solução intersubjetiva no discurso e não mais na desgastada ontologia (desambiguação) do sujeito em sua relação com os objetos. Alguns exemplos de obra de artes:
As duas correntes mais destacadas do modernismo
1ª Arte Romântica-Itália Arte Romântica Realismo Realismo
Outras características: Impressionismo Expressionismo Arte Moderna Arte cubista
Claude Monet Edvard Munch Henri Matisse Futurismo Surrealismo Arte rupestre Realismo( Arte Universal) Neo realismo
Pré-histórica “Arte pela arte” Bibliográficas ADORNO, Th. W. O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição; trad. Luiz J. Baraúna. – São Paulo: Abril Cultural, 1983. ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento; trad. Guido A. de Almeida. – Rio de Janeiro: Zahar, 1985.