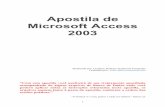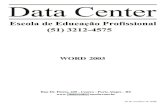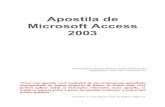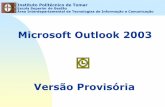Apostila-FormasVida-2003
Transcript of Apostila-FormasVida-2003
FERNANDO ROBERTO MARTINS & MARCO ANTNIO BATALHA
FORMAS DE VIDA, ESPECTRO BIOLGICO DE RAUNKIAER E FISIONOMIA DA VEGETAOPADRONIZAR O SMBOLO QUE REPRESENTA CADA FORMA DE VIDA, POIS EM CADA TABELA OU DIAGRAMA, O SMBOLO EST DIFERENTE.
Texto de apoio apresentado aos alunos da disciplina BT-682 Ecologia Vegetal do Curso de Cincias Biolgicas Bacharelado Modalidade Ambiental
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE BIOLOGIA DEPARTAMENTO DE BOTNICA FEVEREIRO DE 2001
Espectro biolgico de Raunkiaer
FORMAS DE VIDA, ESPECTRO BIOLGICO DE RAUNKIAER E FISIONOMIA DA VEGETAO
RESUMO (Formas de vida, espectro biolgico de Raunkiaer e fisionomia da vegetao): Faz-se um apanhado do desenvolvimento dos conceitos de forma de planta e fisionomia da vegetao. Prope-se o sistema de Raunkiaer para classificar formas de vida das plantas vasculares terrcolas, devido sua coerncia e simplicidade. Os sistemas de formas de vida e de classificao da rea foliar de Raunkiaer so apresentados dentro dos pontos de vista histrico e prtico. Do ponto de vista histrico, so apresentadas as hipteses que Raunkiaer admitiu para embasar seus sistemas e so comentados seus desdobramentos, alcances, limitaes e algumas modificaes. Do ponto de vista prtico, faz-se a distino entre o espectro biolgico florstico e o vegetacional e sugerem-se maneiras de aplic-los, analis-los matematicamente e interpret-los ecologicamente. As principais dificuldades em sua aplicao so comentadas, apresentando-se exemplos de espcies ocorrentes no Brasil.
ABSTRACT (Raunkiaers life-forms, biological spectrum, and vegetation physiognomy): A sketch is made of the historical development of the concepts of plant form and vegetation physiognomy. Raunkiaers system is proposed to classify terrestrial vascular plant life-forms due to its coherence and simplicity. Raunkiaer's life-form and leaf-area systems are presented from both historical and practical points of view. From the historical point of view, the hypotheses Raunkiaer assumed to build his systems are presented, and their implications, scope, constraints, and some modifications are commented. From the practical viewpoint, a distinction is made between the floristic and the vegetational biological spectra, and suggestions are made of how to apply the systems, analyse the data statistically, and interpret the results ecologically. The main difficulties arising from their application are commented with examples from species occurring in Brazil.
2
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
Introduo Quando olhamos para uma paisagem que ainda seja coberta com vegetao natural, podemos distinguir, por exemplo, um campo, uma floresta ou uma vereda, ou seja, as diferentes fisionomias da vegetao. O que se entende por fisionomia? A fisionomia a aparncia geral, grosseira, da vegetao, resultante do predomnio de plantas com uma certa forma, como, por exemplo, erva, arbusto, rvore, etc. (Cain & Castro 1959). O conceito de fisionomia da vegetao foi introduzido por Alexander von Humboldt, em 1805, logo aps ter voltado de suas viagens s regies equatoriais (Pavillard 1935). At aquela poca, no existia diferena entre flora e vegetao, esta era descrita atravs da listagem das espcies que a compunham e termos como plantas, vegetais e vegetao eram usados indistintamente. A distino entre flora e vegetao s surgiu em 1849, quando Thurmann (in Pavillard 1935) conceituou a flora de uma regio como uma lista nominal das espcies de plantas, que constituiriam um conjunto considerado de maneira abstrata, sem nenhuma diferena entre plantas abundantes ou raras. Em uma flora, todas as espcies so consideradas igualmente, tanto as raras quanto as freqentes, tanto as plantas grandes quanto as pequenas. A flora resulta de aes e eventos muito antigos e representa toda uma histria botnica (Miranda 1995). Thurmann (1849 in Pavillard 1935) conceituou a vegetao de uma regio como a camada de plantas que a recobre, resultante da combinao das espcies da flora em quantidades e propores diversas, em que as mais abundantes constituem o elemento principal, enquanto as mais raras passam quase despercebidas. A vegetao decorre do arranjo das espcies de plantas no espao como um resultado das complexas interaes biticas e abiticas atuando no tempo e no espao. A vegetao pode ser caracterizada por meio de descritores qualitativos (fisionomia, por exemplo) e quantitativos (descritores da estrutura da vegetao, como densidade, estratificao, etc.) e pode modificar-se em conseqncia de influncias atuais (Miranda 1995). Se a fisionomia da vegetao resulta do predomnio de uma ou poucas formas de plantas, ento, para estudar a fisionomia da vegetao, ou fitofisionomia, h necessidade prvia de um sistema de classificao da forma das plantas. Humboldt importou (Pcheux & Fichant 1971) o conceito de fisionomstica (ou fisionmica ou fisionomia) de Johann Kaspar Lavater, que, entre 1775 e 1778, publicara na Alemanha um livro em quatro volumes sobre os traos faciais humanos e suas relaes com o carter (Beck 1987). Lavater afirmou que formas externas do rosto de uma pessoa poderiam3
Espectro biolgico de Raunkiaer
indicar caractersticas internas relacionadas ao seu carter, chamando de fisionomia (ou fisionmica ou fisionomstica) o estudo dessas relaes. Com o tempo, a palavra fisionomia passou a significar os traos faciais gerais de uma pessoa. Mas, quais so os caracteres da vegetao que poderiam ser considerados anlogos aos traos faciais humanos e permitiriam descrever uma fisionomia da vegetao? Humboldt juntou o conceito de fisionomia com o de forma ou tipo ou essncia de Aristteles (Beck 1987). Para Aristteles, tudo o que existe seria constitudo por forma, sendo a forma a realidade acabada da matria e esta, a possibilidade da forma. A forma no seria apenas o formato final de uma poro de matria, mas a fora uma necessidade, um impulso interno que modelaria a matria visando a um formato com um propsito especfico, seria a realizao de uma capacidade potencial da matria, a soma dos poderes existentes em qualquer coisa a fazer, ser ou tornar-se. A natureza seria a conquista da matria pela forma, a marcha constante da vida (Durant 1996). Como era o contexto terico em que Humboldt juntou os conceitos de forma e fisionomia? Humboldt era amigo de Johann Wolfgang von Goethe, filsofo que participou de um movimento conhecido como Filosofia Naturalista ou Metafsica da Natureza, na Alemanha do sculo XVIII. Um dos pontos fundamentais dessa filosofia era o conceito do tipo ideal (Stamm de Kant, ou Urtyp de Goethe), algo que no existia no mundo real, mas que funcionava como uma idia reguladora do raciocnio. O tipo ideal teria sido inicialmente criado pelo Esprito do Universo. A idia do tipo ideal poderia ser inferida a partir da observao de que grupos inteiros de seres orgnicos tinham a mesma unidade de plano estrutural do corpo. Da resultava que todas as criaturas vivas seriam variantes de um ou poucos modelos ou projetos ideais e gerais, criados pelo Esprito do Universo. Na dcada de 1780, Goethe pesquisou qual seria o modelo ou projeto ideal do mundo vegetal, com base em que, com o conhecimento de tal modelo e com a respectiva chave nas mos, ficaremos capacitados a produzir uma variedade infinita de plantas. Sero elas, num sentido estrito, vegetais lgicos; em outras palavras, mesmo que no tivessem vida no mundo real, poderiam vir a existir. Goethe considerou as vrias espcies de plantas como modificaes lgicas de um nico tipo ideal (Urtyp). Acreditava-se que o Esprito do Universo estava plenamente manifesto na mente humana. Ento, os processos lgicos da razo deveriam representar o desenvolvimento da natureza. Com base nisso, Goethe sugeriu, em 1795, que haveria um nico tipo ideal estrutural para o mundo vegetal e outro para o mundo animal (Mason 1964). O advento do Romantismo na Alemanha e da Revoluo Francesa, em 1789, principalmente, e tambm um melhor entendimento dos fsseis
4
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
modificaram profundamente a noo de tipo ideal, ao enfatizarem uma percepo do mundo como em um permanente fluxo histrico, alterando radicalmente a idia de tempo. Na Biologia, o tipo ideal passou a ser no mais apenas uma idia reguladora do raciocnio da Metafsica, mas a estrutura bsica arquetpica de grupos de organismos de mesma filognese (Lenoir 1978). Humboldt (1807) props a tipificao de quinze (na verso francesa) ou dezessete (na verso alem) formas vegetais principais (Hauptformen), s quais se reduz a maior parte das outras e que representam ora famlias ora grupos mais ou menos anlogos entre si. A fisionomia da vegetao seria imposta pelos traos dominantes de uma ou poucas formas dos vegetais, que poderiam ter, por exemplo, forma de palmeira, de bananeira, de cacto, de malvcea, de mimosa, de musgo, de grama, etc. (Shimwell 1971). Humboldt (1807) escreveu: Trata-se dos grandes contornos que determinam a fisionomia da vegetao e da analogia de impresso que recebe o contemplador da natureza. (...) da beleza absoluta das formas, da harmonia e do contraste que surgem de seu [da vegetao] conjunto que consiste o carter da natureza desta ou daquela regio. Apesar de ser uma tentativa de separar a fisionomia da taxonomia, a denominao das formas vegetais de Humboldt ainda se prendia aos nomes dos txons. As formas vegetais estabeleceriam as divises fisionmicas da vegetao mundial. Dessa maneira, Humboldt criou a disciplina Geografia das Plantas, a cincia que considera os vegetais sob os aspectos de suas associaes locais nos diferentes climas (in Acot 1990) e colocou a vegetao, e no mais a espcie, como o objeto, a unidade de estudo. Martius (1824) foi um dos primeiros a aplicar os conceitos de fisionomia da vegetao e de forma de planta, descrevendo a vegetao do Brasil. Considerou a fisionomia da vegetao como um componente da paisagem e como indicativo das condies predominantes. Para Martius (1824), as formas das plantas e a fisionomia da vegetao teriam, portanto, um carter funcional, diferindo das idias de Humboldt. A fisionomia da vegetao do Brasil seria decorrente do predomnio de certos grupos taxonmicos com certa forma. As variaes fisionmicas seriam como variaes sobre um mesmo tema, em que o tamanho das plantas e a densidade da vegetao teriam grande importncia. As variaes da fisionomia da vegetao do Brasil seriam condicionadas pelas variaes do relevo e da densidade da rede hidrogrfica, em que a variao da latitude seria muito mais importante que a proximidade do mar (variao da longitude). Distinguiu vrias formas de plantas, como ervas (destacando relva tiliforme1, gramnea em tufo2, gramnea arbustiforme, bromlia, tilndsia,A palavra tiliforme vem de tilha, que significa cho, assoalho. Neste caso, refere-se erva baixa, que recobre todo o cho, como se fosse um tapete. Tambm se usa a expresso erva relvosa como sinnimo de erva tiliforme. 51
Espectro biolgico de Raunkiaer
parasitas e erva litiforme, isto , rosulada), arbusto, rvore (baixa ou alta, destacando o pinheiro brasileiro), palmeira, trepadeira (destacando os cips como trepadeiras lenhosas), canela-de-ema (forma de Vellozia) e cacto em candelabro. Porm, no definiu cada forma de planta. Classificou a fisionomia da vegetao brasileira em floresta e campo (toda vegetao que no forma propriamente uma floresta). Dividiu as florestas em: a) florestas midas (sempre verdes, como a oriental, atlntica ou mata geral e a amaznica ou mata virgem); b) florestas com rvores decduas entremeadas, como a floresta ocidental; c) florestas secas decduas (caatinga); d) florestas espordicas (capes) em regio de campo; e e) capoeira (vegetao espessa de rvores e arbustos de rpido crescimento que revestem reas onde a mata original foi cortada). Dividiu os campos em vrias categorias, como campo limpo, campo fechado, campo seco decduo, tabuleiro, matagal, palmeiral, vrzeas brejosas, pantanais e banhados. Descreveu cada fisionomia a partir das formas e grupos taxonmicos predominantes. Em 1838, Grisebach estabeleceu o conceito de formao vegetal, que desenvolveu e sistematizou em l872. Grisebach (1838 in Whittaker 1962) usou o termo formao para designar um grupo de plantas com um carter fisionmico definido, como um prado, uma floresta, etc., podendo ser caracterizado por uma nica espcie social dominante, ou por um conjunto de espcies dominantes pertencentes a uma famlia, ou por um agregado de espcies de txons diferentes, mas com alguma peculiaridade comum, como, por exemplo, um prado alpino, que consiste quase inteiramente de ervas perenes. As formaes vegetais seriam reconhecidas atravs de sua fisionomia, que seria decorrente do predomnio de certas formas vegetais dominantes e estas seriam dependentes do tipo de clima (Cain 1950). O sistema de Grisebach de 1838 tentava tambm denominar as formas de plantas no mais com os nomes de grupos taxonmicos, como fizera Humboldt, mas de modo independente. Porm, ainda conservava muitos nomes vindos da taxonomia. Assim, no incio, tanto a fisionomia quanto a composio taxonmica eram usadas para caracterizar unidades de vegetao (Whittaker 1962). Em 1872, Grisebach (in Whittaker 1962) modificou seu conceito, passando a usar a palavra formao para designar cada um dos grandes tipos fisionmicos de vegetao mundial. O sistema de Grisebach descrevia sessenta formas vegetais (Pavillard 1935) e tentava mostrar uma ligao entre a forma externa das plantas e as condies do ambiente, especialmente do clima (Warming 1909). Kerner (1863 in Conard 1951), como Martius em 1824, usou poucas formas2
Essa forma recebe o nome de graminide cespitoso, isto , que forma touceiras, deixando entre elas um espao de solo nu. 6
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
bsicas, que saltam aos olhos primeira vista de uma paisagem e que geralmente do a expresso caracterstica de toda a formao vegetal. No livro publicado em 1863 sobre a vida vegetal na bacia do Danbio (in Conard 1951), Kerner props nomes sem relao com a taxonomia e definiu como formas bsicas: rvore, arbusto, erva alta, erva, planta-folha, planta-carpete, trepadeira, plantacorda, colmo, graminide, crustosa e esponjosa. Em 1882, Vesque publicou um trabalho em que comparava a anatomia de muitas espcies de plantas e discutia o conceito de espcie vegetal do ponto de vista de suas adaptaes s condies do ambiente. Nesse artigo, Vesque definiu um novo termo efarmonia para referir-se ao estado da planta adaptada e chamou de efarmose o processo de adaptao dos organismos expostos a novas condies. Em 1885, Reiter introduziu o termo ecologia nos estudos da vegetao para referir-se s relaes recprocas das plantas entre si e com o meio externo. Embora no tenha definido o que entendia por Ecologia, usou-a com o mesmo sentido dado por Haeckel, em 1886, de Ecologia como uma cincia independente (Warming 1909). A partir do trabalho de Reiter de 1885, a forma das plantas passou a ser encarada no mais como algo esttico, mas como um efeito, significando o resultado da adaptao evolutiva do organismo s presses seletivas do ambiente e originando a noo do aspecto funcionalmente adaptativo da forma de vida da planta (Pavillard 1935). Durante todo esse tempo, vrios sistemas de classificao da forma dos vegetais terrcolas surgiram. Anda hoje, continuam a surgir, baseados em caractersticas ora predominantemente funcionais ora predominantemente fisionmicas. Tais abordagens estabelecem grandes controvrsias entre efarmonistas e fisionomistas, que continuam at hoje, embora com outras denominaes. Um desses sistemas de maior coerncia interna e de mais ampla aceitao o de Raunkiaer. Os objetivos deste trabalho so apresentar os sistemas de formas de vida e de classificao da rea foliar de Raunkiaer, comentar seus alcances, limitaes e significados e orientar sua aplicao prtica. Ser adotada uma abordagem ampla dos atributos fisionmicos (Martins 1990) da comunidade, de modo que os atributos considerados aqui como fisionmicos podem ser considerados por outros autores como fisionmico-funcionais, fisionmico-estruturais, ou mesmo exclusivamente funcionais ou exclusivamente estruturais.
7
Espectro biolgico de Raunkiaer
Conceitos bsicos sobre o sistema de formas de vida de Raunkiaer Para estabelecer um sistema de classificao de formas de vida de plantas, necessrio aceitar certas premissas, das quais as principais so (Cain 1950): a) as plantas tm diferentes amplitudes em seus limites de tolerncia, isto , elas so diferentemente limitadas em sua capacidade de resistir s restries ambientais; b) h uma correlao entre morfologia e adaptao; e c) uma planta que tem sucesso em sobreviver representa uma integrao fisiolgica automtica de todos os fatores de seu ambiente. Em 1904, Raunkiaer props um sistema provisrio de classificao de formas de vida vegetal, tendo por base as idias de Drude. Em 1887, 1889, 1890 e 1896, Drude teve publicados seus livros com um ponto de vista biolgico-geogrfico baseado em duas questes principais: 1) Qual o papel funcional que uma certa espcie de planta desempenha na vegetao de um dado lugar?; 2) Como tal espcie completa seu ciclo de vida sob as condies prevalecentes em seu hbitat? Drude notou que os caracteres da planta que ele deveria considerar como os mais importantes para responder a tais questes eram o tempo de vida dos rgos, as medidas protetoras contra injrias durante o perodo de repouso e a posio da gema vegetativa no eixo principal que sofre hibernao (Warming 1909). O sistema de Raunkiaer baseou-se no grau de proteo conferido s gemas vegetativas da planta, proteo que permitiria s gemas sobreviverem a uma estao climtica adversa, possibilitando a sobrevivncia da planta por brotamento na estao climtica propcia (Braun-Blanquet 1979). Se no houvesse uma estao climtica desfavorvel, ou se esta fosse muito branda, as gemas vegetativas poderiam ficar expostas totalmente atmosfera, ou apresentar um mnimo de proteo. Mas, se houvesse uma estao climtica desfavorvel, cada vez mais severa em diferentes climas, as gemas vegetativas ficariam cada vez mais protegidas, at ficarem enterradas abaixo da superfcie do solo, ou protegidas no interior das sementes. Tal sistema foi depois aperfeioado e complementado pelo prprio Raunkiaer e por outros autores. Raunkiaer considerou trs aspectos fundamentais para a seleo dos caracteres a serem usados no reconhecimento e classificao das relaes entre formas de vida das plantas e o clima (Cain 1950): a) o carter deveria ser estrutural e essencial, representando uma adaptao morfolgica importante; b) o carter deveria ser suficientemente bvio, de modo que a forma de vida da planta pudesse ser facilmente atribuda; c) todas as formas de vida usadas deveriam ter uma natureza tal que constituiriam um sistema homogneo, representando um nico ponto de vista ou aspecto das
8
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
plantas. Raunkiaer tinha inteno de que o sistema devesse ser fcil de usar, pudesse ser aplicado a exsicatas de herbrio e permitisse quantificao e tratamento estatstico dos dados (Pavillard l935)3. Assim, a Fitogeografia poderia beneficiar-se da introduo de mtodos de anlise quantitativa, tornando-se menos confusa e mais objetiva e permitindo tanto o teste de hipteses j levantadas quanto a proposio de novas hipteses. Outra idia de Raunkiaer era uma correspondncia biunvoca entre formas de vida e clima: se as formas de vida representam adaptaes a condies climticas, ento as condies climticas predominantes podem ser indicadas pelo predomnio de certas formas de vida. Dessa maneira, Raunkiaer criou a noo de fitoclima e props a confeco de um espectro biolgico para express-lo. O espectro biolgico a representao proporcional, em porcentagem, do nmero de espcies da flora de uma determinada regio que pertence a cada forma de vida. Se a flora de cada regio pode ser representada por um espectro biolgico, ento no h exclusividade das formas de vida, isto , no h uma forma de vida que s ocorra num certo tipo climtico e mais de uma forma de vida ocorre associada a esse tipo climtico. Para facilitar comparaes entre espectros biolgicos, Raunkiaer props um espectro biolgico normal, correspondente flora vascular mundial, para melhor caracterizar os desvios de um dado espectro em relao ao normal. Raunkiaer selecionou 1000 espcies da flora mundial, de modo a representar uma amostra aleatria e, a partir dessa amostra, construiu o espectro biolgico normal (Cain 1950). Ento, comparando o espectro biolgico de cada regio com o espectro biolgico normal, Raunkiaer distinguiu, com base nos desvios em relao ao espectro biolgico normal, quatro fitoclimas: a) fitoclima faneroftico (clima equatorial de carter ocenico4 dos trpicos quentes midos); b) fitoclima teroftico (clima mediterrneo, de inverno chuvoso e vero seco, e dos desertos tropicais e subtropicais); c) fitoclima hemicriptoftico (clima temperado das latitudes mdias, incluindo as florestas aciculifoliadas, florestas decduas e estepes mais midas); e d) fitoclima cameftico (clima rtico das altas latitudes e altitudes). Raunkiaer delimitou regies fitoclimticas traando linhas que ligavam floras com espectros biolgicos semelhantes e chamou tais linhas de isobicoras. Raunkiaer era dinamarqus, e o conjunto de seus trabalhos referentes a formas de vida e suas aplicaes foi traduzido para o ingls sob a forma de um livro (Raunkiaer 1934).Da a importncia de registrar corretamente as caractersticas da planta e de seu ambiente, quando da coleta da planta no campo. 4 O carter ocenico, ou oceanidade, de um clima ope-se ao carter continental, ou continentalidade. Num clima ocenico, os elementos climticos (chuva, temperaturas, etc.) variam muito pouco durante os meses do ano, isto , apresentam pequenas amplitudes anuais. Num clima continental, a variao dos elementos climticos apresenta uma grande amplitude entre os meses do ano. 93
Espectro biolgico de Raunkiaer
Atualmente, a noo de estao desfavorvel no est ligada apenas ao clima. Durante a estao desfavorvel, as plantas podem sofrer diferentes modificaes, que podem variar desde a morte total ou parcial da planta at modificaes do sistema fotossinttico, incluindo parada ou forte diminuio do crescimento, alteraes da forma das folhas ou da planta e modificaes metablicas. O conjunto de tais modificaes possibilita a sobrevivncia da planta durante a estao desfavorvel e chamado de pausa (Sarmiento 1984). O conceito de estao desfavorvel muito relativo e depende totalmente do hbitat e do ambiente. No conceito de estao desfavorvel, est implcita a noo de uma variao mais ou menos peridica do ambiente, com alternncia entre favorabilidade e desfavorabilidade. Assim, a estao desfavorvel pode ser o frio do inverno dos climas temperados e polares, a seca do outono-inverno dos climas tropicais, a seca do vero dos climas mediterrneos, etc. A estao desfavorvel pode ser intensificada ou modificada, isto , modulada pela ocorrncia de outros eventos, como, por exemplo, o fogo, que geralmente ocorre associado estao seca. Plantas que vivem em hbitats diferentes de um mesmo ambiente podem sofrer a estao desfavorvel pela ao de eventos muito diferentes. Por exemplo, em uma plancie inundvel, como o Pantanal de Mato Grosso, onde h uma sucesso circanual de fases hdricas, conhecidas como enchente, cheia, vazante e seca, a estao desfavorvel pode ser a seca para as plantas aqcolas, mas tambm pode ser a cheia para as terrcolas.
10
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
Classes de formas de vida de Raunkiaer O sistema de formas de vida de Raunkiaer foi proposto para ser aplicado s plantas vasculares. Num primeiro passo, as espcies de uma certa flora so agrupadas em classes de formas de vida. Em seguida, dentro de cada classe, as espcies so atribudas a grupos de formas de vida e, dentro de cada grupo, podem ser atribudas a subgrupos. Os principais grupos terfitos, gefitos, hemicriptfitos, camfitos e fanerfitos (Figura 1) so comentados a seguir. Terfitos5 (Th) so vegetais que completam seu ciclo de vida, desde a germinao at a maturao de seus frutos, dentro de uma mesma estao favorvel e cujas sementes sobrevivem estao desfavorvel protegidas pelo substrato. Representam o mximo grau de proteo gema vegetativa, pois esta est presente no prprio eixo embrionrio e protegida pelos envoltrios da semente, que pode apresentar processos de quiescncia ou dormncia. Apresentam ampla distribuio geogrfica, provavelmente em decorrncia de sndromes e modos eficientes de disperso. Ocorrem principalmente em desertos, em regies estpicas6 quentes (Braun-Blanquet 1979), em regies que recebem elevada densidade de fluxo de radiao global (Daget 1980), em regies em que o vero seco. Em suma, os terfitos so predominantes em climas em que h uma severa restrio hdrica, em que a estao favorvel curta ou imprevisvel, porm so muito pouco representados na tundra (Cain 1950). Sob essa condio, os terfitos representam uma estratgia de escape, que resiste deficincia hdrica sobrevivendo ao perodo seco sob a forma de sementes dormentes (Crawley 1986). A maior parte das espcies invasoras de cultura pertence aos terfitos, provavelmente em decorrncia de sua origem fitogeogrfica (de regies estpicas) e tambm do aumento da densidade de fluxo de radiao global que atinge o solo de culturas abertas (Daget 1980), ou porque a forma teroftica talvez seja uma estratgia de sucesso em reas antropicamente perturbadas. Um exemplo tpico o pico Bidens pilosa. Gefitos (G) apresentam gemas vegetativas no sistema subterrneo. Este representa uma estrutura de armazenamento e brotamento (alm de fixao, absoro e conduo), cujas gemas,O sufixo fito vem do grego (phyto, que significa planta), uma palavra masculina, o que deve ser mantido em portugus. Dessa forma, deve se escrever terfito e no terfita. Isso vlido para os demais casos. 6 Uma estepe um prado graminide estacional, com ocorrncia de uma estao biologicamente seca. Prado uma vegetao herbcea, sem elementos lenhosos. Graminide uma forma de erva com folhas lineares e eretas, sem restrio quanto ao grupo taxonmico, podendo ser Poaceae, Xyridaceae, Eriocaulaceae, Amaryllidaceae, Liliaceae, etc. Em Biogeografia, uma estao climtica biologicamente seca definida como aquela em que a precipitao (P) no ms5
11
Espectro biolgico de Raunkiaer
enterradas no solo, ficam pouco vulnerveis estao desfavorvel. Aquelas estruturas subterrneas podem ser bulbos ou cormos, tubrculos, rizomas, sboles ou mesmo razes gemferas. Durante a estao desfavorvel, todo o sistema areo dos gefitos seca e a planta passa completamente despercebida ao observador, a menos que este cave o solo procura daquelas estruturas7. No incio da estao ativa (estao favorvel), os gefitos brotam graas s reservas acumuladas em seu sistema subterrneo e restauram seu sistema areo, podendo florescer e frutificar. Gefitos ocorrem principalmente em climas com restrio hdrica estacional, secos e quentes, que apresentam uma estao favorvel curta, como em desertos quentes. Tambm so comuns em climas mediterrneos (com seca no vero e chuva no inverno), em algumas estepes e sob a floresta temperada decdua, na qual brotam rapidamente antes de o dossel da floresta estar completamente coberto de folhas (Cain 1950). Representam tambm uma estratgia de escape deficincia hdrica, sobrevivendo ao perodo seco pela perda da superfcie transpiratria do sistema areo e manuteno de um sistema subterrneo de reserva e brotamento (Crawley 1986). Um exemplo tpico a cebola Alium cepa. No sistema original de Raunkiaer, os gefitos formavam um grupo dentro da classe dos Criptfitos (Cr), que incluam tambm plantas aquticas: os helfitos (fixos no fundo, com eixos caulinares parcialmente emergentes, ou apenas as folhas emergindo para fora da superfcie da gua) e os hidrfitos (submersos ou flutuantes, com apenas as flores emergentes). Apenas essas duas formas revelaram-se inadequadas para classificar toda a variao das plantas aquticas, e essa classificao foi abandonada, mas foram mantidos os criptfitos terrcolas (gefitos). Hemicriptfitos (H) apresentam gemas vegetativas tambm no sistema subterrneo, mas no nvel do solo e no abaixo dele como os gefitos. Freqentemente, tais gemas so protegidas por escamas, folhas ou bainhas foliares vivas ou mortas. Apresentam grande variao de formas, podendo formar touceiras ou rosetas, ter hbito reptante ou trepador, ou apresentar um nico eixo areo ereto. Graas variedade de formas, os hemicriptfitos so manifestamente dominantes nas regies de latitudes mdias, isto , excluindo as regies secas, as midas quentes e as polares extremas, os hemicriptfitos so dominantes em todas as floras mundiais. So particularmente abundantes em florestas temperadas decduas, pradarias temperadas e nas tundras, exceto nas
menor que o dobro da temperatura mdia no ms (T) e em que no ms anterior choveu menos que 100 mm (Rizzini & Pinto 1964). 7 Muitos autores, geralmente biogegrafos, chamam tais plantas de anuais devido ao desaparecimento da parte area. Na realidade, so plantas perenes segundo o conceito da Fitodemografia (Silvertown & Doust 1993). Assim, apenas os terfitos seriam realmente anuais. 12
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
condies mais extremas (Cain 1950). Durante a estao inativa (estao adversa), o sistema areo dos hemicriptfitos seca e, alm de as gemas ficarem protegidas no nvel do solo pelas estruturas mencionadas acima, podem tambm ser protegidas pela camada de serapilheira, ou podem ficar protegidas por uma camada de neve, que funciona como isolante. Hemicriptfitos ocorrem em climas onde h uma estacionalidade forte, como nos climas temperados frios. Ocorrem tambm em altas altitudes, em montanhas, acima da linha de rvores8. Espcies de cerrado que apresentam xilopdio e que perdem periodicamente (na estao adversa) seu sistema areo foram consideradas hemicriptfitos por Mantovani (1983). Como perdem todo o seu sistema areo durante a estao desfavorvel, os hemicriptfitos passam despercebidos ao observador, a menos que este procure pelas bases dos ramos secos ou cave o solo procura do sistema subterrneo3. Um exemplo tpico a cenoura Daucus carota. Em seu sistema original, Raunkiaer dividiu os hemicriptfitos em protohemicriptfitos (sem roseta), hemicriptfitos parcialmente rosulados (o escapo floral apresenta folhas na base e brcteas na parte apical) e hemicriptfitos rosulados (o escapo floral s apresenta brcteas). Camfitos (Ch) apresentam gemas vegetativas no sistema areo, acima da superfcie do solo, porm abaixo de uma certa altura, que varia segundo diferentes autores; ou, se apresentam alturas maiores que aquela, seus ramos secam e caem periodicamente (na estao adversa), de modo que a planta se reduz a um sistema areo no mais alto que 25 cm (Raunkiaer 1934) ou 50 cm (Dansereau 1957). Na estao adversa, as gemas vegetativas dos camfitos ficam protegidas pelos restos mortos do sistema areo, ou pela camada de serapilheira, ou por uma camada de neve que funciona como isolante, ou ainda pelo sistema areo muito denso, que pode permanecer vivo (se a planta for menor que 25 ou 50 cm de altura e no seca periodicamente). Assim, os camfitos apresentam estratgias de sobrevivncia tanto de escape (as que mostram regresso peridica do sistema areo) como de tolerncia ou evitao (as que no mostram aquela regresso) e, por isso, constituem uma classe heterognea e numerosa de formas de vida, ocorrendo em vrios tipos de vegetao. Geralmente, ocorrem em ambientes submetidos a grande exposio climtica, onde predominam fortes ventosA linha de rvores (tree-line, timber-line, em ingls) representada por um nvel, numa alta montanha, acima do qual no ocorrem mais rvores; ou por uma latitude alm da qual tambm no ocorrem mais rvores. Espcies arbreas ocorrentes em altitudes ou latitudes menores mostram reduo progressiva de tamanho ao aproximarem-se da linha de rvores, transformando-se em arbustos e plantas ans (Daubenmire 1974). No Nordeste do Brasil, no domnio das caatingas, podem ocorrer linhas de rvores invertidas: nas maiores altitudes de elevaes ocorrem florestas serranas cuja umidade condicionada por chuvas de conveco forada (as reas de brejo), mas, em alguns locais, medida que se desce a encosta, a umidade diminui, at que desaparecem as rvores e se entra na caatinga arbustiva. 138
Espectro biolgico de Raunkiaer
frios e longos perodos de seca, chamados de desertos e semidesertos frios (Odum 1985), e na regio rtica (Crawley l986). Assim, so muito freqentes em altas latitudes e altitudes , mas tambm so abundantes em florestas subtropicais sempre verdes, em florestas abertas mediterrneas e em estepes mais secas (Cain 1950). Em seu sistema original, Raunkiaer dividiu os camfitos em subarbustivos (os ramos produzidos na estao favorvel so eretos e herbceos, morrendo na estao desfavorvel), passivos (sarmentos cujas pores apicais do caule so eretas), ativos (sarmentos com pices caulinares no ascendentes) e almofadas ou coxins (arbustos lenhosos com eixos areos muito juntos e compactos, de comprimentos semelhantes irradiando-se de uma base comum). Fanerfitos (Ph) apresentam gemas vegetativas acima de 25 cm (Raunkiaer 1934) ou 50 cm (Dansereau 1957) de altura, em sistemas areos bem expostos atmosfera. Geralmente, so arbustos ou rvores (Cain 1950). Como geralmente as flutuaes dos elementos climticos aumentam com a distncia ao solo (at uma certa altura), traduzindo-se em maiores restries sobrevivncia do sistema areo da planta, os fanerfitos so subdivididos em grupos de acordo com sua altura (Cain & Castro 1959). Assim, em climas quentes e midos de grande oceanidade4, grandes rvores predominam na vegetao, provavelmente em decorrncia de um uso competitivo de maiores quantidades de recursos por indivduos maiores. Nas regies de florestas temperadas decduas ou de florestas temperadas aciculifoliadas, em que a estao desfavorvel pouco severa, tambm h predomnio de grandes rvores na vegetao e na flora vascular. Em climas de carter continental, apresentando certa heterogeneidade estacional, excluindo-se os desertos quentes, rvores pequenas ou arbustos ainda podero predominar na vegetao, mas a flora vascular como um todo ser constituda predominantemente por espcies com outras formas de vida, como os hemicriptfitos (Crawley 1986). Assim, os fanerfitos constituem uma classe muito numerosa e podem apresentar tambm vrias formas. Alm de serem agrupados de acordo com sua altura, os fanerfitos podem receber mais especificaes, referentes a seu carter decduo ou pereniflio e presena de estruturas protetoras das gemas vegetativas. Este ltimo carter no facilmente determinado, pois h uma variao contnua do grau de proteo da gema, que pode ser conferido pela presena de plos, escamas, catafilos, estpulas, ou simplesmente por um tufo de primrdios foliares ou de folhas (jovens ou velhas, pequenas ou grandes). A perda de folhas pode ser encarada como uma estratgia de escape deficincia hdrica, mas tal interpretao deve ser feita com cuidado (Givinish 1984), pois pode estar relacionada fertilidade do solo (Matthes et al. 1988) e s estratgias reprodutivas (Martins 1982). No sistema original, Raunkiaer dividiu os fanerfitos em 15 subtipos, incluindo as14
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
trepadeiras, as parasitas e os epfitos: fanerfitos herbceos (nico subtipo), fanerfitos pereniflios ou decduos com ou sem cobertura da gema (12 subtipos de acordo com a altura), fanerfitos com caule suculento (nico subtipo) e fanerfitos epifticos (nico subtipo).
fanerfito
camfito
hemicriptfito
criptfito
Figura 1 Formas de vida segundo a classificao de Raunkiaer (1934).
DAR EXEMPLOS DE ESPECTROS BIOLGICOS MUNDIAIS. INCLUIR A TABELA DO TRABALHO PUBLICADO NA REVISTA FLORA. VERIFICAR SE OS ESPECTROS FORNECIDOS POR CAIN (1950) CONSTAM DAQUELA TABELA. SE NO CONSTAM, DEVEM SER INCLUDOS. O espectro normal
15
Espectro biolgico de Raunkiaer
Como, ao elaborar seu sistema de classificao de formas de vida das plantas, Raunkiaer (1934) tencionava utiliz-lo para comparar o crescimento das plantas de vrias regies, ele achou necessrio obter uma base comum de comparao. Assim, ele procurou uma maneira de comparar o espectro biolgico de cada flora e decidir se o espectro em questo pertencia a um ou outro fitoclima. Os espectros poderiam ser comparados com o espectro biolgico de toda a flora terrestre, espectro este que ele chamou de espectro normal. Naturalmente, como no seria possvel obter a forma de vida de todas as espcies de fanergamas da Terra, Raunkiaer se utilizou do Index Kewensis e escolheu nele sistematicamente 1000 espcies. Em 1908, ele determinou a forma de vida de 400 espcies e, em 1916, das restantes. Raunkiaer encontrou a seguinte proporo: 46% de fanerfitos, 9% de camfitos, 26% de hemicriptfitos, 6% de criptfitos e 13% de terfitos (Figura 2). Essa distribuio, portanto, ele considerou como o espectro normal, que seria representativo da distribuio das formas de vida na flora mundial. Se, em uma dada flora, a porcentagem de uma determinada forma de vida for maior do que a esperada de acordo com o espectro normal, ento o fitoclima da regio em questo seria caracterizado por essa forma de vida. Por exemplo, na figura 3, h espectros biolgicos de vrios tipos vegetacionais. Comparando estes com o espectro normal, chegamos concluso de que o deserto est situado sob um fitoclima teroftico, a floresta pluvial tropical, sob clima faneroftico, e assim por diante. Como podemos comparar um dado espectro com o espectro normal de uma maneira quantitativa? Um modo de se comparar uma distribuio de freqncias observada com outra esperada por meio do teste de qui-quadrado (Zar 1999). Podemos comparar o espectro biolgico da rea em questo com o espectro normal e testar a hiptese nula de que ambos so iguais. Se o teste no rejeitar a hiptese nula, ento os dois espectros so iguais; se o teste rejeitar a hiptese nula, ento o espectro da rea de estudo significativamente diferente do espectro normal. No exemplo 1, comparamos o espectro biolgico de uma rea de cerrado em Pirassununga (Batalha et al. 1997) com o espectro normal de Raunkiaer. O mesmo teste de qui-quadrado pode ser usado para comparar espectros biolgicos de duas reas entre si (Exemplo 2). INCLUIR TAMBM A IDIA DE ESPECTRO DE FREQNCIA DE RAUNKIAER. COMO COMPARAR MAIS DE DOIS ESPECTROS BIOLGICOS?
16
Martins, F. R. & Batalha, M. A.
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 fan cam hem cri ter
Figura 2 Espectro biolgico normal de Raunkiaer (1934). Legenda: fan = fanerfito, cam = camfito, hem = hemicriptfito, cri = criptfito, ter = terfito.
% de espcies
fan tundra floresta boreal campo temperado floresta decdua temperada vegetao mediterrnea deserto savana floresta pluvial tropical 0 25
cam
hem
cri
ter
50 % de espcies
75
100
ACRESCENTAR UMA BARRA CORRESPONDENTE AO ESPECTRO BIOLGICO NORMAL. Figura 3 Espectros biolgicos em vrias formaes vegetais segundo Raunkiaer (1934). Legenda: fan = fanerfito, cam = camfito, hem = hemicriptfito, cri = criptfito, ter = terfito.
17
Espectro biolgico de Raunkiaer
Exemplo 1 Comparando o espectro biolgico de uma determinada rea com o espectro normal de RaunkiaerSe quisermos comparar o espectro biolgico de uma determinada rea com o espectro normal de Raunkiaer para saber se eles diferem entre si, devemos utilizar o teste de qui-quadrado (Zar 1999). Como exemplo, usaremos um espectro biolgico encontrado em uma rea de cerrado em Pirassununga (Batalha et al. 1997), onde foram encontradas 358 espcies, distribudas da seguinte forma nas classes de formas de vida: Pirassununga no. de spp. % total 358 100 fan 151 42,18 cam 55 15,36 Hem 125 34,92 cri 4 1,12 ter 23 6,42
1. Calcule as freqncias esperadas para cada forma de vida, segundo o espectro normal de Raunkiaer. Para isso, multiplique a freqncia de cada forma de vida no espectro normal pelo total de espcies encontradas em Pirassununga. Espectro normal % total 100 fan 46,00 cam 9,00 Hem 26,00 cri 6,00 ter 13,00
18
p fan =
46 * 358 100
p cam =
9 * 358 100
p hem =
26 * 358 100
p cri =
6 * 358 100
p ter =
13 * 358 100
= 164,68
= 32,22
= 93,08
= 21,48
= 46,54
2. Construa uma tabela com o nmero encontrado de espcies e o esperado de acordo com o espectro normal. observado esperado total 358 358 fan 151 164,68 cam 55 32,22 Hem 125 93,08 cri 4 21,48 ter 23 46,54
3. Teste a hiptese nula de que os dois espectros so iguais pelo qui-quadrado. H0: EBpirassununga = EBnormal HA: EBpirassununga EBnormal Use a frmula
2 = i =1
5
( p i pi ) 2 , onde p a proporo observada em cada classe e p a proporo esperada. Assim: i i pi
2 =
(151 164,68) 2 (55 32,22) 2 (125 93,08) 2 (4 21,48) 2 (23 46,54) 2 + + + + 164,68 32,22 93,08 21,48 46,54
= 1,13 + 16,10 + 10,94 + 14,22 + 11,90 = 54,32 4. Encontre o valor crtico da distribuio qui-quadrado com o nmero de graus de liberdade do teste O nmero de graus de liberdade igual ao nmero de classes menos um, ou seja: gl = 5 1 = 4 Assim, procurando o valor crtico da distribuio qui-quadrado em uma tabela (Zar 1999), com 4 graus de liberdade e nvel de significncia () igual a 0,05, encontramos:2 0,05; 4 = 9,49
Como o valor do qui-quadrado encontrado (2 = 54,32) maior do que o valor crtico (2 = 9,49), o valor de P menor do que 0,05 (P