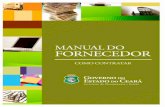BELO HORIZONTE 2013 - politicaemsaude.com.br · fornecedor (Exclusivo x Não exclusivo) e impacto...
Transcript of BELO HORIZONTE 2013 - politicaemsaude.com.br · fornecedor (Exclusivo x Não exclusivo) e impacto...
1
2º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM
SAÚDE
UNIVERSALIDADE, IGUALDADE E INTEGRALIDADE DA SAÚDE: UM PROJETO
POSSÍVEL
Classificação de Estoques na Saúde - Uma Abordagem Integrada
Lauro Barillari Luck de Castro
Associação Brasileira de Ensino Universitário - UNIABEU
BELO HORIZONTE
2013
2
“EFICIÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUES NA INDÚSTRIA DE
IMUNOBIOLÓGICOS: UMA APLICAÇÃO INTEGRADA”
TÍTULO RESUMIDO: CLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUES
RESUMO
Este artigo aborda um estudo sobre classificação de estoques de sobressalentes de
máquinas no Instituto Bio-Manguinhos, a maior indústria pública de imunobiológicos do País.
Os métodos ABC e Multicritério são aplicados em três principais linhas de envase. Cada uma
destas aplicações é analisada e, por fim, realiza-se de modo integrado o uso dos dois métodos
para verificação dos desvios, da complementaridade entre eles e do ganho na qualidade das
informações gerenciais.
Palavras-chave1: Planejamento em Saúde. Recursos em Saúde. Classificação de estoque.
INTRODUÇÃO
Este artigo deriva de um estudo sobre a classificação gerencial de sobressalentes de
máquinas industriais no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos (Bio),
unidade produtora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o maior fornecedor de
imunobiológicos do Brasil.
O objetivo é apresentar a importância da classificação dos estoques, a metodologia
utilizada e os resultados obtidos no estudo, que podem ser desdobrados e servir de base para
outros trabalhos.
Com as novas orientações sobre eficiência, registradas na Emenda Constitucional n°
19, e o novo cenário econômico, adotar uma metodologia eficaz para classificar e balancear
1 Palavras escolhidas em pesquisa DeCS. Descritor: Planejamento em Saúde\ Recursos em Saúde
(códigoD006295)
3
estoques, estes em quantidades cada vez menores, tornou-se importante para a absorção das
incertezas e a manutenção dos custos em níveis competitivos. O foco em investimentos
qualitativos, com maior retorno e no controle de custos passou também a ser mais presente no
setor público, assim como na iniciativa privada.
“As empresas estão buscando cada vez mais garantir uma determinada
disponibilidade de produto com o menor nível de estoque possível [...]” (WANKE, 2003,
p.11). Observa ainda, (WANKE, 2003, p.12) que o elevado custo de oportunidade do capital
tem tornado a posse e a manutenção de estoques mais caros e que os recursos disponibilizados
poderiam estar sendo aplicados em outros projetos com melhores taxas de retorno.
A importância estratégica deste tema é explicada, na medida em que o custo de
eventuais faltas por gerenciamento inadequado recai sobre a sociedade e os prejuízos são de
difícil mensuração.
A busca de melhorias na gestão dos estoques visa garantir a disponibilidade da sua
produção e a continuidade do fornecimento de imunobiológicos à rede de saúde pública no
Brasil.
Um estudo qualitativo das relações de causa-efeito realizado, em abril de 2010, no
qual foi aplicado o método da Árvore da Realidade Atual (ARA) apontou que “o modelo de
gestão de suprimento de peças inadequado” é uma das principais causas que determinam o
aumento do pedido de peças em processamento de compras em Biomanguinhos.
Em setembro de 2010, Bio realizou um projeto para discussão da interface entre as
áreas de Logística e Manutenção, em parceria com a COPPE/UFRJ e a UFSC/SC. A questão
norteadora do trabalho foi identificar e priorizar quais as ações necessárias para garantir o
atendimento de materiais necessários à execução das atividades de manutenção e obras.
4
O processo de priorização de materiais mal definido, o espaço saturado para
armazenamento dos materiais de manutenção e a falta de indicadores de gestão foram
destacados, pelo projeto, entre as 10 causas prioritárias para a solução do problema de
materiais de manutenção em geral.
Estas causas contribuem para uma visão preliminar a respeito do estado da arte da
gestão dos estoques de sobressalentes em Bio.
Como o custo político da falta costuma ser alto nas organizações, estima-se que parte
da indústria, inclusive as de grande porte, trabalha com estoque desbalanceado e
superestimado, sem a utilização de uma metodologia científica para classificar gerencialmente
os sobressalentes e racionalizar a aplicação de capital na formação dos seus estoques.
Acredita-se que uma classificação gerencial adequada aos sobressalentes pode
contribuir para o aumento da eficiência na alocação do tempo e do capital. Outra vantagem é
o direcionamento da atenção dos gestores aos itens chamados „relevantes‟, que possuem alta
tecnologia, custos expressivos e altas taxas de obsolescência.
“O custo de manutenção de estoque pode representar de 20 a 40% do seu valor por
ano. Por isso, administrar cuidadosamente os estoques é economicamente sensato”.
(BALLOU, 2006, p.271). Em função de parte dos componentes serem importados e de difícil
aquisição, as indústrias, normalmente, possuem políticas de estoque voltadas para uma maior
disponibilidade.
As questões inicialmente levantadas foram: Quais os métodos existentes? Onde serão
aplicados? Em quais itens? Quais as características destes itens? Como identificar o método
mais adequado?
METODOLOGIA
5
A amostra obtida no banco de dados de Bio compreendeu valores históricos de
consumo dos componentes, referentes a um período de 50 meses, das linhas de envase das
marcas Bosch e B+S, do Centro de Processamento Final de Biomanguinhos. A escolha deu-se
em função da antiguidade da operação destas linhas, da representatividade dos seus
componentes sobre o total de sobressalentes de Bio e da existência de estudos anteriores,
realizados pela COPPE/UFRJ, sobre o grau de criticidade dos seus equipamentos.
Os dados coletados para tratamento foram: código de cadastro do componente,
descrição do componente, unidade de fornecimento, cesta de materiais a que pertencem
(família de gestão), data de cadastramento, valor unitário com base na última entrada de
estoque, nº de itens por componente que entraram mensalmente no almoxarifado, nº de itens
por componente que saíram mensalmente do almoxarifado e quantidade atual em estoque.
Foram listadas ainda as variáveis que poderiam influenciar a decisão de classificação
dos componentes em Bio, tais como: mercado de aquisição (Nacional X Importado), volume
de armazenamento (Baixo volume X Grande volume), condições de armazenagem (Normais
X Especiais), valor agregado (Itens de alta tecnologia X Itens com baixa tecnologia),
obsolescência (Itens de alta obsolescência X Itens de baixa obsolescência), disponibilidade
(Itens de prateleira X Itens de encomenda), substituição (Itens substituíveis X Itens não
substituíveis), garantia (Itens com garantia X Itens sem garantia), tipo de manutenção (Itens
de manutenção corretiva X Itens de manutenção preventiva), nº de peças instaladas,
fornecedor (Exclusivo x Não exclusivo) e impacto na disponibilidade da Produção (baixo X
médio X alto).
A análise dos dados foi precedida por um tratamento preliminar de dados e orientada
em três aplicações:
a) método de classificação ABC;
6
b) método de classificação Multicritério;e
c) cruzamento dos métodos ABC e Multicritério.
O ABC é um método muito utilizado no controle de estoques pela sua simplicidade.
Aos itens considerados mais importantes, segundo a ótica do valor ou da quantidade, dão-se a
denominação de classe A; aos intermediários, itens de classe B e, aos menos importantes,
itens de classe C.
A experiência no uso da curva ABC demonstra que poucos itens, de 10% a 20% do
total, são da classe A, enquanto uma grande quantidade, em torno de 50%, é da classe C e
30% a 40% são da classe B.
A aplicação do Multicritério envolve o cálculo de um indicador com base no produto
dos valores atribuídos as variáveis. O esperado foi que o resultado da aplicação fosse sensível
ao tratamento dispensado a estas variáveis pelos gestores dos estoques.
A terceira proposta é uma alternativa para verificação de possíveis desvios e
complementaridades dos métodos anteriores.
A unidade de análise utilizada foi resultante do cruzamento das classes do ABC com
as definidas pelo Multicritério.
REFERENCIAL TEÓRICO
O conceito de estoque é encontrado na literatura de acordo com o contexto e a
aplicação proposta por cada artigo. Uma destas definições é a quantidade de qualquer item ou
recurso usado ou vendido por uma organização, ou ainda, mantido como reserva para uma
necessidade ou oportunidade futura (SANDOVAL, 2006; LINS et al., 2009).
7
Lima (2003) e Dan Júnior et al. (2009) ressaltam a importância da busca da
padronização de marcas e equipamentos para redução do número de itens e do capital
aplicado em estoque.
A diversidade de componentes que possuem similares no mercado é
significativamente ampla. Suas diferenças podem ser simples, como as de conexões elétricas
dos equipamentos, ou complexas e não intercambiáveis. A falta de padronização de marcas e
modelos gera uma dispersão de compras e geração de estoque que poderia ser evitada,
refletindo um aumento de custo e a perda de competitividade (DAN JUNIOR et al., 2009).
A decisão sobre a classificação dos sobressalentes em estoque é dinâmica e deve
focar no equilíbrio econômico, considerando variáveis técnicas, de mercado, restrições de
recursos e necessidades de atendimento a produção.
Wanke (2005) opina sobre a diferença presente no contexto da gestão de
sobressalentes para reposição que “os gestores enfrentam um problema mais complexo
constituído por componentes caros, demanda aleatória e tempos de resposta mais longos e
estocásticos”.
Um componente pode ser substituído por outro através de uma aquisição, uma
reserva em estoque, uma fabricação ou um reparo específico e, em geral, suas demandas são
independentes.
“A decisão por uma destas alternativas possui implicações na classe e nos níveis dos
estoques, e além das relações de custo benefício entre realizar a manutenção ou substituir a
peça, leva em consideração as redundâncias existentes e os custos de indisponibilidade do
sistema” (BRICK et al., 2009).
Um ponto crítico da classificação do estoque de sobressalentes é a fase de avaliação
dos itens novos, que não possuem histórico de consumo (DIALLO et al., 2008).
8
Esta fase é definida pela Força Aérea Brasileira como suprimento inicial e, na
ausência de dados, é preciso considerar as recomendações técnicas para back up do fabricante.
Em contrapartida, não é fácil decidir sobre quais componentes devem realmente ser agrupados
e comprados, tendo em vista que os valores fornecidos pelos fabricantes são, geralmente,
teóricos e influenciados por interesses em liquidar estoques de baixo giro (DIALLO et al.,
2008; ASSIS, 2005).
Além da consulta a fornecedores ou fabricantes, os Itens novos podem ser também
agrupados e geridos por similaridade ou ainda com base na troca de experiência com outras
indústrias do setor, que já utilizam o componente e possuem histórico de manutenção.
Para a classificação dos itens são utilizados critérios, tais como: natureza do material,
volume de armazenagem, tecnologia agregada, perfil de demanda, risco de falha,
complexidade de aquisição, preço de compra, custo de falta, condições de armazenagem etc.
No caso dos materiais para a manutenção, reparo e operações (Maintenance Repair
and Operations, MRO) nem sempre os autores os classificam de forma separada como
apresentado por Ching (2001) que já os diferenciava dos estoques de materiais
administrativos.
Optar por englobar os MRO na classe dos materiais de apoio, paradoxalmente, pode
sugerir uma gestão não diferenciada para estes itens, que representam, em muitos casos,
parcelas significativas da imobilização de capital e do número de itens estocados.
(VALENTIM, 2007).
A variedade de itens somada aos pontos críticos destacados por Castro (2008) pode
tornar a classificação gerencial de peças bem mais complexa.
9
Os métodos de classificação por categorias ou clusters mais disseminados na
literatura de sobressalentes são o ABC e o AHP (Analytic Hierarchy Process conhecido por
Multicritério).
O método ABC pode ser observado no estudo do gráfico de Vilfredo Pareto,
economista italiano que realizou um estudo sobre renda e riqueza em 1897. Seu princípio tem
ajudado a resolver diversos problemas nas organizações. Moura [...] afirma que pequenos
fatores são responsáveis por grandes proporções. O que equivale a dizer que poucos itens
dentro do nosso estoque representam a maior parte do capital aplicado. Esse conceito é
conhecido como regra 80-20, ou seja, 20% do estoque representam 80% do gasto empregado
nele [...] (FALCÃO, 2008; MOURA, p.13; LINS et al., 2009).
O ABC, tradicionalmente, sugere a classificação dos estoques em grupos, utilizando
critérios como valor e consumo dos itens. Assaf Neto e Tubúrcio (1997, p.190) sugerem que
os produtos do grupo A sejam compostos pelos primeiros 10% em tamanho de receita, o que,
em geral, deve representar cerca de 70% da receita. Este grupo deve receber maior atenção
dos gestores pela sua relevância.
O grupo B seria compreendido pelos 20% produtos seguintes e devem representar
20% da receita. O grupo C por 70% dos produtos em estoque, mas representando apenas uma
pequena parcela de 10% da receita.
Os itens A devem existir em menor número, em regra geral, por serem os mais caros.
Os classificados como B devem ser monitorados com atenção, pois podem transitar pelas
demais classes, mas em geral possuem valores intermediários e podem ser estocados por um
pouco mais de tempo. Já os de classe C são aqueles cujo valor não é representativo e que,
caso não haja outras restrições, podem ficar estocados e não precisam ser controlados tão
rigorosamente (OLIVEIRA & CARNEIRO, 2004).
10
A análise dos resultados deste método merece um cuidado em particular quanto a
possíveis distorções de classificação. Quando um item de baixo preço é consumido em
grandes quantidades e vice-versa. Um item muito caro, de demanda baixíssima, pode ser
classificado em uma classe inferior, B ou C.
Para evitar este desvio, sugere-se que nos limites entre classes, a multiplicação do
preço pela demanda futura do item, e não com base no histórico. Este procedimento se
distancia da prática, tendo em vista a notória dificuldade em prever estes fatores.
A aplicação do ABC pode não ser suficiente para estabelecer uma hierarquia quanto
à importância dos itens. É necessário cruzar dados sobre a utilização, aplicação e aquisição
dos materiais.
Pontes e Porto (2008) sugerem a realização das seguintes, etapas antes de aplicar o
ABC: verificar se a peça possui demanda significativa (mais de três reposições ao ano) e
verificar origem de aquisição (nacional ou importada). Os autores explicam que as peças
podem ser mantidas em estoque por estratégia de proteção contra descontinuidade da linha de
alguns equipamentos. É uma espécie de apólice de seguro em função dos riscos econômicos e
políticos envolvidos.
O método AHP é aquele em que “os problemas de decisão são decompostos em
níveis hierárquicos, facilitando assim o seu entendimento e a evolução da própria estrutura,
conforme a complexidade da situação analisada”.
A análise Multicritério, tanto quantitativa quanto qualitativa, consiste no cruzamento
de dados, tais como: lead time, atributos comuns aos itens, obsolescência, possibilidade de
substituição, escassez, durabilidade, perfil de demanda, dentre outros (MARINS et al., 2008;
PARTOVI E ANANDARAJAN, 2002; SANTOS & RODRIGUES, 2006).
11
Santos e Rodrigues (2006) dividem a classe C quanto à criticidade em itens vitais e
não vitais e propõem uma abordagem metodológica para tratar estes itens, de forma que sobre
tempo livre para os gestores darem uma maior atenção aos de maior relevância.
Santos e Rodrigues (2006) apud Lenard e Roy (1995), os quais defendem a
classificação por grupos e a justificam destacando que, no dia-a-dia, gestores lidam com
dezenas de itens. Este método pode gerar economias em escala, maior velocidade nas decisões
e outras vantagens tendo em vista que os componentes agrupados, geralmente, são afetados,
simultaneamente, por restrições similares.
Em contrapartida, um mesmo componente pode ter diversas aplicações na mesma
organização e ser submetido a condições de operação com características diferentes.
Componentes elétricos de uma aeronave que voa na região amazônica sofrem mais
manutenção em função da umidade do ar que os da região sudeste, por exemplo.
Neste caso, o perfil de consumo do mesmo componente pode ser diferente, podendo
também ser gerido por métodos específicos em cada região.
Panisset (2007) analisa que o grau de agregação dos itens está relacionado ao nível
de detalhamento que se quer enxergar na demanda. Quando se decide gerir agrupamentos,
perde-se neste detalhamento por item, ou seja, nem sempre, pela média do grupo, é possível
identificar a variabilidade real dos dados.
Braga e Hijjar (2007) citaram um trabalho realizado pelo Centro de Estudos
Logísticos da UFRJ que recomenda a utilização de uma matriz 2x2 para a classificação de
produtos, cruzando o valor anual comprado e o risco de fornecimento de cada um.
A adaptação desta matriz com a alteração do vetor „valor anual comprado‟ pelo
„impacto sobre a disponibilidade‟ é útil para classificar os sobressalentes estratégicos e os que
precisam ter reservas em estoque para garantir a continuidade da produção
12
DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO
Para seleção da amostra referente aos componentes das linhas de envase B+S e
Bosch, aplicou-se um filtro nos dados utilizando a marca das linhas como palavra-chave. O
total da soma das duas linhas estudadas foi de 602 componentes, o que representa uma parcela
de 15,54% do total de 3875 componentes existentes nas famílias de manutenção em Bio.
Para uma visão preliminar do perfil de cada componente, realizaram-se os seguintes
cálculos: o tempo de cadastro ou antiguidade do item, a demanda média mensal (DMM), o
valor total em estoque e a freqüência de consumo de cada componente.
a) tempo de cadastro: consiste na subtração da data atual pela data em que foi cadastrado.
A diferença é utilizada como denominador no cálculo da média do consumo;
b) demanda média mensal: é a média entre a quantidade total das saídas sobre o tempo de
cadastro do componente, acima descrito;
c) valor total em estoque: é a quantidade do estoque atual multiplicada pelo valor unitário
do item;
d) frequência de consumo: é a soma do número de meses diferentes de zero, ou seja,
daqueles em que houve retirada do estoque.
13
Em seguida e com base na escala definida na tabela 1 , foram atribuídos valores para
as variáveis: valor, volume e condições de armazenagem de cada componente das duas linhas,
em colunas separadas.
Tabela 1 : Escalas adotadas na pesquisa
Fonte: Autor
Com os dados organizados, a próxima fase consistiu na aplicação do método ABC.
Os passos realizados foram:
a) ordenamento decrescente da planilha pelo valor total em estoque;
b) cálculo do valor do estoque acumulado por componente, ou seja, o somatório do valor
total em estoque do componente 1 com o 2 e assim por diante;
c) cálculo do percentual acumulado relacionado ao valor total em estoque de cada
componente; e
d) classificação dos componentes em A, B ou C, com base na tabela 2.
14
Tabela 2: Meta sugerida para cada classe
Fonte: adaptado de Lins et al (2009)
Os resultados obtidos mostraram-se descolados dos valores de referência do ABC
(Tabela 2), distanciando-se do princípio de Pareto, em que “pequenos fatores são responsáveis
por grandes proporções” (MOURA, 2004, p.13).
Observou-se nas duas linhas de envase que há uma grande concentração da
quantidade de componentes na classe C. Dos recursos aplicados em estoque, 80%
correspondem a 1% do total de componentes „classe A‟ em ambas as linhas.
Aplicação do método de classificação Multicritério
A aplicação deste método consiste em mensurar variáveis qualitativas por meio do
cálculo de um indicador (denominado de VVA) para cada componente, e no agrupamento dos
seus resultados em classes, definidas na pesquisa como 1 2 e 3.
O VVA é o resultado da multiplicação dos valores atribuídos às variáveis. Cada
componente da amostra possui um VVA e o seu cálculo é viabilizado com o uso de escalas
paramétricas, estabelecidas anteriormente (Tabela 2).
O agrupamento de cada componente em classes realizou-se com base em uma tabela
de referência. Nela estão as possíveis combinações entre as variáveis da escala adotada e os
valores do VVA ordenados de forma decrescente. Os componentes de classe 1 são aqueles
15
que apresentam o VVA a partir de 4. Os de classe 2 possuem o VVA igual a 3; e, os de classe
3, possuem VVA inferior a 3.
Adotando como referenciais de análise os parâmetros da tabela 2, verificou-se que os
valores obtidos na aplicação do Multicritério na linha B+S já não são tão concentrados quanto
na aplicação anterior. Ao contrário da linha Bosch que continuou apresentando uma alta
concentração dos seus componentes na classe C.
Cruzamento dos métodos ABC e Multicritério
A finalidade foi a verificação da consistência entre eles. Se a aplicação isolada de um
poderia ser suficiente ou se as duas integradas trazem melhorias na qualidade da informação.
Adicionou-se uma coluna para a combinação entre as classes do ABC e do
Multicritério como recurso para confrontar os métodos, contendo uma nova unidade de
classificação e análise. Os componentes das duas linhas de envase foram reclassificados e
alocados nas combinações obtidas na Tabela 3.
Tabela 3: Resultado das aplicações do método ABC e do Multicritério
Fonte: Biomanguinhos
ANÁLISE DOS RESULTADOS
16
É possível verificar na tabela 3, após o cruzamento dos dois métodos, que os códigos
derivados da classe 1 – Multicritério estão concentrados nas combinações da classe C - ABC,
onde, paradoxalmente, se recomenda uma menor atenção aos gestores.
Quanto aos resultados do ABC, alguns pontos podem ser destacados:
a) os desvios nos valores apresentados indicam a necessidade de uma revisão das políticas
de estoque. Itens de maior valor e pouca relevância estratégica podem ser geridos por políticas
reativas, ou seja, adquiridos sob demanda;
b) a tabela de referência pode ser utilizada como orientação estratégica e base de análise
dos níveis mantidos em estoque;e
c) os valores obtidos não são suficientes para tomar decisões sobre os estoques em
Biomanguinhos, na medida em que a adição de variáveis importantes, como valor, volume
dos itens e requerimentos de armazenagem no método Multicritério modificou, de forma
significativa, a distribuição dos componentes entre as classes, em particular, na linha B+S.
Quanto aos resultados da aplicação Multicritério, foram observados:
a) a possibilidade de identificar a existência de itens críticos que haviam sido agrupados, na
aplicação anterior, como de menor relevância. Estes desvios podem comprometer a
disponibilidade operacional;
b) a obtenção de uma visão analítica do cenário atual. Na linha B+S, o resultado após a
aplicação do Multicritério mostra uma distribuição entre as classes não tão destoante quanto a
do ABC. Com o uso deste método foi possível perceber a influência da gestão das variáveis
volume e condições de armazenagem na formação do estoque, em contraste ao anterior, que
fornece uma visão geral.
Quanto aos resultados da terceira, que consistiu na aplicação integrada dos métodos
anteriores, destacam-se:
17
a) o cenário resultante mostrou uma aparente discrepância entre os dois métodos. Com a
concatenação das classes do ABC e Multicritério, verificou-se que componentes considerados
pouco relevantes pelo ABC ficaram enquadrados nas classes 1 e 2 do Multicritério;
b) o cruzamento final dos métodos se mostrou útil para uma revisão caso a caso dos
componentes que se enquadraram em pólos opostos nas aplicações;
c) a constatação de que muitos itens C3 não possuem estoque físico. Observado o baixo
custo total de possuir sobressalentes disponíveis, os itens considerados de baixa relevância,
como os classificados em C3, podem ser orientados por políticas proativas ao invés de
reativas.
CONCLUSÃO
O resultado apresentou ganhos qualitativos com a aplicação da metodologia proposta
na classificação de sobressalentes.
O ABC é prático, entretanto a visão de valor e quantidade foi vista como genérica
para os estoques de sobressalentes, que são orientados por trade-off importantes como o do
custo de falta e o de manter estoques.
O resultado obtido no estudo foi importante para a obtenção de um cenário
preliminar. O princípio de Pareto, base da lógica ABC, serviu de orientação estratégica para
análise dos outros métodos, indo ao encontro do observado por alguns autores (FALCÃO,
2008; MOURA, p.13; LINS et al., 2009).
Quanto ao Multicritério, mesmo com a ponderação de somente três variáveis, ele se
mostrou sensível e forneceu uma visão analítica.
Sugeriu-se a avaliação e incorporação de outras variáveis de classificação, a fim de
refinar a metodologia para uso em Bio e aproximar mais os resultados da realidade.
18
O agrupamento em classes facilita a análise dos dados e a tomada rápida de decisão,
quando se opera com uma grande quantidade de sobressalentes. É a confirmação da maior
eficiência da gestão sistêmica sobre a tradicional visão por item, ainda presente nos
algoritmos de avançados sistemas integrados.
A integração dos métodos e a complementaridade percebida na análise qualitativa
dos resultados são observações que merecem destaque.
Verificou-se na apuração de cada etapa que ambos os métodos melhoraram a
qualidade dos dados analisados.
A identificação do desbalanceamento do estoque das linhas e a necessidade de
revisão dos métodos utilizados estão entre os ganhos observados. Verificou-se que o uso
integrado do ABC e Multicritério orienta a classificação dos sobressalentes e melhora a
qualidade das decisões, podendo desta forma ser estendido a outros estoques, incluindo os
relacionados à saúde.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSAF NETO, Alexandre & TIBÚRCIO, César Augusto. Administração do Capital de Giro.
2º Ed, P.190. São Paulo: Editora Atlas, 1997.
ASSIS, Rui. “Adquirir ou Não um Sobressalente?”. In: anais do 1º Encontro Nacional de
Riscos, Segurança e Fiabilidade / Lisboa, Maio de 2005.
BALLOU, R. H.. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial. São
Paulo: Bookman, 2006.
BRAGA, A.R. & HIJJAR, M.F. “Panorama da gestão de Compras e Suprimentos nas
empresas industriais brasileiras”, 2007.
19
BRICK et al. “Modelos de Estoque para Sobressalentes Navais: um estudo desenvolvido em
parceria da UFF com a Marinha do Brasil”. In: anais do XXIX ENEGEP. Salvador, BA,
Brasil, 06 a 09 de outubro de 2009.
CHING, H.Y. Gestão de Estoque na cadeia logística integrada. Atlas. 2ª Edição. São Paulo,
2001.
DAN JÚNIOR et al. “O Processo de Padronização como Metodologia de Diminuição de
Custos”. In: anais do XXIX ENEGEP. Salvador, BA, Brasil, outubro de 2009.
DIALLO et al. “Previsão de Estoque de Peças Eletrônicas Sobressalentes”. In: anais do
XXIX ENEGEP. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2008.
FALCÃO. Gestão de Estoques: uma ferramenta para a redução de custos Roberto Flores.
Trabalho de conclusão do curso de graduação da USP, 2008.
FORÇA AÉREA BRASILEIRA. “Manual de Suprimento Técnico”, 2007.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS BIOMANGUINHOS. Acesso:
www.bio.fiocruz.br, em Novembro de 2010.
LIMA, M.P. “Estoque: Custo de Oportunidade e Impacto sobre os Indicadores Financeiros”.
Disponível no CEL/COPPEAD/UFRJ, 2003.
LIMA, E.C.O. “Aumento de Performance e Redução de Custos Aplicados a Bombas
Centrífugas”. In: anais do 22º Congresso Brasileiro de Manutenção. Julho de 2007.
LINS et al.. “Gestão de Estoque e a Importância da Curva ABC”. Lins/SP, 2009.
MARINS et al. “Gestão do Estoque Excedente com Proposta de redução através de Decisão
Multicriterial”. In: anais do XXVIII ENEGEP. Rio de Janeiro/RJ, outubro de 2008.
MOURA, Cássia E. Gestão de Estoques. 1ª. Edição. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna
Ltda., 2004.
20
OLIVEIRA, R. C. & CARNEIRO, S.C.P. “Elaboração e implementação de um modelo de
administração de estoque baseado em faixa de ressuprimento”. In: anais do XXIX ENEGEP -
Florianópolis, SC, Brasil, novembro de 2004.
PANISSET, V.G. O Impacto de Diferentes Distribuições de Demanda na Cadeia de
Suprimentos: Um estudo experimental de simulação. Dissertação de Mestrado apresentada a
COPPEAD/UFRJ. Rio de Janeiro, 2007.
PARTOVI, F. Y. & ANANDARAJAN, M. Classifying inventory using an artificial neural
network approach. Computers & Industrial Engineering, v. 41, p. 389-404, 2002.
PONTES, H. L. J. & PORTO, A. J. V. “Um ambiente de simulação de inventário para um
centro de distribuição de peças”. Revista Gestão Industrial (Online), v. 4, p. 64-83, 2008.
SANDOVAL, W.M. Gestão de Estoque Baseada em Risco. Trabalho de conclusão do curso
de Graduação em Engenharia Mecânica da USP. São Paulo, 2006.
SANTOS, A.M. & RODRIGUES, I.A. “Controle de Estoque de Materiais com Diferentes
Padrões de demanda: estudo de caso em uma indústria química”. Revista Gestão e Produção
v.13, n.2, p.223-231, maio de 2006.
SLACK, N. et al. Administração da Produção. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2002.
VALENTIM, Alexandre J. R. - Análise do uso de técnicas modernas de gestão de estoque de
peças sobressalentes em uma indústria do setor siderúrgico. Dissertação de Mestrado. UFRRJ,
Junho de 2007.
WANKE, P. “Metodologia para gestão de estoques de peças de reposição: um estudo de caso
em empresa brasileira”. Revista Tecnologística, p.60 a 66, dezembro de 2005.
WANKE, P. Gestão de Estoque na Cadeia de Suprimentos: Decisões e Modelos
Quantitativos. São Paulo: Editora Atlas, 2003.