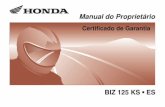Biz Elli
-
Upload
maria-liliana-pereira-araujo -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Biz Elli
-
A O C A S I O PARA O P R N C I P E
Jos Lus BIZELLI1
RESUMO: Este trabalho busca compreender a estrutura do pensamento maquiavlico atravs da tenso existente entre alguns de seus conceitos fundamentais da atividade poltica. No caso, a "vontade" de transformao dos atores que desejam o poder e as determinaes histricas.
UNITERMOS: Vontade; determinaes histricas; dominao; Estado.
O ponto de partida deste breve ensaio sobre Maquiavel no reside em uma proposta de recuperao das intenes originais do autor sobre sua poca, com o intuito de produzir uma crtica ou refutao de sua filosofia; e nem mesmo em uma reconstruo sistmica desta poca para, rompendo o tempo histrico evolutivo, procurar diagnosticar no presente a "utilidade" das idias do florentino.
Toda a tentativa de interpretao deste trabalho caminha no sentido de com-preender a estrutura do pensamento maquiavlico atravs da tenso entre os conceitos fundamentais da atividade poltica expressos na obra do autor: a "vontade" de transformao dos atores que desejam o poder e as determinaes histricas que limitam ou ampliam as possibilidades de execuo das aes que se destinam criao/transformao do Estado entendido como dominao.
Os tempos presentes poderiam prometer honras a um prncipe novo
No ltimo captulo de O prncipe, Maquiavel exorta a casa dos Mediei a lutar para livrar a Itlia das mos dos brbaros. A obra, resultado, segundo o prprio autor,
1. Departamento de Antropologia, Poltica e Filosofia - Faculdade de Cincias e Letras - UNESP - 14800-901 -Araraquara - SP.
-
de quinze anos de experincia nas coisas do Estado, tem como interlocutora a realidade de uma Itlia que, tendo sido o bero do mundo moderno, chega ao sculo XVI "mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais desunida que os atenienses, sem chefes, sem ordem, batida, espoliada, lacerada e invadida,... (suportando) toda sorte de calamidades" (Maquiavel, 1973, p. 113).
O autor objeto deste estudo no era apenas versado em Histria Antiga, mas tambm dialogava com eloqncia com os acontecimentos de seu territrio, dividido em vrios reinos ou cidades-Estado. Este territrio dividido conhecera o apogeu de uma era luminosa, em que violentas transformaes econmico-sociais e polticas deslocaram o eixo da existncia material do campo para a cidade, a qual passou a abrigar as foras libertas da servido terra.
J no sculo XIII a Itlia d demonstrao da fragilidade de seu Estado Feudal, que no consegue reorganizar-se em nvel nacional. A luta do papado, sustentada pelas cidades mercantis do norte, contra Frederico II da casa dos Hohenstaufen, no s colocou um fim no sonho deste ltimo de criar um Estado Imperial unitrio para toda a pennsula, como tambm enfraqueceu o Estado pontifcio, que acabou deportado para Avignon.
As cidades do norte e do centro viram-se, assim, em liberdade para o seu prprio e fascinante desenvolvimento poltico e cultural. O eclipse simultneo do imprio e do papado fez a Itlia o elo mais fraco do feudalismo ocidental: de meados do sculo XIV metade do sculo XVI, as cidades entre os Alpes e o Tibre viveram a revolucionria experincia histrica a que os prprios homens chamaram "Renascena" - o renascimento da civilizao da Antigidade clssica, aps a escurido intermediria da Idade Mdia. (Anderson, 1985, p. 148)
O Renascimento prenuncia a era que estar sob a gide do capital. Esta riqueza urbana, gerada por pequenos traficantes que, atravs do desenvolvimento da econo-mia mercantil, transformaram-se em grandes comerciantes, propicia um esprito democrtico - entendido, aqui, simplesmente como oposio ao status guo - de mudana, canalizando o descontentamento mais geral contra os dominadores repre-sentados na nobreza e no alto-clero (Martin, 1966).
No campo das relaes econmicas, a racionalidade do trabalho livre substitui a tica do trabalho feudal, minando todos os campos das relaes sociais. A nova classe dominante formada pelos ricos - fossem eles burgueses (comerciantes e industriais) ou nobres (proprietrios rurais) - passa a consolidar, assim, a determinao do fator econmico sobre o poltico. No h mais lugar para a dominao baseada nas doutrinas religiosas; o clculo racional do ganho deve-se transformar em racionalidade poltica.
O homem, atravs do dinheiro, tem possibilidades infinitas de acumular. Neste processo o tempo adquire uma importncia capital. um tempo dinmico, apropriado como mercadoria til para quem quer ser dono das coisas e trabalha para si prprio. O trabalhador burgus rompe com o tempo natural marcado pelo nascer e pr-do-sol. Liberto das amarras da terra e de Deus, que j no interfere em seus atos, o engenheiro
-
burgus quer dominar tanto a natureza - por meio das Cincias Naturais, do aperfeioamento tcnico que permite a transformao racional da matria, atravs do trabalho, em proveito prprio -, quanto o homem - por meio do controle do poder, da Cincia Poltica.
Este homem novo, desejoso de exercer o seu domnio, exortado por Maquiavel a cumprir o desgnio moderno: "pensando comigo mesmo se, na Itlia, os tempos presentes poderiam prometer honras a um prncipe novo e se havia matria que desse, a um que fosse prudente e valoroso, oportunidade de introduzir uma nova ordem que lhe trouxesse fama e prosperidade para o povo, pareceu-me que h tantas coisas favorveis a um prncipe novo que no sei de poca mais propcia para a realizao daqueles propsitos" (Maquiavel, 1973, p. 113).
Os pases tentam passar da ordem desordem e desta novamente ordem
Maquiavel o pensador que d Poltica o estatuto de cincia com o status da Fsica ou da Matemtica (Horkheimer, 1984). As bases das Cincias Naturais da poca moderna foram lanadas no Renascimento. A introduo da Matemtica na Fsica e na Qumica permitiu que os fenmenos pudessem ser repetidos e controlados. Mas a sociedade no necessita apenas controlar os fenmenos da natureza: necessita tambm controlar os caminhos pelos quais o homem exerce o domnio sobre o prprio homem.
Diante da constatao de que os homens so dominados e se organizam em diferentes formas de governo, o autor em tela procura na histria leis que possam ser apreendidas, possibilitando ao historiador/ator um determinado controle sobre os acontecimentos. Assim, o modo pelo qual os governos se organizam segue uma ordem natural.
Se a primeira forma que o governo assumiu foi a Monarquia, entregando o poder de chefia ao mais corajoso, ao mais esperto ou ao mais justo, como esta se transmite por herana e pela linhagem no h forma de evitar que decaia na Tirania. A Tirania est sujeita a golpes, revoltas e traies dos poderosos, que certamente estaro interessados em fundar uma Aristocracia. Seus filhos, porm, certamente estaro entregues s ambies e luxria, gerando Oligarquias e afrontando os direitos dos cidados, que mais cedo ou mais tarde lutaro pela Democracia. Este o reino preferido da corrupo e facilmente se degenerar na Anarquia.
A lei dos ciclos histricos no aparece originariamente na obra de Maquiavel. Ela j est explicitamente formulada no livro VIII de Plato e principalmente em Polbio. Porm, em Maquiavel o crculo no se fecha sobre si mesmo, no se constitui enquanto uma repetio sem fim da seqncia das formas de governo, j que raramente se retorna ao ponto exato de partida, pois o prprio aprendizado por que passa uma repblica no lhe permite sofrer vrias vezes as mesmas vicissitudes. Em vez de um
-
crculo fechado temos um espiral que possibilita a mudana ou mesmo a incorporao deste Estado por outro mais poderoso. Quando se chega a um ponto de fragilidade extrema, a possibilidade de ser conquistado por um Estado vizinho, governado com maior sabedoria, muito grande, dada a falta de fora para que se retorne ao ponto de partida.
Portanto, a dinmica das foras histricas cria e destri Estados segundo impulsos internos ou externos. Cabe ao historiador/ator o estudo das leis histricas que regulam os acontecimentos. S quem sabe por que as coisas acontecem pode dizer como elas acontecero: "Quem estuda a histria contempornea e da antigi-dade ver que os mesmos desejos e as mesmas paixes reinaram e reinam ainda em todos os governos e em todos os povos. Por isto fcil, para quem estuda com profundidade os acontecimentos pretritos, prever o que o futuro reserva a cada Estado, propondo os remdios j utilizados pelos antigos ou, caso isto seja possvel, imaginando novos remdios baseados na semelhana dos acontecimentos" (Maquia-vel, 1979, p. 129).
Dessa forma, Maquiavel desvenda a chave para uma histria em movimento espiral. Primeiramente pontos fixos, regras, estruturas que, perpassadas pelo tempo, mantm suas caractersticas nucleares, mas no se reproduzem necessariamente da mesma maneira, porque so crivadas por uma idia de que as coisas no se repetem da mesma maneira, j que os atores se modificam na luta. Porm, mesmo o modificar-se dos atores responde a caractersticas impressas pelas suas prprias existncias: mesmos desejos/mesmas paixes, controladas/domadas/remediadas apenas por aqueles que se dediquem a entend-las.
Fechando um cone invisvel ao redor desta espiral, teremos o movimento natural das configuraes sociais que oscilam entre a ordem e a desordem: "Os pases, na maioria das vezes, em seus movimentos de mudana, tentam passar da ordem para a desordem e de novo da desordem para a ordem. Isto por que, no sendo da natureza das coisas dos homens manter-se inalteradas, quando elas atingem a mais alta perfeio, no havendo como subir mais, so obrigadas a descer. Similarmente, quando se encontram embaixo, nas profundezas da desordem, no podendo descer mais, iniciam sua ascenso. Assim, do bem se desce ao mal, e do mal se ascende ao bem. Porque a virt traz luz a tranqilidade, a tranqilidade o cio, o cio a desordem, a desordem a runa. Similarmente, da runa nasce a ordem, da ordem a virt e desta a glria e a fertilidade" (Maquiavel, 1972 - II, p. 11, traduo do autor).
Torna-se necessrio saber empregar convenientemente o animal e o homem
A forma como se origina o governo perde importncia na obra de Maquiavel, em relao constituio de um Estado que exera a dominao. Este Estado deveria
-
ser centralizado e regido pelos princpios da razo, ou seja, estar desvinculado da moral e da religio, ser largo e autnomo, no respondendo a nenhuma autoridade externa e no admitindo que nenhum grupo interno pretenda contrapor-se ou escapar ao seu poder.
Dois exemplos da biografia fantasiada de Castruccio Castracani (Maquiavel, 1982) podem elucidar estas afirmaes.
O primeiro refere-se ao como lidar com grupos internos desgostosos. Quando Castruccio deixa sua cidade, Luca, para uma expedio militar, uma famlia - os "di Poggio" - tenta tomar o poder. Stefano di Poggio, idoso e pacfico, convence seus familiares a depor as armas e, com o retorno de Castracani, oferece-se como mediador, levando os pedidos dos conspiradores ao senhor de Luca:
Castruccio respondeu graciosamente, com palavras de conforto e boa disposio, demonstrando pensar que o fato de que o distrbio tinha sido estancado era mais importante do que sua ocorrncia; pediu a Stefano que viesse com todos os reivindicadores sua presena dizendo que agradecia a Deus pela oportunidade de mostrar sua clemncia e liberdade. Mas quando todos se apresentaram, confiantes em Castruccio e Stefano, foram, juntos com este ltimo, aprisionados e mortos. (...), Castruccio, para no voltar a correr os perigos de antes, reprimiu com alegaes variadas todos os que em Luca pudessem ambicionar o poder; a alguns perdoou, privando-os s da ptria e dos bens, mas aos que pde tirou a vida, afirmando que a experincia demonstrava que nenhum deles poderia ser-lhe fiel. E para maior segurana erigiu uma fortaleza em Luca, com o material retirado daquele que tinha expulsado ou morto. (Maquiavel, 1982, p. 51)
No segundo exemplo, podemos entender o que acontece com as cidades que necessitam de apoio externo para exercer o poder. Pistia era uma cidade dividida em dois partidos: negros e brancos. Os chefes dos dois partidos - Jac da Gia, dos negros, e Sebastio di Possente, dos brancos - pedem auxlio a Castracani para dominar a frao oposta. O lucano promete ajuda a ambos: vai pessoalmente visitar Jac e manda Pagolo Guinigi, homem de confiana seu, ter com Sebastio.
Uma vez na cidade, Castruccio, num momento oportuno, mandou um sinal para Pagolo, e logo o primeiro (Castruccio) matou Jac e o segundo (Pagolo), Sebastio. Todos os seguidores do chefe branco e do chefe negro foram presos ou mortos. Percorrendo a cidade sem encontrar oposio, Castruccio chegou sede do governo de Palagio, obrigando o povo local a jurar-lhe obedincia, perdoando muitas dvidas antigas e fazendo numerosas doaes. Agiu de tal modo que a populao, que acorrera para ver o novo prncipe, se tranqilizou, cheia de esperanas, comovida com suas qualidades. (Maquiavel, 1982, p. 51-2)
Este Estado, porm, de soberania absoluta e ilimitada no ter grandes proble-mas para impor o interesse geral sobre os desejos dos particulares, "j que os homens, quando bem governados, no desejam maior liberdade" (Maquiavel, 1979, p. 312). "Desde que no se tirem aos homens os bens e a honra, vivem estes satisfeitos, e s se dever combater a ambio de poucos, a qual se pode sofrear de muitos modos e com facilidade" (Maquiavel, 1973, p. 83).
-
Na verdade, nesses dois trechos podemos identificar dois tipos de liberdade s quais os homens almejam. A primeira aquela almejada por todos, a de serem "bem governados", ou seja, aquela que garante ao cidado poder desenvolver suas ativida-des produtivas sem o perigo de ter sua vida, suas posses ou sua honra agredidas por outrem. A segunda, "ambio de poucos", apresenta-se, efetivamente, nos que querem participar da gesto das coisas do Estado e a estes o governante deve oferecer ou a sua mo ou a espada.
O sentido da liberdade individual, portanto, repousa nos conceitos da lei e da ordem. No entanto, das divergncias polticas geradas no seio dos diferentes grupos sociais que nasce a lei:
Os que criticam as contnuas dissenses entre os aristocratas e o povo parecem desaprovar justamente as causas que asseguraram fosse conservada a liberdade de Roma, prestando maior ateno aos gritos e rumores provocados por tais dissenses do que aos seus efeitos salutares. (...), pois os bons exemplos nascem da boa educao, a boa educao das boas leis, e estas das desordens que quase todos condenam irrefletidamente. De fato, se se examinar com ateno o modo como tais desordens terminaram, ver-se- que nunca provocaram o exlio, ou violncias prejudiciais ao bem pblico, mas que, ao contrrio, fizeram nascer leis e regulamentos favorveis liberdade de todos. (Maquiavel, 1979, p. 31)
Em oposio ao pensamento medieval, Maquiavel concebe este Estado racional, responsvel pela execuo da lei, como uma entidade poltica secular. Totalmente separado da Igreja. Como aponta Lauro Escorei (1979), o pensamento ocidental traz consigo um dualismo que separa como coisas inconciliveis a tica e a poltica. Ope-se, assim, a salvao eterna conquista e manuteno do poder.
nesse sentido que Maquiavel tem os olhos postos na Antigidade greco-ro-mana, no que diz respeito religio. Na Antigidade, o Estado a fonte da poltica e da moral. As virtudes, produzidas pela boa educao, pela religio e pelos costumes, direcionam o cidado para que ele se transforme em um patriota. O valor supremo o bem da ptria. Os cidados de Roma so vistos por Maquiavel como homens exaltados, guerreiros, heris mundanos, ambiciosos, fortes. Os cristos, por sua vez, so fracos, humildes, contemplativos, conformados, decadentes. Fundamentalmente isto que a religio crist faz: produz seguidores decadentes, ou seja, corrompe as virtudes guerreiras e o devotamente patritico no homem que aspira ao poder.
Na Antigidade greco-romana, o florentino vai buscar a metfora que agrega as leis fora, dando instrumentos ao governo de manter o Estado. o centauro Quiron, metade homem e metade animal, que ocupa a funo de preceptor dos prncipes, j que "existem duas formas de se combater: uma pelas leis, outra, pela fora. A primeira prpria do homem; a segunda, dos animais. Como, porm, muitas vezes a primei-ra no seja suficiente, preciso recorrer segunda. Ao prncipe torna-se necessrio, porm, saber empregar convenientemente o animal e o homem" (Maquiavel, 1973, p. 79).
-
Virt e Fortuna
Maquiavel est preocupado com o homem de Estado, aquele que responde pelos interesses da coletividade e sofre suas presses, antepondo-se ao indivduo que pode dispor de sua vida privada em funo de um valor moral superior. A tica individual exige uma transparncia que alheia atividade poltica. Ao homem pblico pede-se que aparente possuir qualidades, tais como piedade, fidelidade, humanidade, integri-dade ou religio, sabendo, no entanto, trilhar os caminhos do mal se a isso estiver obrigado.
O homem moderno da Renascena est intimamente ligado com a expanso do mundo burgus, com o trabalho referenciado pela habilidade para o "ganho". Maquia-vel despreza profundamente a aristocracia improdutiva: o bem-estar depende dos profissionais ligados tica do trabalho. O lder, porm, que almejar conduzir os destinos de um povo, conquistar o Estado, exercer o poder, deve, alm de ter os olhos voltados nova sociedade produtiva que se instala, ser talhado na brutalidade e nos mtodos usuais do perodo medieval. o condottiero, dotado de virt, que ser capaz de anancar a Itlia dividida da runa e proporcionar as condies para a propriedade burguesa, atravs de um Estado que exera a dominao.
Essa a experincia vivida por Maquiavel ao lado de Csar Brgia, traduzida em O prncipe e mitificada em Castruccio Castracani. O lder nato talhado na batalha e rege suas aes como um chefe de exrcito solitrio no comando. Da sua astcia resulta o controle da situao. A tica que rege as suas decises deve permitir um clculo de perdas e ganhos que muitas vezes condena ao sacrifcio parte de seus prprios comandados, ou mtodos impiedosos contra seus inimigos. Porm, seus olhos devem estar voltados aos resultados de sua ao. No caso do homem pblico, seus olhos fixam-se no "bem-comum" que deve ser atingido.
Diante dos interesses conflitantes, o Estado deve fazer prevalecer, deve fazer reproduzir-se, a sociedade como um todo. O florentino tem conscincia de que os conflitos sociais so inconciliveis e determinados pelas diferenas econmicas que se estabelecem na prpria produo das bases materiais da sociedade, como muito bem aponta Claude Lefort (1979, p. 141-54). So estes conflitos estabelecidos que impulsionam uma formao histrica rumo ao seu devir.
Nesse processo, algumas determinaes escapam astcia do lder. Para dar conta daquilo que no depende da vontade dos homens, o autor lana mo do conceito de "fortuna":
Penso poder ser verdade que a fortuna seja arbitra de metade de nossas aes, mas que, ainda assim, ela nos deixe governar quase a outra metade. Comparo-a a um desses rios impetuosos que, quando se encolerizam, alagam as plancies, destroem as rvores, os edifcios, arrastam montes de terra de um lugar para outro: tudo foge diante dele, tudo cede ao seu mpeto, sem poder obstar-lhe e, se bem que as coisas se passem assim, no menos verdade que os homens, quando volta a calma, podem fazer reparos e barragens, de modo que, em outra cheia, aqueles rios correro por um canal e o seu mpeto no ser to livre nem to danoso. Do mesmo modo acontece com
-
a fortuna; o seu poder manifesto onde no existe resistncia organizada, dirigindo ela a sua violncia s para onde no se fizeram diques e reparos para cont-la. (Maquiavel, 1973, p. 109)
O conceito de fortuna, como enunciado anteriormente, nos permite pelo menos duas concepes, segundo nfases diferentes dadas leitura. Ao final de uma primeira leitura parece ficar claro que a virt do homem pblico, acoplada ao prprio desen-volvimento da cincia e da tcnica, seria suficiente para contornar situaes que se apresentassem como incontrolveis. A construo de diques e reparos, ou seja, o conhecimento e o controle da natureza dessacralizada, proporcionaria maior margem de manobra aos atores. Por outro lado, uma leitura mais atenta no deixaria escapar que a fortuna "quase" nos deixa governar a metade de nossas aes. Portanto, a dramaticidade de certas situaes ata os atores envolvidos em um turbilho conduzido pelo destino.
Nesse sentido, as lies do autor devem ser relativizadas pelos acontecimentos.
Caminhamos para uma conquista certa?
Maquiavel foi, antes de tudo, um homem que se preparou para exercer atividades ligadas vida pblica. Ocupou a Secretaria da Chancelaria de Florena, secretariando tambm a Comisso dos Dez, ou seja, foi assessor poltico e representante diplomtico. Ao ser alijado da vida pblica, aps pouco mais de dez anos de servio, fez da pena seu instrumento de trabalho, para procurar influenciar a fortuna a seu favor. Assim, faz sentido a discusso entre Castruccio e o filsofo, quando o primeiro compara o segundo aos ces que esto sempre prximos dos que podem aliment-los melhor, recebendo a seguinte resposta: "Ao contrrio, somos como os mdicos, que vo casa dos que tm deles maior necessidade" (1982, p. 59).
Da mesma forma, desenvolveu o florentino o outro lado da virt, da astucia sem armas, e, portanto, tinha presente a sua incapacidade para a liderana de um povo disperso em um territrio dividido e corrompido. A sua sensibilidade, porm, conse-guia reconhecer na prosperidade do Renascimento Italiano as possibilidades para a formao de uma nao. Os reinos e cidades-Estado italianos apresentavam as caractersticas modernas: exrcitos, tributos, burocracia, diplomacia, economia mer-cantil etc. Para lidar com toda essa estrutura do Estado-Nacional por nascer, o condottiero deveria ter ao seu lado um administrador que entendesse da mquina pblica, que a fizesse funcionar, gerando efetivamente um aparato de dominao.
Diante das caractersticas citadas, uma mereceu ateno especial do autor. Maquiavel dedicou uma obra ao exrcito, onde aponta que a causa da falncia dos Estados italianos a falta de dirigentes que valorizassem os soldados:
Os italianos "no se desenvolveram como soldados por si prprios, sendo hoje criticados em todo o mundo. Contudo, no so culpados os povos, mas seus dirigentes, castigados, e que pagam um
-
justo preo pela sua ignorncia, perdendo ignominiosamente o poder, sem dar exemplo de valor. (..) No se deve crer jamais que se possa aumentar o prestgio das armas italianas seno pelo meio que apontei, empregado pelos soberanos de Estados poderosos da Itlia. algo que se pode fazer com homens simples, ntegros, no com os que so malvados, mal-orientados, ou com estrangeiros. No se encontrar um bom escultor que pense fazer uma bela esttua com pedao de mrmore mal-apropnado, mas sim com uma pea ntegra. (1982, p. 41)
Um exrcito popular, chefiado por um condottiero de virt, eleito pela fortuna, que viesse a transformar pela fora o fragmentado territrio em uma nao. Se se pode dizer que a obra de Maquiavel tem uma mensagem central esta.
Pensando nessa mensagem, muitos autores procuraram o pblico alvo do florentino. Para quem escrevia? Aos prncipes aos quais o autor dedica a obra, aos republicanos - como quer Rousseau (1973) -, ao prncipe "partido de massas" - como advoga Gramsci (1988) e criticado por isso por Claude Lefort (1980, p. 5-25). Talvez a leitura mais apropriada, em relao a essa problemtica, seja a de Horkheimer (1984), que considera que Maquiavel d lies aos prncipes e aos seus inimigos, j que no est preocupado com a sorte do monarca, mas sim com que se promova o poder e a grandeza do Estado burgus enquanto tal. A sociedade burguesa nascente necessita de segurana como condio fundamental para o desenvolvimento das foras produ-tivas. S um Estado-burgus poderoso ser capaz de alargar as capacidades do comrcio e da indstria, fortalecendo as foras econmicas e controlando as novas relaes sociais, que se desenvolvem rapidamente.
Na verdade, o autor florentino olha para o absolutismo na Frana, na Inglaterra ou na Espanha, enquanto no territrio italiano a "Santssima Liga" assinada em 1454 demonstrava que Milo, Veneza, Florena, Npoles e o Papado tinham fora para manter sua independncia mas no eram fortes o suficiente para subjugar os demais.
Maquiavel (1453-1527) tem, ante esse quadro, os olhos postos em um horizonte distante do seu tempo. Sua obra se constri entre a escolstica e as utopias - como a de More (1478-1535), a de Bacon (1558-1626) ou a de Campanella (1568-1639). O seu prncipe no tem nada em comum com aquele "dever ser moral" esboado por Erasmo de Rotterdam (1465-1536), mas um homem que carrega todas as determi-naes do mundo em que vive e que incorpora uma fora de transformao, uma virt, suficiente para impor fortuna os desgnios de um devir necessrio: o "bem-comum" s ser possvel atravs de um Estado que exera a dominao.
Na luta pela conquista desse devir, as condies materiais de existncia se transformaro, e a moral da "no-ao" cair no esquecimento da histria de Florena:
Caminhamos para uma conquista certa, porque aqueles que nos poderiam impedir so desunidos e ricos: a sua desunio nos dar a vitria, e a sua riqueza, quando tornar-se nossa, ns a manteremos. No se deixem desanimar por aquela antigidade do sangue que eles dizem ter; porque todos os homens tm a mesma origem, so igualmente antigos; a todos a natureza fez iguais. Dispam a todos e vocs ver-se-o iguais, vistam as vestes deles e eles as nossas e vero, sem sombra de dvida, em ns a aristocracia e neles o populacho; porque somente a pobreza e a riqueza nos faz diferentes. Di em mim perceber que muitos de vocs se arrependem de nossas aes por escrpulos e se sentem inseguros para continuar. Se isso verdade, vocs no so os
-
homens que eu acreditava que fossem, porque nem a conscincia nem a vergonha devem assust-los. Aqueles que vencem no se preocupam com os meios que empregam e jamais se envergonham. Ns no podemos ouvir a voz da conscincia; porque onde existe, como existe em ns, o medo da fome e crcere, no pode nem deve existir o medo do inferno. Mas se vocs observarem o modo de proceder dos homens, vero que, todos aqueles que conseguiram grandes riquezas e grande poder, fizeram-se ou com fraude ou com violncia, e depois de ter conseguido suas posses atravs desses meios, para esconder a torpeza de suas aquisies, mascaram-nas sob o ttulo de conquista e ganho. Quem por pouca prudncia ou por imbecilidade evita esses meios, afoga-se sempre na servido e na pobreza; porque os criados fiis so sempre criados, e os homens honestos so sempre pobres;... (Maquiavel, 1927, p. 231-2, traduo do autor)
A realidade concreta italiana da Renascena, porm, impe-se a Maquiavel. As foras da natureza afastam Csar Brgia do concilio para a sucesso de Alexandre VI. Castruccio Castracani morre sem poder desfrutar a vitria sobre Florena. Os reveses da poltica se apresentam ao nosso autor, que se preparara durante toda a vida -cultivando a astcia sem armas, formando-se na filosofia poltica - para exercer a funo pblica em um Estado moderno e que depois de um breve perodo no se apresenta como personagem confivel aos donos do poder.
Agradecimento
A Amneris Angela Maroni, pelos comentrios realizados primeira verso deste texto.
BIZELLI, J. L. The hours for the prince. Perspectivas, So Paulo, v. 15 p. 21-31, 1992.
ABSTRACT: This paper tries to understand the structure of the machiavelic thought through the tension that exists among some of this fundamental of political activity. In the case, the "will" of transformation of the authors who want the power and the historical determinations.
KEYWORDS: Will; historical transformations; domination; State.
Referncias bibliogrficas
ANDERSON, P. Linhagem do Estado absolutista. So Paulo: Brasiliense, 1985. ESCOREL, L. Introduo ao pensamento poltico de Maquiavel. Braslia: Ed. UnB, 1979. GRAMSCI, A. Maquiavel, a poltica e o Estado moderno. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1988. HORKHEIMER, M. Origem da filosofa burguesa da histria. Lisboa: Presena, 1984.
-
LEFORT, C. As formas da histria. So Paulo: Brasiliense, 1979. . A primeira figura da filosofia da praxis: uma interpretao. In: QUIRINO, C. G.,
SOUZA, M. T. S. R. (Org.). O pensamento clssico: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. So Paulo: T. A. Queiroz, 1980.
MAQUIAVEL, N. A arte da guerra, a vida de Castruccio Castracani, Belfago (o arquidiabo). O Prncipe. 2. ed. Braslia: Ed. UnB, 1982.
. Comentrios sobre a primeira dcada de Tito Livio. Brasilia: Ed. UnB, 1979.
. Isto ie forentme. Milano: Istituto Editoriale Italiano, 1927. 2v.
. O Prncipe. So Paulo: Abril Cultural, 1973. MARTIN, A. V. Sociologia delrenacimiento. Mxico, D. F.: Fondo de Cultura Econmica, 1966. ROUSSEAU, J. J. Do contrato social. So Paulo: Abril Cultural, 1973.



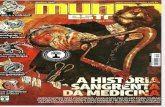










![WB CAT MOTO MAGNETRON - wbcomponentes.com.br · cachimbo de vela c/ supressor biz 100 [12 em diante] / biz 110i 41372 0058.093.000 cachimbo de vela c/ supressor compatÍvel nxr 125](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5c4124ec93f3c338be2f7aa2/wb-cat-moto-magnetron-cachimbo-de-vela-c-supressor-biz-100-12-em-diante.jpg)