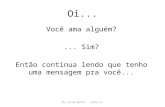Brasil Ame-o ou... Ria Dele
-
Upload
rodrigo-seixas -
Category
Documents
-
view
230 -
download
3
description
Transcript of Brasil Ame-o ou... Ria Dele
A velha nova patota:HENFIL/ZIRALDO/ANGELI/GLAUCO/LATUFF
DOCUMENTÁRIO: sua origem, sua história,
e linguagem!
BRASIL, AME-OOU...RIA DELE!
Um estudo das charges no período da ditadura militar brasileira.
N.º 1 - São Paulo, dezembro de 2013 - Centro Universitário SENAC
E MAIS, tudo o que você deveria saber sobre
o golpe de 64, mas teve preguiça de perguntar .
Rodrigo Martin Seixas
Curta documentário
EXCLUSIVO com historiadores,
sociologos, chargistas
e ex-militantes.
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
Rodrigo Martins Seixas
Brasil, ame-o ou…ria dele! Um estudo das charges no período da ditadura militar brasileira.
São Paulo2013
Rodrigo Martins Seixas
Brasil, ame-o ou…ria dele! Um estudo das charges no período da ditadura militar brasileira.
São Paulo2013
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Campus Santo Amaro, como Exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda.
Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Cândida de Almeida Castro
S462b Seixas, Rodrigo Martins
Brasil, ame-o ou...ria dele!Um estudo das charges no período da ditadura militar brasileira/ Rodrigo Martins Seixas – São Paulo, 2013. 120 f. : il. color. Orientadora: Maria Cândida Almeida Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Publicidade e Propaganda) – Centro Universitário Senac, São Paulo, 2013.
1. História 2. Documentário 3. Ditadura militar no Brasil 4.
Charges I. Almeida, Maria Cândida (Orient.) II. Título CDD 659.1
Rodrigo Martins Seixas
Brasil, ame-o ou…ria dele! Um estudo das charges no período da ditadura militar brasileira
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Campus Santo Amaro, como Exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda.
Orientador: Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Cândida de Almeida Castro
A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão, em sessão pública realizada em ___/___/___, considerou o(a) candidato(a):
1) Orientadora(a)
2) Examinador(a)
3) Presidente
Esse trabalho é para aqueles que me fizeram viver no mundo da lua olhando para uma folha de papel.
À minha namorada por aguentar os vários fim de semana sem me ver, aos noites mal dormidas e ainda sim ficar do meu lado amo-te. Aos amigos que apesar da ausência estiveram por perto para discutir esse trabalho ou qual seria o melhor nome de uma hambúrgueria, ou até se o Ryu é melhor que o Ken. Ao meu irmão que, apesar da guerra psicológica, me ajudou em todas as filmagens, esse trabalho não sairia sem você, seu encrenqueiro. Ao meu pai pelo apoio e preocupação todas as quartas e domingos, valeu velhinho, eu prometo usar calças em noites frias. Aos professores e professoras, Camila, Carmo, Juliano e Mônica vocês com certeza fizeram a diferença para este trabalho. À melhor orientadora que um aluno poderia querer, Cândida você me ensinou que um bom trabalho se faz lendo nas entrelinhas dos meus pensamentos e o que importa não está nas referências, mas no que criamos através delas. Mais que isso me mostrou que todo bom trabalho, sempre vem cheio de recompensas, mesmo que as vezes esses tesouros fiquem guardados em nossas próprias cabeças. Por último à minha mãe, por toda a ajuda em um milhão de coisas, pelo apoio e preocupação, por sempre me apoiar e por me moldar a ser quem eu sou. Eu te devo muito mais do que
você imagina, te amo mãe.
“Eu posso não ter ido para onde eu pretendia ir, mas eu acho que acabei terminando onde eu pretendia estar”.
Douglas Adams
Resumo
Este trabalho tem como objetivo discutir a produção de charges que tratam das questões sociais e políticas provocadas pelo impacto da ditadura militar no Brasil. Essa analise foi feita para descobrir se esse material publicado tinha como função uma ampliação da consciência das massas contra o regime militar e assim tentar convencer o povo a lutar pelos seus direitos ou se essa era a maneira que os chargistas que criavam essas narrativas acharam para apaziguar o peso dessa época. O trabalho também busca discutir como era possível nesse período de tanta dor se fazer rir sem que o humor banalizasse a situação política. Além da análise do objeto foram feitas pesquisas sobre a história da ditadura militar no Brasil, para descobrir quais personagens e momentos históricos poderiam ter uma maior proximidade com o tema. Para complementar o trabalho proposto, existe também a criação de um projeto experimental no formato de vídeodocumentário que complementa o trabalho escrito para a elucidação das questões já apresentadas. O desenvolvimento deste documentário, está enbasado teoricamente nas discussões sobre cinema, linguagem videográfica e política dentro do próprio documentário. Assim, este trabalho está dividido em três capítulos: o primeiro em que se discute as questões teóricas do documentário, o segundo que trata do período da ditadura militar no Brasil, do conceito de charge e sua linguagem e fecha com uma análise de cinco charges. Por fim, o terceiro capítulo que mostra a evolução do projeto experimental criado.
Palavras-chave: 1. Charges. 2. Ditadura militar no Brasil. 3. Vídeodocumentário.
Abstract
This Project is focused on discuss the production of political cartoons who dealing with social and political issues caused by the impact of the military dictatorship in Brazil.This analysis was made in order to discover if the published material had the intention to amplify the awareness of the people against the military regime, and try to convince people to fight for their rights or if that was the way cartoonists created narratives to make peace due the heaviness of the moment. Further on, it will be discussed how was possible for the artists to make people laugh during those hard times without making humor something banal. Research about the dictatorship history was made to find out which characters and historical moments could be closer with the theme. A documentary video was made as complement to the written project. The creation of the documentary is supported by cinema, video graphic language and politics knowledge. The project was divided in three chapters: the first one consists in discussing theoretical questions about the documentary. The second one is about the military dictatorship in Brazil, and charges concepts and its speech; five charges were analyzed at the end. The third and final chapter shows the evolution of the experimental project.
Keywords: 1. political cartoon. 2. Military dictatorship in Brazil. 3. Videodocumentary.
LISTA DE IMAGENSCapa Charge de Henfil .....................................................................................................................................1Figura 1 Frame do filme “Kino-Pravda”, de Dziaga Vertov ....................................................................28Figura 2 Frame do filme “Um Homem com uma Câmera”, de Dziaga Vertov .................................29Figura 3 Frame do filme “L’Arrivée d’un train à La Ciotat”, dos irmãos Lumière ......................... 30Figura 4 Frame do filme “Passagens no. 1”, de Anna Bella Geiger ................................................... 35Figura 5 Frame do filme “Cine-Olho”, de Dziaga Vertov ........................................................................ 39Figura 6 Retrato Serguei Eiseinstein ...........................................................................................................40Figura 7 Retrato Dziaga Vertov ........................................................................................................................42Figura 8 Frame do filme “Coríntios 14:23”, de Cândida de Almeida .................................................45Figura 9 Frame do filme “Maioria Absoluta”, de Leon Hirszman ........................................................49Figura 10 Foto da Passeata dos 100 mil, de Evandro Teixeira ...............................................................54Figura 11 Charge de Angeli ............................................................................................................................... 55Figura 12 Charge de Luiz Osvaldo Rodrigues.............................................................................................. 56Figura 13 Charge sobre o presidente João Goulart .................................................................................. 57Figura 14 Charge de Henfil ................................................................................................................................. 60Figura 15 Charge de Laerte ................................................................................................................................ 63Figura 16 Charge de Ziraldo .............................................................................................................................. 66Figura 17 Charge de Mino .................................................................................................................................... 73Figura 18 Charge de Carlos Latuff .................................................................................................................... 75Figura 19 Charge de Henfil .................................................................................................................................. 79Figura 20 1ª Charge a ser publicada no Brasil, por Manuel Araujo Porto-Alegre ........................82Figura 21 Charge de Carlos Latuff ................................................................................................................... 83Figura 22 Charge de Chico Caruso ................................................................................................................. 88Figura 23 Charge de Ziraldo ...............................................................................................................................92Figura 24 Charge de Henfil ..................................................................................................................................94Figura 25 Charge de Angeli ................................................................................................................................ 96Figura 26 Charge de Glauco............................................................................................................................... 98Figura 27 Charge de Carlos Latuff ................................................................................................................. 100Figura 28 Projetor de filmes antigo ...............................................................................................................102Figura 29 Alunos da UNE comemoram ......................................................................................................... 110Contracapa Charge de Henfil ................................................................................................................................120
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................25
OBJETO DELINEADO ........................................................................................................................................26
RECORTE ...........................................................................................................................................................26
1. LINGUAGENS DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO .............................................................................................29 1.1. A origem .......................................................................................................................................30 1.2. A linguagem do vídeo .............................................................................................................35 1.3. O vídeo documentário ............................................................................................................39 1.3.1. Serguei Eiseinstein .................................................................................................40 1.3.2. Dziga Vertov ...............................................................................................................42 1.3.3. O vídeo documentário, da descrição a linguagem. ...................................45 1.4. Os documentários políticos brasileiros ........................................................................49
2. O DESENHO DA DITADURA ........................................................................................................................55 2.1 A ditadura .....................................................................................................................................56 2.1.1. O pré-golpe ..................................................................................................... 57 2.1.2. O Brasil militar ..............................................................................................60 2.1.3. A linha dura ....................................................................................................63 2.1.4. A ditadura oficializada - a.I. 5 .................................................................66 2.1.5. O começo do fim ........................................................................................... 73 2.1.6. É proibido – a censura e suas caras .................................................... 75 2.1.7. É proibido proibir - a arte contra a ditadura ..................................... 79 2.2 O desenho ....................................................................................................................................82 2.2.1. O gênero charge .......................................................................................................83 2.2.2. A política no riso – as charges no período militar ....................................88
SUMÁRIO
SUMÁRIO 2.2.2.1. Ziraldo – Jornal do Brasil ......................................................................92 2.2.2.2. Henfil – A volta da Graúna ....................................................................94 2.2.2.3. Angeli - II Salão de Humor de Piracicaba ......................................96 2.2.2.4. Glauco - IV Salão de Humor de Piracicaba ....................................98 2.2.2.4. Latuff - Internet .......................................................................................100
3. RECONTANDO A HISTÓRIA .....................................................................................................................103 3.1. Pré-roteiro ................................................................................................................................103 3.1.1. Indicação do tema .................................................................................................103 3.1.2. Descrição do problema .......................................................................................103 3.1.3. Eleição e descrição dos objetos .....................................................................104 3.1.4. Eleição e intenções sobre os entrevistados ..............................................104 3.1.5. Carta de apresentação ........................................................................................106 3.1.6. Questões em pauta ...............................................................................................106 3.2. Produção ..................................................................................................................................109 3.2.1. Momentos .................................................................................................................109 4. CONCLUSÃO ................................................................................................................................................ 111
5. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 115
25
INTRODUÇÃO
A história do Regime Militar no Brasil já foi vista de vários ângulos, a grande maioria deles relatos pesados e tristes sobre uma época em que a vida não foi fácil. São livros, filmes, peças de teatro, várias histórias contadas nas mais dife-rentes plataformas, mas, na sua maioria, com o mesmo ponto em comum: mostrar a perseguição, a tortura e falta de liber-dade política e de expressão. Talvez, essa foi a forma que autores e criadores, des-sas histórias, acharam para, não só mos-trar a todos os horrores dessa época, mas também homenagear àqueles que sofre-ram algum tipo de violência e assim liber-tar seus demônios.
Entre tantas manifestações artísticas, esta pesquisa foca nas charges que ti-nham o objetivo de revelar a real situação do país, porém de forma mais inteligen-te e bem humorada. Esse tipo de produ-ção conseguiu atingir um número muito maior de público sem sofrer tanta opres-são do regime militar, que muitas vezes acabava não entendendo o conteúdo ca-muflado e de duplo sentido escondido nesse tipo de mídia.
As pessoas responsáveis por essa visão diferenciada eram os chargistas que usa-vam as mídias de massa impressas para passar sua mensagem de uma forma que o grande público pudesse absorver, tan-to consciente como inconscientemente, e assim criar ou fortalecer um senso críti-co contra o regime. Apesar da força e da mensagem tão persistente quanto das
outras mídias, a perseguição contra essa forma de protesto teve um atraso e até certo tipo de “leveza” durante o regime. A visão criada por esses “ilusionistas”, mes-tres da síntese, conseguiu na pior fase da história recente do Brasil fazer com que muitos sorrissem.
Este trabalho tem como proposta analisar as charges produzidas durante a ditadura no Brasil com o objetivo descobrir se essa produção humorística anti-regime militar foi construída para ampliar a consciência da massa e instigar o povo na luta con-tra a ditadura ou era a forma que esses artistas encontraram para aliviar o peso dessa época tão conturbada. Além disso, busca-se discutir, ainda, como era possí-vel diante da dor fazer rir sem banalizar o humor.
Com o estudo dessas charges e do ba-ckground da época, o projeto também tem como produto final a construção de um documentário audiovisual que vai se aprofundar nos relatos vividos de char-gistas, sociólogos e militantes para con-seguir tirar uma conclusão sobre as moti-vações que levaram os chargistas a fazer esse trabalho de humor sociopolítico. Para isso é fundamental entrevistas com alguns desses artistas, que criavam a arte nos jornais e revistas; de estudiosos da área da sociologia, história e de pessoas que estiveram diretamente ligados com a luta contra o regime militar.
26
OBJETO DELINEADO
RECORTE
Alguns autores chaves serão tra-balhados para cada área de interesse. No caso do audiovisual o principal nome será o de Arlindo Machado, grande estudioso brasileiro da sétima arte no mundo e no Brasil. Suas duas obras escolhidas como referencias para a pesquisa devem auxi-liar não apenas a criação do documentá-rio, mas também servir como um olhar de um especialista dentro da área do audio-visual sobre o período da ditadura. Para o capítulo sobre as charges partiremos
Apesar do tema aparentemente apresentar certa abrangência e o contexto ser conside-rado longo (1969 até 1984) o recorte delimitado propõe um foco sobre o tema. Isso por-que o objeto de análise passa a ser cinco charges de cinco artistas diferentes. Ziraldo, Glauco, Henfil, Angeli e Latuff.
dos estudos de Onici Flores e a análise do material produzido por Ziraldo, Henfil, Angeli, Glauco e Latuff; além de levanta-mento em jornais e revistas que abriram espaço para tais publicações. Entre as várias fontes, a principal escolhida foi o folhetim, que era referência na luta con-tra a ditadura de forma bem humorada e que usava os quadrinhos como princi-pal arma, o Pasquim. Essas são as fontes escolhidas como principais referências e ponto de partida para o estudo do tema.
O objeto de estudo desse projeto experi-mental são as charges que foram publica-das durante o período da ditadura militar no Brasil. Consequentemente, faz parte deste objeto os principais personagens e pontos de destaque da história brasileira que de alguma forma foram importantes para diminuir a força do regime militar
durante os anos de 1964 até 1985. Assim a análise da conjuntura histórica é ponto fundamental para entender quem são os artistas de maior destaque dentro do tema e do recorte proposto, e que podem agre-gar muito conteúdo ao documentário. Só depois do estudo e da síntese desse objeto será possível começar a produção do au-diovisual em forma de documentário.
29
1. LINGUAGENS DO VIDEODOCUMENTÁRIO
Esse primeiro capítulo tem como objeti-vo analisar e discorrer não apenas sobre a linguagem do documentário, mas tam-bém apresentar uma parte da história do cinema e do vídeo, passando pelo chama-do pré-cinema quando a linguagem sono-ra ainda não estava plenamente integrada ao produto cinematográfico. Tempo este, em que a chamada sétima arte começou a ser descoberta pelo público até chegar nas vanguardas cinematográficas e por fim na montagem soviética, onde o gênero docu-mentário ganhou força dentro do cinema,
através das experiências de Dziga Vertov (02/01/1896 – 12/02/1954) e Serguei Eisenstein (23/01/1898 – 11/02/1948). É parte integrante, ainda, das nossas dis-cussões, o levantamento e abordagem da utilização do videodocumentário no trato e representação das manifestações e mu-danças sócio-políticas, especialmente, no contexto brasileiro recente. Especifica-mente, tratamos, aqui, do contexto da di-tadura militar (1964 – 1984), período em que o país vivenciou um forte controle do Estado sobre a população.
30
1.1. A origem
Toda a história tem um começo, um ponto de partida que traz, na maio-ria das vezes, a primeira referência do objeto estudado. Esse começo é delimita-do não apenas para elaborar uma linha cronológica de acontecimentos que po-dem influenciar esse estudo no decorrer dos anos, mas também para mostrar que algumas vezes a pesquisa, por mais re-cente que ela pareça ser, pode começar a alguns milhares de anos atrás.
O vídeo é um desses casos. Des-cendente direto do cinema, o vídeo adqui-re contornos próprios da sua linguagem, na medida em que suas características se ligam a várias outras expressões artísti-cas, dando ao vídeo um caráter híbrido de linguagem. No entanto, afirma-se com toda clareza, que a sua origem está dire-tamente ligada à evolução da linguagem
cinematográfica. Linguagem, esta que al-guns estudiosos apontam como possível nascimento do discurso cinematográfico (mais especificamente, o uso da imagem em movimento) na própria história da hu-manidade.
Podemos buscar referências, ins-pirações e aproximações voltando a era pré-histórica, dentro do Paleolítico Su-perior, conforme nos alerta Machado (2011)1. O período magdalenense2 foi rico no que diz respeito às pinturas rupestres. Essas pinturas que antes eram conside-radas apenas relatos cotidianos feitos por aqueles “homens das cavernas”, agora são vistas em alguns casos como sessões de “cinema”. Isso porque foi constatado por pesquisadores e cientistas que ques-tionavam a superposição das formas e o porquê dessas pinturas terem sido feitas
1. No livro Pré-cinema e Pós-cinema, Arlindo Machado traz uma importante contribuição sobre a origem histórica da lingua-gem do cinema. Principalmente quando encontra em outros pesquisadores uma relação entre os desenhos rupestres e uma linguagem que poderia ser considerada cinematográfica, no sentido de apresentar a mesma técnica de ângulos de câmera, enquadramento e narrativa do cinema.2. O período Magdalenense é a última subdivisão do Paleolítico Superior, ocorreu entre os anos de 17.000 a.C a 9000 a.C.
31
no fundo das cavernas. A resposta, se-gundo Arlindo Machado é que:
[...] à medida que o observador se loco-
move nas trevas da caverna, a luz de sua
tênue lanterna ilumina e obscurece parte
dos desenhos: algumas linhas se sobressa-
em, suas cores são realçadas pela luz, ao
passo que outras desaparecem nas som-
bras (MACHADO,2011, p. 16).
Apesar dessas constatações não se pode dizer que o cinema começou ali, essa forma de entretenimento foi criada porque era a única forma que os homens pré-históricos conheciam para contar suas histórias. E até onde se sabe nunca houve pretensão para que o processo evo-luísse. Porém, como disse Wachtel (1993 apud MACHADO, 2011, p.16) “os artistas do Paleolítico tinham os instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente de um ci-neasta. Numa palavra, eles já faziam ci-nema underground”.
Os anos foram passando e houve-ram vários os relatos de olhares “cine-astas” ao longo dos séculos. Na Grécia o mito da caverna de Platão pode ser inter-pretado como uma das primeiras tenta-tivas, mesmo que apenas narrada, de se criar um “conceito mecânico” para “repro-duzir” a vida de forma animada. Mas se a concepção do pré-cinema começa tão an-tigamente por que a história dá um sal-to tão longo para onde os pesquisadores chamam de início do cinema?
Cinema é
“ci.ne.ma, sm (abrev de cinematógra-
fo) 1) Arte ou ciência da cinematografia.
2) Estabelecimento ou sala de projeções
cinematográficas. C. falado: projeção ci-
nematográfica em que se ouve a fala dos
atores, os sons decorrentes da própria
ação e outros, criados pelo diretor, para
produzir certos efeitos; cinema sonoro.
C. mudo: projeção cinematográfica não
acompanhada dos sons que caracterizam
o cinema falado. C. sonoro: o mesmo que
cinema falado (MICHAELIS, 2010 p.383).
A definição tirada do dicionário ajuda a estabelecer como hoje identifi-camos as principais características do cinema moderno e assim estabelecer um paralelo para descobrir quando elas co-meçaram a aparecer no decorrer da his-tória.
Foi no século XIX quando o “cine-ma” não passava de um aparelho técnico para cientistas decomporem o movimento e um espetáculo para as massas em fei-ras e circos que os primeiros protótipos do cinema moderno foram surgindo. Isso não ocorreu abruptamente e muito me-nos de forma pensada e elaborada. Sua evolução aconteceu por acaso por cau-sa dos avanços tecnológicos e principal-mente por causa de homens de visão que olharam para uma máquina de “animar fotos” e viram nela a oportunidade de co-locar um pouco de “ação” na vida.
Uma das primeiras “máquinas” que ajudaram a fazer o cinema surgir foram as projeções de lanterna mágica, “nas quais um apresentador mostrava ao público imagens coloridas projetadas numa tela, através do foco de luz gera-do pela chama de querosene, com acom-panhamento de vozes, música e efeitos sonoros” (COSTA, 2006, p.18). Depois dessa, vieram inúmeras outras que de alguma forma contribuíram para a evo-lução. Porém, é importante lembrar de
32
duas delas: a fotografia e o interesse de homens da ciência pelo uso, por exemplo, do cronofotógrafo3 criado pelo francês Etienne-Jules Marey para estudar os mo-vimentos dos seres vivos, “decompondo--os e congelando-os em uma sequência de registros” (MACHADO, 2011, p.17).
Essa segunda máquina, o crono-fotógrafo, teve relevância na história do cinema, pois apesar de ter sido inventada para que estudiosos analisassem imagens separadas de uma mesma ação também oferecia a oportunidade de recompor cada frame em uma tela para recriar o movi-mento. Apesar de parecer interessante essa função não servia para os objetivos dos cientistas, considerado por alguns como uma perda de tempo. Porém, para outras pessoas essa funcionalidade ofere-cida pelo cronofotógrafo era exatamente o que procuravam.
Os pioneiros do cinema foram Thomas A. Edison, americano que em 1893 patenteou nos EUA o quinetoscópio e os irmãos franceses Luis e Auguste Lu-mière. Edison sem data precisa, deve ter exibido seu filme entre 1894 e 1895, já os irmãos Lumière tiveram sua exibição em Paris no dia 28 de dezembro de 1895. Apesar de não terem sido os únicos e pro-vavelmente muito menos os primeiros fo-ram os que nesse início tiveram o maior reconhecimento pela sua realização.
Nesses primeiros anos as “ses-sões de cinema” eram apresentadas, no caso dos irmãos Lumière, em cafés. Es-ses locais eram ponto de encontro entre
amigos que iam até lá para ler jornais, beber, assistir apresentações teatrais e musicais. Nos EUA esses mesmos cafés eram chamados de vaudevilles e tinham quase que as mesmas características dos cafés franceses. A única diferença é a que esses espaços, diferentemente da França, não foram criados com o principal obje-tivo de se tornar um ponto de encontro para as pessoas, mas sim para serem um local onde a classe média podia encontrar entretenimento barato e diverso. Os vau-devilles tiveram sua origem nos salões de curiosidades, que segundo Flavia Costa,
podiam incluir atrações variadas: perfor-
mances de acrobacia, declamações de po-
esia, encenações dramáticas, exibições de
animais amestrados e sessões de lanterna
mágica (COSTA, 2006, p.20).
As características desses locais acabaram por se transformar em referên-cia de projeção para os filmes que eram criados para se adequar a esse espaço cultural. O reflexo está no tipo de mate-rial cinematográfico apresentado para o público, normalmente sem uma narrativa dentro das histórias e feitos com uma úni-ca tomada. Esse produto visual era per-feito para encaixar dentro da programa-ção tão variada desses espaços. E ainda para aumentar as chances de venda dos filmes, os produtores vendiam cada plano separadamente como filmes individuais, deixando a escolha do exibidor quais com-prar, como fazer a montagem do filmes, es-colhendo a ordem dos rolos, quais seriam os “efeitos sonoros” criados ao vivo e até a
velocidade das cenas apresentadas.
3. O cronofotógrafo inventado pelo fisiologista Etienne-Jules Marey, era uma máquina criada para a análise do movimen-to. Para isso ela decompunha o movimento em vários frames e assim congelava cada fração do movimento para que ele pudesse ser estudado. Pórem para o inventor do cronofotógrafo recompor cada frame “novamente numa tela, para fazer a imagem do animal “se mover”, era para ele uma total idiotice. Não era mais fácil olhar diretamente para o próprio animal?” (MACHADO, 2011, p.17).
33
Esses primeiros filmes foram mais caracterizados como produtos experi-mentais de cunho históricos, como docu-mentos. Isso porque o modo arcaico como foram filmados não se importava tanto para que a câmera fosse a representação do olhar de uma pessoa. Normalmente a visão da câmera é a visão de narrador que presencia certos momentos, percorrendo o olhar para o que chama mais a atenção ou se aproximando da ação para não per-der nenhum detalhe, para assim depois contar para os outros. Porém, esses pri-meiros filmes tinham um olhar estático, como o de quem olha pela fechadura e só pode esperar que os personagens acabem passando por aquela área que é o seu campo de visão. Segundo Noël Burch es-ses filmes apresentavam:
Composição frontal e não centralizada
dos planos, posicionamento da câmera
distante da situação filmada, falta de li-
nearidade e personagens pouco desen-
volvidos. Os planos abertos e cheios de
detalhes, povoados por muitas pessoas
e várias ações simultâneas, são a mar-
ca desse tipo de representação (BURCH,
apud MACHADO, 2006, p.23).
É importante perceber que essa falta de linearidade das narrativas não é considerada um déficit para a época, sim-plesmente porque o objetivo dos filmes não era contar histórias complexas, mas sim mostrar tudo que possivelmente iria agradar o espectador. Às vezes, a explica-ção da filmagem era sabida pelo próprio público e em outros casos um mediador fazia o papel de locutor/professor.
Assim, por conta dessas caracte-rísticas o cinema dessa época ficou co-nhecido como “cinema de atração”, pois
os cineastas estavam mais preocupados em mostrar essa novidade ao público e não importava tanto se existia conexão entre os planos ou se a história acabava não tendo começo ou fim. Assim, o gran-de triunfo dos “diretores” era prender a atenção do público na tela, fazendo com que ele se assustasse e se deliciasse com essa nova experiência. Essas atrações po-diam ser representadas como filmes de encenações de fatos reais, como guerras ou catástrofes; cotidiano, como fatos re-centes e passagem por outros lugares; vaudeville e até pequenas passagens de peças famosas.
Um dos grandes exemplos desses filmes de “mostragem”, em que a narrati-va não tinha grande importância para os objetivos do cineasta porque a relevância estava no ato de surpreender o público foi “L’Arrivée d’un train à La Ciotat” (A chegada do tem na estação), um dos pri-meiros filme dos irmãos Lumière que foi apresentado na famosa estreia em Paris no ano de 1895. Na ocasião desta apre-sentação a plateia foi a loucura, literal-mente, quando na tela a projeção come-çou a mostrar um trem vindo na direção das pessoas. As primeiras exibições des-te filme foram acompanhadas de gritos e muita correria, pois para aquelas pessoas que estavam vendo pela primeira vez uma projeção o trem era real e assim suas vi-das dependiam da fuga. Isso mostra que neste primeiro momento o cinema e seus criadores estavam mais preocupado em mostrar todo o “potencial” que o cinema poderia oferecer ao público.
Essa primeira época que teve iní-cio por volta dos anos de 1890 com os Lumière e Edison e durou até 1906, 1907 e foi chamada, como dito antes, de perí-
34
odo cinematográfico de “atrações”. Após essa primeira etapa os pesquisadores passaram a chamar os filmes produzi-dos entre 1907 e 1915 de “transicionais”. Esse segundo período teve esse nome, pois é exatamente a fase em que os ci-neastas e diretores começam a perceber que aquele buraco de fechadura pode ser muito maior do que eles haviam imagina-do. Foram nesses anos de transição que a técnica, propriamente dita, do cinema evoluiu.
A principal evolução não veio da técnica e sim da linguagem cinematográ-fica. Uma das razões para essa evolução foi que pela primeira vez as produtoras de cinema começaram a se organizar de for-ma industrial. Essa mudança propôs uma nova organização das etapas de produção e exibição para que houvesse uma arru-mação maior, colocando um “especialis-ta” em cada área para que o trabalho fos-se mais elaborado. Com essa divisão das etapas os cineastas puderam finalmente se concentrar na criação de filmes mais elaborados.
Com o tempo maior para pensar, os homens por trás das câmeras con-seguiram com que os filmes fossem ga-nhando mais conteúdo. Foram as narra-tivas mais elaboradas, que necessitam de técnicas evoluídas para serem contadas, as grandes culpadas. Com mais tempo de duração, os cineastas perceberam que os filmes precisariam ser feito com mais pla-nos, personagens mais elaborados, com motivações e vontades, enquadramentos diferentes e uma montagem clara para que o espectador entendesse essa nar-rativa. Não é preciso dizer que nos pri-meiros anos grande parte do público não entendia e encontrava certa dificuldade
para visualizar todas essas novas carac-terísticas que formavam uma história só. Para que o público entendesse a men-sagem a montagem cinematográfica teve que passar por inúmeras transformações. Logo no início das experimentações três tipos ficaram mais conhecidos e conse-quentemente foram os mais usados. A montagem alternada era utilizada para mostrar ao espectador ações que aconte-ciam ao mesmo tempo, porém em espaços diferentes. A montagem analítica tinha a intenção de “fracionar a cena” como diz Flavia Costa e...
(...)acontece quando se fraciona um espa-
ço em vários enquadramentos diferentes.
Em geral, adicionam-se planos aproxima-
do (cut-in) a planos mais abertos, com in-
tenção de tornar claro para o espectador
detalhes que não podem ser vistos no pla-
no geral (COSTA, 2006, p.45)
E por último a montagem em contigui-dade usada para passar a ideia de que o plano atual é a continuidade ou um lugar perto do plano anterior.
Entre vários nomes que começa-ram a se destacar em relação à montagem cinematográfica um americano ganhou mais reconhecimento. David Llewelyn Wark Griffith fez mais de 400 filmes du-rante 5 anos e ficou conhecido não ape-nas por fazer uma montagem que mistu-rava vários planos, mas principalmente pela forma como esse trabalho criava, segundo Flavia Costa (2006, p.47), “con-trastes dramáticos” que auxiliavam no aperfeiçoamento psicológico dos perso-nagem construindo julgamentos morais, tudo isso através da montagem. Nos fil-mes de Griffith percebemos “a mão do narrador, à medida que ele nos leva de
35
um lugar para outro tecendo uma nova continuidade narrativa” (GUNNING, opus MACHADO, 2006, p. 47). Essa interven-ção mascarada servia e ajudava o público a entender melhor a história através de uma narrativa em que as motivações dos personagens ficassem mais aparentes.
Por conta do talento de Griffith na montagem, os filmes norte americanos seguiram seu estilo, em que a monta-
gem era o instrumento fundamental. In-versamente, na Europa, preferiam “usar a profundidade do espaço e jogar com a encenação dentro do plano” (MACHADO, 2006, p.48). Isso porque a preocupação dos europeus estava na construção inter-na dos planos fazendo atuações mais ela-boradas e cenários aprimorados para que várias ações pudessem acontecer dentro de um mesmo plano. E assim esse modelo perdurou por muito tempo.
1.2. A linguagem do vídeo
Nos anos sessenta o cinema reina-va como mídia de audiovisual absoluta. Essa dominância da linguagem cinema-tográfica não era por causa de falta de
tecnologia ou meios técnicos insuficientes para criar outro tipo de produção audio-visual, mas sim uma questão de popula-rização. O cinema de película ainda era
36
a menina dos olhos de ouro, que conse-guia levar “multidões”, principalmente nos EUA e na França, esperando para ver seus sonhos acontecerem diante da tela.
Porém alguns artistas buscaram no vídeo uma alternativa para mostrar a sua arte. Em meados da década de 60, os trabalhos de “vídeo-arte, de um lado e as alternativas militantes (ou comunitárias), de outro” “experimentaram soluções de linguagem francamente opostas aos mo-delos praticados nos canais televisuais” (MACHADO, 2011, p.176). Provavelmente o que levou a experimentação dessa nova produção audiovisual foram as novas ca-racterísticas que a linguagem videográfica apresentava. Uma das diferenças físicas mais marcantes entre o vídeo e o cinema, segundo Machado era que:
No filme, a imagem é inscrita em fo-
togramas separados: entre um quadro e
outro, o obturador se fecha impedindo
a entrada de luz, e uma nova porção de
película virgem é empurrada para a aber-
tura. Esse movimento fragmentário, que
denuncia a base fotográfica do cinema é
dissimulado, entretanto por um dispositi-
vo técnico, para que se possa recompor a
ilusão de movimento. O vídeo, porém re-
talha e pulveriza a imagem em centenas
de milhares de retículas, criando necessa-
riamente outra topografia que, a olho nu,
aparece como uma textura pictórica di-
ferente, estilhaçada e multipontuada (...)
(MACHADO apud CARVALHO, 2008, p.58).
Esse desmembramento da ima-gem resulta em uma “qualidade inferior” em relação à película já que agora ela, imagem, não passa de um aglomerado de pontos e linhas, expressas em limites de resolução. E por essa diferença de qua-
lidade a linguagem utilizada não poderia ser mais a mesma. Por isso no nascimento da linguagem videográfica, os planos pre-cisam ser diretos, com close, mostrando detalhes em cenas mais fechadas. Além disso, o número de figurantes que podem aparecer ao mesmo tempo durante um plano também fica reduzido, pois quanto mais informação na tela, maior a chance das figuras se transformarem em borrões.
Vale lembrar, também, que dife-rente da linguagem cinematográfica que predispõe de determinados padrões pré--fixados, o vídeo não impõem nenhum tipo de “regulagem” para orientar a cria-ção videográfica. As características “im-perfeitas” que vêm junto do vídeo, como a qualidade da imagem, também servem em muitos casos para fazer parte do tra-balho, como no caso do filme Passagens no. 1 (1974), “de Anna Bella Geiger, em que a artista sobe lentamente uma esca-daria. Dependendo do ângulo e da distân-cia que a câmera enquadra a mulher, a escada lembra remotamente as precárias linhas de varredura do primeiro dispositi-vo de vídeo” (CARVALHO, 2008, p. 59). Ou então no caso do documentário Coríntios 14:23 (2001) de Cândida Almeida e Ricar-do Lanza em que a falta de iluminação do vídeo feito no “morrão” de Belo Horizonte durante a madrugada acaba deixando a qualidade inferior ao normal, porém essa escolha era fundamental para que o es-pectador sentisse a mesma sensação de quem estivesse do outro lado da lente da câmera. Ou seja, optar por aumentar um déficit “natural” do vídeo foi mais do que necessário para transmitir a mensagem.
Além disso, por consequência do tipo de material criado através da lingua-gem videográfica (ao menos no início),
37
uma banda magnética juntava áudio e vídeo em um único produto, tendo como resultado o “verbo”. O vídeo podia brin-car com o que Santaella (2000) chama de matrizes de linguagem e pensamento que exercem “um papel fenomenológico em produções criativas” (ALMEIDA, 2012, p.100). Essas matrizes além de darem o auxílio para a criação videográfica e vá-rias outras, têm como função serem “ali-cerces para outras formas perceptivas como o olfato, tato, paladar, de maneira mediada, ou seja, como uma sugestão, uma sinestesia” (ALMEIDA, 2012, p.101). Assim quando algum sentido seu é ati-vado, como quando você vê um pequeno “take” de um delicioso chocolate derretido sendo esparramado quase que no mes-mo instante é possível sentir o gosto do chocolate na boca mesmo que não exis-ta nenhum tipo ativador. Assim podemos supor que alguns desses sentidos tra-balhados pelas matrizes de linguagem e pensamento estão fazendo um trabalho de substituição. Ou como Santella (2001, p. 78) explica: “Os processos perceptivos que não fazem linguagens, porque são mais moventes, sutis, viscerais, encon-tram moradas transitórias nas lingua-gens do som, da visão e do verbal”.
O vídeo é considerado, por Arlindo Machado, um “sistema híbrido” que não apenas agrega outras linguagens e códi-gos vindos do cinema, teatro, literatura, rádio e posteriormente da computação gráfica, mas também é uma ferramen-ta que “reprocessa as formas de expres-são colocadas em circulação por outros meios, atribuindo-lhes novos valores, e a sua “especificidade” (...)” (MACHADO, 2011, p.175). Por isso podemos dizer que a marca forte do vídeo é, justamente, abrir-se a experimentações, uma vez que
ela possibilita misturas sígnicas na natu-reza da linguagem. Decorre daí o fato de o vídeo originar tantas derivações, como o vídeo documentário, vídeo arte, vídeo cli-pe, entre outros.
O autor ainda enxerga que algu-mas “tendências” estão presentes em um número considerável de vídeos e uma delas é a limpeza de códigos dentro da linguagem. Isso porque, como já foi fa-lado anteriormente, o vídeo no seu início tinha várias diferenças com o material cinematográfico, principalmente em rela-ção à qualidade do produto final. Assim, para suprir esse déficit, segundo Macha-do (2011) “a maneira mais adequada e mais comunicativa de trabalhar com ela é pela decomposição analítica dos moti-vos”. Conclui-se, portanto que técnicas de aproximação, como o close up, eram fundamentais, pois o resultado dessa de-composição são relatos de um todo atra-vés do detalhe, (enquadrado pela câmera) do fragmento que “são articulados para sugerir o todo, sem que esse todo, entre-tanto, possa jamais ser revelado de uma só vez” (MACHADO, 2011, p. 175). Con-sequentemente por causa dessa grande frequência de planos fechados, o enqua-dramento videográfico é, em sua maioria, minucioso onde cada detalhe tem impor-tância para a montagem do trabalho. Por outro lado, aquilo que não traz importân-cia tem uma estilização abstrata deixan-do tudo mais compreensível, quando esse é o objetivo. É exatamente essa escolha de mostrar apenas o que importa e tentar fazer desaparecer aquilo que é irrelevante que pode ser chamada de limpeza de có-digos. Ela acontece não apenas no âmbito visual, mas também no áudio que acom-panha a imagem.
38
Para que essa limpeza seja eficien-te as figuras de linguagem que predomi-nam na linguagem videografica são a me-táfora e a metonímia4, já que a primeira é usada para que as imagens mostradas sejam colocadas de forma a induzir o es-pectador a encontrar ali algum tipo de relação imaterial. A segunda é utilizada para mudar o sentido entre as imagens ou até para que certa imagem consiga “re-presentar” outra. Assim os diretores po-diam chegar a um novo conceito juntan-do duas imagens de significados opostos. Por exemplo, fazendo uma sobreposição de imagens de nuvens com pessoas ner-vosas, provavelmente o resultado para o espectador será que de que uma tempes-tade o aguarda nos próximos minutos de filmes. Esse processo muito parecido com o modelo de escrita oriental foi criado por Serguei Eisenstein e tinha a função de fazer o espectador se sentir estimulado a “ler” as articulações dos planos e forçar a emergência do “olho intelectual”. (MA-CHADO, 2011, p.179) E o autor continua: “se o quadro se esvazia, se o seu conteú-do tende a estilização ou a abstração, a significação migra necessariamente para fora de seus limites, ou seja, para a rela-ção entre um quadro e outro[...]”. Quando esse estímulo chega de forma correta ao espectador essa montagem eisensteinia-na faz com que a articulação das imagens possa ser criada por quem vê. E também proporciona a criação de novas ideias abstratas que não estão visíveis, tudo isso através do jogo entre metáforas, e meto-nímias e as imagens (CARVALHO, 2008,
p.62). Assim, podemos dizer que nesse processo tanto a sinestesia já comentada antes, quanto a utilização das duas figu-ras de linguagens revelam-se
como um importante instrumento de am-
plificação das propriedades estéticas da
poética, tornando a relação público-obra
uma relação mais aberta (sistêmica), uma
troca, em que o público deverá debruçar-
-se perceptiva e cognitivamente para al-
cançar sua interpretação. Não falamos do
esforço intelectual, mas de processos em
princípios emocionais que a partir das
sensações provocadas, levarão o especta-
dor ao um novo processo de significação
(ALMEIDA, 2012, p.102).
Isso mostra que a linguagem vide-ográfica tem um objetivo de se aproximar mais do público para que o vínculo criado seja a ponte para o entendimento do que é visto. Assim o vídeo tende a usar mais ferramentas sensoriais para que o choque dessa relação ultrapasse o visual e atinja outros sentidos.
4. Segundo Romam Jakobson em seu livro Linguística e Comunicação metáfora e metonímia podem ser explicadas da seguinte maneira: “Uma semelhança parcial entre dois significados pode ser representada por uma semelhança parcial entre os significantes [...], ou, ainda, por uma identidade total entre os significantes [...]. Astro (star) significa ou um corpo celeste ou uma pessoa — ambos dotados de um brilho soberano. A hierarquia instituída entre dois sentidos — um primá-rio, central, próprio, independente do contexto; e o outro secundário, marginal, figurado, emprestado, ligado ao contexto — constitui um traço característico deste gênero de pares assimétricos. A metáfora (ou a metonímia) é a vinculação de um significante a um significado secundário, associado por semelhança (ou por contiguidade) com o significado primário” (JAKOBSON, 2007, p.57).
39
1.3. O videodocumentário
Não se pode falar em vídeo docu-mentário sem citar dois nomes, Serguei Eisenstein e Dziga Vertov. Os dois russos, os dois jovens, os dois soldados do exérci-to vermelho e os dois nomes mais influen-tes na criação da linguagem videográfica e do vídeo documentário.
Depois da revolução de 1917 a indústria cinematográfica Rússia estava tão destruída quanto o governo do último czar Nicolau II, os donos dos estúdios e trabalhadores da área acabaram fugin-do do país com medo de perder mais que o seu dinheiro. Para não ficar sem essa “arma” social o novo estado russo se viu obrigado a reorganizar a indústria cine-matográfica. Essa decisão teve dois la-dos bem distintos, mas que foram fun-damentais para a evolução do cinema e das posteriores linguagens audiovisuais, pois “por um lado possibilitou uma radi-cal reinvenção da atividade cinematográ-fica, como talvez nenhum outro momento
da história, por outro, os caminhos dessa nova era ficaram a mercê das disputas políticas” (SARAIVA, 2006, p.109).
40
1.3.1. Serguei Eiseinstein
É nesse cenário que o ex-estudante de en-genharia Serguei Eisenstein viu a opor-tunidade de mudança. Largou tudo e foi trabalhar no exército, na organização de peças e espetáculos teatrais para os sol-dados. Só depois da guerra civil que o jo-vem cineasta começou a se envolver com a linguagem cinematográfica. Trabalhou no Proletkult (primeiro teatro operário), onde começou a desenvolver o que ele chamava de “teatro de agitação”. Esse te-atro tinha como objetivo ser mais dinâmi-co e até certo ponto excêntrico para que o público se sentisse mais “incomoado” com o que se passava em cima do pal-co, tanto positiva, quanto negativamente.
Por isso o uso dos estímulos sensoriais e emocionais eram muito fortes nesses es-petáculos criados por Eisenstein.
O tempo que passou no teatro ser-viu para que ele evoluísse tecnicamente e consolidasse um estilo próprio que mar-caria suas produções com técnicas como a montagem do cine-punho5 que funcio-nava através de choque dos estímulos no público. Para Eisenstein “a bela palavra “montagem” significa a ação de armar algo. O conjunto das unidades, que, as-sociadas num todo, recebem essa dupla significação [...] (EISENSTEIN apud SA-RAIVA, 2006, p.118). Isso mostra o quão
5. Cine-punho foi um termo criado por Serguei Eisenstein para denominar o tipo de cinema criado por ele. O cine-punho tinha como objetivo forçar ao extremo o entendimento do público sobre sua montagem cinematográfica. Para isso o cineasta criava um “choque reflexologico” (STAM, 2000, p.57). Que através de uma montagem de atrações “propunha um estética carnavalesca que favorecia os pequenos blocos em forma de esquete, as viradas sensacionais e os momentos mais agressi-vos como o rufar de tambores, saltos acrobáticos e clarões repentinos de luz, os quais eram organizados em torno de temas específicos e concebidos para provocar um choque salutar no espectador […] Eisenstein falava em “Uma abordagem dialéti-ca a a forma cinematográfica”, falava de “conflito”: “No domínio artístico, o principio dialético da dinâmica corporifica-se no conflito, como fundamento da existência de toda e qualquer obra de arte ou forma artística”. (STAM, 2000, p.57).
41
era importante para o cineasta a monta-gem e como ele já pensava em uma forma diferenciada de apresentar a narrativa ao público. Essas narrativas criavam várias cenas que, quando associadas, transfor-mava o conjunto em outra significação. A montagem criada por Eisenstein tinha o propósito de mobilizar o público emo-cional e até fisicamente para que no final quem estivesse assistindo conseguisse identificar o caráter ideológico de tudo que foi exposto durante a apresentação. Atingir o público no seu âmago é função de vários aspectos considerados “violen-tos” ao espectador, como a personalida-de muito “forte” de um personagem, um toque para atingir os tímpanos ou até a caracterização espalhafatosa de uma rou-pa. “Ou seja, todo elemento que subme-te o espectador a uma ação sensorial ou psicológica, experimentalmente verifica-da e matematicamente calculada, com o propósito de nele produzir certos choques emocionais [...] (SARAIVA, 2006, p.120). O “cine-punho” era o resultado desse choque, que além de impactar o público tinha a intenção de abrir os “olhos inte-lectuais” e como foi dito anteriormente, forçar a leitura das articulações dos pla-nos através da metáfora e da metonímia, entre outras. Criando assim um cinema de impacto escrachado.
Em “A greve” (1925), o primeiro longa-metragem de Serguei Eisenstein, ele experimenta os conceitos já citados para a criação de um “estudo sobre a gre-ve como momento privilegiado de auto-consciência proletária” (SARAIVA, 2006, p.120). O filme conta a história de uma greve que começa após o suicídio de um operário que estava sendo acusado in-justamente de um roubo. A narrativa
é composta em cima de seis “blocos”: a agitação, estopim para greve; fábrica pa-rada, inatividade e miséria dos grevistas; provocações dos infiltrados e repressão violenta. Logo no início, dentro do bloco da agitação, podemos perceber a forma “caricaturizada” como os donos das fá-bricas e seus “apoiadores são represen-tados. São glutões que fumam charuto e bebem whisky representando o capitalis-mo como um gordo. Nessa cena é possível ver o uso do “cine-punho”, pois é criada uma metáfora muito boa para os comu-nistas, associam tudo que pode existir de ruim nas pessoas ao capitalismo, criando não só uma repulsa a figura física do ca-pitalista gordo como também ao conceito. Quando a greve está para começar
a imagem de uma roda girando é sobre-
posta a imagem de três operários. Quando
eles cruzam os braços a roda para. A jun-
ção destas duas imagens simboliza o iní-
cio da greve. E a imagem da roda girando
no primeiro plano com os trabalhadores
atrás pode evidenciar que eles estão pre-
sos na engrenagem do sistema sócio in-
dustrial (CARVALHO, 2008, p. 53)
Essa cena mostra de forma clara o uso da metonímia na montagem, pois a sobreposição das imagens com significa-dos diferentes acaba criando um concei-to novo (máquina + trabalhador = greve) (CARVALHO, 2008 p.53). Eisenstein foi o pioneiro nesse tipo de montagem em que utilizava do princípio da multiplica-ção para compor os planos e construir um novo significado. Essa era a principal contraposição ao estilo, até então, “clássi-co” de montagem “Griffithniano” em que os planos partiam do princípio da adição.
42
Se Serguei Eisenstein tem um peso maior em relação ao desenvolvimen-to da linguagem videográfica, Dziga Vertov é o nome quando falamos dos pioneiros do vídeo documentário. Antes de ser cine-asta “trabalhou nos noticiários cinemato-gráficos do front e nos primeiros trens de propaganda, equipados para filmagem e
exibições” (Saraiva, 2006, p.109.)
1.3.2. Dziga Vertov
Diferente de seu compatriota Ei-senstein que tinha a intenção de incor-porar o passado burguês na cultura cine-matográfica atual, Vertov viu a revolução como a oportunidade de um novo início para criar assim uma linguagem contem-porânea que ainda não existia no cine-ma. Apesar disso usava alguns conceitos iguais a Eisenstein como a construção do
No último bloco do filme, a “repressão vio-lenta” é apresentada com auxílio da me-táfora, pois em nenhum momento apa-rece os trabalhadores sendo agredidos. Essa violência é insinuada com quadros de perseguição entre o exército e os ope-rários e com um plano de um touro sendo sacrificado em um matadouro. Só após a morte de o touro ser concluída que vemos o resultado da repressão para acabar com a greve, ou seja, os corpos dos trabalha-dores mortos. Apesar do caráter político e de cer-ta maneira verídica da maioria dos filmes
de Eisenstein eles não apresentam “como tarefa reproduzir o real, sem intervir, mas ao contrário, devem refletir esse real atri-buindo a ele, ao mesmo tempo certo juízo ideológico” (AUMOUNT apud CARVALHO, 2008, p.52). A importância desse cineasta para a criação da linguagem videográfica é muito relevante, pois é a partir de suas experimentações, com a montagem usan-do as técnicas de sobreposição, os con-ceitos de cine-punho, entre outras que a linguagem cinematográfica foi tomando forma e se consolidando.
43
pensamento através do cinema e o uso das metáforas e metonímias. Vertov era um dos maiores críticos do colega, assim como Eisensteins era dele. Isso acontecia principalmente pelo fato da montagem e das construções de Vertov serem consi-deradas complexas demais para o público absorver todas. Esse ponto era tão discu-tido que usando de ironia, Eisenstein fa-lava de “intervalos inaudíveis”, criticando a “teoria dos intervalos” de Vertov” (SA-RAIVA, 2006, p.137).
Essa crítica, apesar de verdadeira, não representava uma ameaça para Ver-tov, pois a função de seus filmes, segun-do Ananda Carvalho era “mostrar o que esta por trás das relações sócio culturais” (CARVALHO, 2008, p. 46) e “uma maneira nova de observar o mundo através da ree-laboração industrial dos acontecimentos” (XAVIER apud CARVALHO, 2008, p.46). Esse novo olhar foi o que Vertov denomi-nou em seu manifesto teórico como “cine--olho”, “que buscava documentar a rea-lidade socialista através dos fragmentos da realidade, subvertendo tanto a visão ilusionista do cinema como ficção, como a visão ingênua do cinema como registro documental” (CARVALHO, 2008, p.46). Para Vertov só a “máquina cine-olho” é que estava apta a capturar esse novo tipo de olhar. Os homens não estão prepara-dos para enxergar essa realidade, “pois o olhar natural dos seres humanos está condicionado por “deformações psicológi-cas”” (CARVALHO, 2008, p.46).
Ao entendermos que o “cine-olho” é uma evolução que o diretor usa para aprimorar um dos sentidos dos homens, vemos que as críticas de Eisenstein per-dem a força, pois, já que os filmes de Ver-tov são feitos pelo déficit das pessoas não
conseguirem ver o que a câmera mostra é de se imaginar que mesmo com o olhar da câmera guiando o espectador, alguns simplesmente não consigam enxergar. Talvez pela falta de costume ou pela no-vidade que esse tipo de linguagem apre-sentava, o importante é notar que a para Vertov a função do “cine-olho” era expan-dir a linguagem cinematográfica através de um novo ponto de vista real da reali-dade em que, segundo Leandro Saraiva, o que nos é exibido através da “análise do “cine-olho” é o próprio tecido institucional da sociedade, em seus fluxos construídos por relações transitivas e sempre passí-veis de reconstrução” (SARAIVA, 2006, p.135”.
Para a criação desse novo ponto de vista real Vertov fazia suas montagens seguindo “o princípio do “cine-verdade”, ou seja, avesso a qualquer encenação” (SARAIVA, 2006, p.135), pois para ele a montagem não podia ser feita usando uma vertente teatral em que se seleciona “fragmentos” de um filme para construir uma cena ou então uma vertente literá-ria em que os “fragmentos” já filmados são escolhidos para montar a legenda. Segundo Carvalho, para Vertov “montar significa organizar os pedaços filmados (as imagens) num filme, “escrever” o fil-me por meio das imagens filmadas” [...] (VERTOV apud CARVALHO, 2008, p.46).
Vertov considerava a montagem tão importante que dispunha de vários profissionais espalhados pela Rússia para a captura das imagens. Ele só “vira-va diretor” na hora da montagem, porém seu trabalho de montagem não começava após as filmagens. Isso porque, segundo o manifesto do “cine-olho”, a montagem tinha que servir de base desde a seleção
44
do tema até a edição final. O próprio Ver-tov afirma o quão era importante para ele a montagem ao dizer:
eu monto quando escolho um tema (ao
escolher um dentre os milhares de temas
possíveis),
eu monto quando faço observações para o
meu tema (realizar a escolha útil dentre
as mil observações sobre o tema).
eu monto quando estabeleço a ordem
de sucessão do material filmado sobre o
tema (fixar-se, entre as mil associações de
imagens possíveis, sobre a mais radical,
levando em conta tanto as propriedades
dos documentos filmados, quanto os im-
perativos do tema a tratar) (VERTOV apud
MACHADO, 2008, p.47).
A sua obsessão pela montagem o levou a fazer um grande número de expe-rimentações como aceleração, inversões temporais da projeção, sobreposição, jus-taposição infinitesimais, choque de angu-lações, variações rítmicas, entre outras. Outra marca desse cineasta é a reflexibi-lidade que a maioria dos filmes transmite. Vertov propõe ao espectador que imagine o filme sendo mais que um filme, ele ten-ta fazer com que o público reflita sobre a relação do filme com o que acontece por trás das câmeras, criando assim uma me-talinguagem ou simplesmente um filme dentro de um filme. Isso para lembrar ao público o mérito da “máquina” cinema-tográfica para a elaboração e criação da “realidade fílmica”.
Essa reflexividade fica mais clara no filme “O homem da câmera” (1929) em que no prólogo do filme vemos o processo dentro da sala do cinema que antecede a projeção. Também temos essa caracterís-tica quando a cena de uma carruagem em
velocidade congela e se revela um fotogra-ma, então vemos a sala de montagem e todos os bastidores da criação cinemato-gráfica. Nesse filme também encontramos várias das experimentações citadas ante-riormente como em quase todas as cenas de tráfego em que existe a sobreposição de imagens ou então o uso da metáfora para a criação de novos conceitos como na justaposição da cena de um enterro e de uma mulher dando a luz.
A criação de Vertov, principalmen-te em “O homem da câmera” apresenta um ritmo acelerado, construído por pla-nos curtos em sequências ritmadas. O que mostra que os filmes de Vertov em sua “narrativa” representavam também a realidade da época. Uma época em que a revolução industrial ainda tinha força e incentivava a criação de métodos onde o tempo gasto e a eficiência do processo produtivo fossem cada vez mais aperfei-çoados.
A importância desse homem para o vídeo é clara,
“os mecanismos inovadores utilizados por
Vertov –fusões, janelas múltiplas, altera-
ções de velocidade de captação, congela-
mento de imagens, etc. – marcam o início
da construção de uma linguagem que só
se tornaria mais recorrente décadas de-
pois através do desenvolvimento do ví-
deo” (CARVALHO, 2008, p.44).
Também é importante mostrar que sua maior criação o manifesto do “cine-olho” pode ser considerado o “manual” mais an-tigo da linguagem do videodocumentário, mostrando que esse tipo de produto au-diovisual não é o reflexo do mundo, mas sim a reflexão que podemos fazer dele.
45
1.3.3. O videodocumentário, da descrição à linguagem.
Apesar da pequena descrição cita-da anteriormente, o terno videodocumen-tário não é tão simples de ser explicado ou definido. Isso porque sua definição, além de muito abrangente e variada, é muito dependente da comparação ou da relação mais específica do que estamos analisan-do. Apesar disso é possível encontrar ca-racterísticas que são comuns a todos os tipos de documentário audiovisuais..
Antes de o termo documentário ser usado dentro do repertório cinemato-gráfico e videográfico ele foi muito usado no século XIX para representar “um con-junto de documentos com a consistência de “prova” a respeito de uma época” (TEI-XEIRA, 2006, p.253). Ou seja, um docu-mentário tinha grande apelo histórico e mostrava os fatos “reais” ou provas que aconteceram durante um espaço e tempo definidos marcados para sempre através desse material documental.
Apenas no meio dos anos 1920 que o termo começou a ser utilizado pelos especialistas em cinema. Ainda sim, nes-se início os documentários eram definidos como “tratamento criativo da realidade”, provavelmente essa a melhor maneira de resumir a definição de documentário, como se verá a seguir.
O que podemos dizer primeira-mente é que documentário não é a repro-dução da realidade, pois o termo realidade não tem o mesmo significado para todos. Muito menos a forma como essa realida-de é vista, absorvida e traduzida é igual para todos os indivíduos que param para pensar no assunto. Consequentemen-te por existirem “inúmeras realidades” sempre que alguém tentar reproduzir a “sua realidade” outra pessoa irá discor-dar do ponto de vista proposto, alegando que aquela replica da realidade não lhe
46
pertence. Sendo assim quando um docu-mentarista faz seu filme ele está elegendo uma realidade como sendo a principal ou expondo seu ponto de vista da realidade para os outros. Além disso, sua presença física durante as filmagens gera uma “al-teração na realidade”. Como Jean-Calude Bernadet explica: [...]
o filme capta o que é, mas gera intencio-
nalmente uma situação específica, pro-
voca uma alteração no real, e o que se
filma não é o real como seria independen-
temente da filmagem, mas justamente a
alteração provocada. A ação do documen-
tarista sobre o real leva a uma situação
nova, criada em função da filmagem e sem
a qual ela não existiria. O real não deve
ser respeitado em sua intocabilidade, mas
deve ser transformado, pois o próprio fil-
me coloca-se como agente da transforma-
ção (BERNADET, 2003, p.75).
Essa definição indireta de Berna-det sobre uma característica desse estilo deixa claro que não existe reprodução da realidade através do documentário.
Porém estudiosos como Fernão Ramos veem essa relação da manipula-ção da realidade pelos cineastas do do-cumentário de forma diferente, deixando um pouco de lado esse fato e focando na função do documentário para defini-lo.
[...] podemos afirmar que o documentário
é uma narrativa basicamente compos-
ta por imagens-câmera, acompanhadas
muitas vezes de imagens de animação,
carregadas de ruídos, música e fala (mas,
no início de sua história, mudas), para as
quais olhamos (nós, espectadores) em bus-
ca de asserções sobre o mundo que nos
é exterior, seja essa mundo coisa ou pes-
soa. Em poucas palavras, documentário
é uma narrativa com imagens-câmera que
estabelece asserções sobre o mundo, na
medida em que haja um espectador que
receba essas narrativa como asserção so-
bre o mundo (RAMOS, 2008, p.22).
Vendo pela referência de Fernão Ra-mos pode-se perceber que o importante é deixar claro qual asserção6 (ponto de vista) o documentarista pretende mostrar para o público, independente do fator realidade.
Juntando essas duas definições podemos dizer que os documentários po-dem ou não mostrar a verdade sobre um fato histórico, entendendo essa verdade como a realidade criada através da câ-mera. Sendo assim pode-se considerá-los como “re-apresentações” ou represen-tações da realidade criada, pois a forma como o documentário é apresentado faz com que ele se torne parte do universo em que fez parte. Desde a sua elabora-ção até sua finalização ele mostra como aquele universo é alterado por si só e por ele mesmo, deixando de ser uma janela para o mundo e se integrando a este novo mundo. Diferentemente a reprodução é a tentativa de refletir o mundo da mesma maneira, uma cópia que por mais fide-digna que seja nunca será igual à matriz. Pois apesar de tentar mostrar o mundo sem influenciá-lo ou sem que haja alte-ração isso não aconteceu realmente por-que a idéia da reprodução dentro do do-cumentário “é pautada na convicção de que a verdade está nos fatos” (CARVALHO apud SANTAELLA, 2008, p.38). Quando na realidade segundo a mesma autora
6. Significado de Asserção: s.f. Afirmação, proposição que se tem como verdadeira: os fatos justificaram-lhe as asserções.
47
os fatos são influenciados “pelas percep-ções e pelas molduras da visão e do pen-samento impostos pelo tempo, espaço e posição nas relações sociais que ocupa-mos”. O que faz com que a realidade seja tão influenciável quanto os fatos em que ela se baseia.
A representação cria conteúdo, conversas e retóricas sobre um novo pon-to de vista, o que aguça a curiosidade das pessoas. Por isso “julgamos uma repre-sentação mais pela natureza do prazer que ela proporciona, pelo valor das ideias ou do conhecimento que oferece e pela qualidade da orientação ou da direção, do tom ou do ponto de vista que instila” (NI-CHOLS, 2012, p. 47). Isso deixa claro que a representação é muito mais interessante e empolgante tanto para o público quanto para quem produz do que a reprodução.
A partir dessa análise sobre a defi-nição de documentário podemos perceber que eles, “buscam indicar, apontar para os objetos e situações fora deles que estão neles retratados. Desse modo, esses víde-os e filmes pretendem mostrar ao espec-tador as paisagens, cenas e situações que eles registram” (CARVALHO, 2008, p.31). E assim como em uma aula de história, em que “esperamos aprender ou nos emocionar, descobrir as possibilidades do mundo histórico ou sermos persuadidos” (NICHOLS, 2012, p.47), os documentá-rios acabam se tornando influenciadores de opinião.
Para que esse objetivo seja alcan-çado a linguagem documentaria precisa criar um elo muito mais forte do que o filme ficcional. Por isso muitos estudio-sos consideram que dentro da linguagem documental a câmera “não existe”. Para
Fernão Ramos a câmera passa a ser, o que ele chama de “imagem-câmera”. Uma forma de mostrar que a subjetividade é quem reina nessa forma de linguagem, já que não existem mais barreiras entre o espectador e aquilo que é retratado na tela. Para Ramos “as imagens-câmera nos remetem à circunstância do mundo que deu origem a elas” (RAMOS, 2008, p.78). Mostrando que aquela visão está em pri-meira pessoa representando o espectador que assiste a tudo aquilo como se fizesse parte do filme. Em outro momento Ra-mos exemplifica a função dessa imagem--câmera através de dois personagens fic-tícios, João e Joana:
“João é o sujeito-da-câmera que sustenta
a máquina-câmera e lhe concede a subje-
tividade da presença, na circunstância da
tomada. É através da presença de João
que a imagem vai existir para Joana, e é
para seu olhar-câmera na tomada que ela
se lança e é recebida. É o maquinismo da
imagem-câmera, matéria que dá atualida-
de é sua forma, que permite a atividade
intersubjetiva e transcendental do sujeito
na tomada, fundando a recepção especta-
torial e realizando-se através dela” (RA-
MOS, 2008, p.79).
Percebe-se então que segundo Ra-mos a linguagem documental funciona através do olhar relatado pela câmera. Assim quem está presente no ato da fil-magem não existe mais, acaba se tornan-do parte do equipamento e some. Depois de sumir então é o espectador quem aca-ba se transformando em sujeito-câmera e assumindo o papel de “personagem”.
Quando isso acontece, quem sofre com a ação dentro do documentário pas-sa a ser quem está assistindo. Por exem-
48
plo, quando o repórter cinematográfico, sujeito-câmera, entra no meio de um ti-roteio e acaba tomando o tiro a câmera não para de gravar. Quem vê a esse tipo de cena sabe que provavelmente ele está ferido ou morto, mas a imagem-câmera continua sua função independente do estado de quem a transporta. Para quem assiste, o impacto da bala transcende a tela onde o filme está sendo exibido e aca-ba atingindo também o público que passa de mero espectador passível para perso-nagem, olhar-câmera. Essa transforma-ção, quando realizada de forma eficiente, significa que a linguagem documental atingiu seu objetivo. Mostrou a asserção daquele momento para um número maior de pessoas, isso faz com que o público sinta empatia com aquela imagem-câme-ra, para o bem ou para o mal.
A linguagem do documentário também tem influência direta através da voz que é utilizado no decorrer do filme. É a voz que vai defender a causa, apresen-tar o argumento ou ponto de vista, é ela quem faz a asserção do mundo documen-tado. Pelo fato da voz ter uma importân-cia variada e peculiar a cada documentá-rio, em cada caso se cria uma voz própria. É ela quem informa e orienta a narrativa do documentário.
Quando se fala em voz a primei-ra característica que vem à cabeça são os dois principais tipos de locução: a voz-off e comentário-over. O primeiro também conhecido como a “voz de Deus” é usado sempre que o orador é ouvido, mas nunca visto. Já o segundo tem um orador pre-sente, que é ouvido e visto pelo público. Nos dois casos a “voz” tem um caráter to-talitário, uma onisciência de quem vê o universo do filme de fora. Tem os conhe-
cimentos necessários para guiar o espec-tador pelo caminho correto enfatizando a objetividade do documentário. Bill Ni-chols comenta que “a tradição da “voz de Deus” fomentou a cultura do comentário com a voz masculina profissionalmente treinada, cheia e suave em tom e timbre, que mostrou ser a marca de autenticida-de” (NICHOLS, 2012, p.142). Isso mostra que em muitos documentários, apesar de estarem re-apresentando a realidade, existem características de encenação in-seridas para que a asserção do diretor seja entendida de forma correta.
Claro que a forma mais explícita e fácil de transmitir um ponto de vista ao público é através da citada acima, que também pode ser escrita (legendas), po-rém a voz abrange outras características além da “língua”. A voz, segundo Nichols é muito mais do que “é dito verbalmente pelas vozes de “deuses” invisíveis e “au-toridades” plenamente visíveis que repre-sentam o ponto de vista do cineasta – e que falam pelo filme – nem pelos atores sociais que representam seus próprios pontos de vista – e que falam no filme” (NICHOLS, 2012, p.76). Ela tem que es-tar inserida em todos os outros meios que criam o documentário, a voz é a escolha do cineasta sobre o direcionamento que ele vai dar para que o público entenda sua visão. A escolha entre planos compostos ou o tipo de enquadramento, a hora certa de cortar ou fazer a montagem, se o filme será colorido ou preto e branco, usar o som natural da filmagem ou inserir trilha sonora e efeitos na pós-produção, apenas apresentar o material filmado pelo dire-tor ou usar imagens e filmagens feitas por terceiros. São esses elementos que dão o tom a voz do documentário e mostram a personalidade do cineasta.
49
Isso mostra que a linguagem do documentário é criada para colocar o pon-to de vista do cineasta a mostra do pú-blico para que esse tenha conhecimento de um novo olhar sobre um universo, que algumas vezes já é do seu conhecimento, mas que nunca tinha sido analisado so-
bre esse ângulo que o diretor apresenta. Ela (linguagem) também é quem guia e mostra a direção para qual o espectador deve olhar, fazendo com que ele preste atenção naquilo que realmente importa para que no final o filme seja entendido.
Se os documentários têm os ob-jetivos citado acima podemos classificá--los como possíveis “armas culturais” que quando bem utilizadas conseguem, não apenas transmitir um ponto de vista, mas também fazer com que o espectador siga aquela visão. Bill Nichols cita exatamente isso quando diz que um dos potenciais do cinema documental é “ajudar a construir uma nova realidade visual e, com ela, uma nova realidade social” (NICHOLS, 2012, p.182). O autor ainda explica que esse uso do filme documental era mui-to usado pela máquina cultural do novo governo soviético e que foi adotado pelos
1.4. Os documentários políticos brasileiros
britânicos quando John Grierson, cineas-ta considerado por alguns autores como pai do documentário, “convenceu o go-verno britânico a fazer com o cinema, na década de 1930, o que o governo sovié-tico fizera desde 1918: utilizar uma for-ma de arte para fomentar um sentimento de identidade nacional e de comunidade compartilhada proporcionais a seu pró-prio programa político.” (NICHOLS, 2012, p.185).
Se os documentários serviram tanto para o governo britânico e soviético como “arma cultural” nada impedia que
50
eles servissem para quem estava do outro lado da moeda, o povo. E no Brasil essa visão dos cineastas direcionada para os menos desfavorecidos fica evidente, como comenta Fernão Ramos:
No conjunto da produção artística bra-
sileira, o cinema tem se mostrado parti-
cularmente sensível às questões éticas e
políticas que envolvem a reprisa da alteri-
dade social que chamamos de povo, espa-
ço do outro que não é o mesmo de classe.
A imagem do povo é um traço recorrente
no documentário brasileiro contemporâ-
neo (RAMOS, 2008, p.205).
Essa citação ganha mais força a partir do final dos anos 50, quando o ci-nema novo brasileiro surgiu e ganhou for-ça como movimento artístico cinemato-gráfico. Esse cinema que segundo Maria do Socorro Carvalho pretendia “ser “novo” no conteúdo e na forma, pois seus novos temas exigiriam também um novo modo de filmar” (MASCARELLO, 2006, p.290) tinha como objetivo retratar as perspec-tivas históricas, principalmente do povo brasileiro. E montar uma asserção sobre as várias realidades encontradas no âm-bito social, cultural e político.
Vale ressaltar que o aspecto polí-tico nesse caso não está necessariamente relacionado com “processos de agregação, consentimento, organização dos poderes e sistemas de legitimação” (GUIMARÃES, 2011, p.81). A política não é o exercício do poder ou luta pelo poder (partidário, por exemplo) como comenta o autor referindo--se às definições do filósofo Rancière, mas sim “o conflito para determinar os obje-tos que fazem ou não parte dessas ocupa-ções, os sujeitos que participam ou não delas” (GUIMARÃES apud RANCIÈRE,
2011, p.81), ou ainda “é a atividade que rompe a configuração sensível na qual se definem as parcelas e as partes ou a sua ausência a partir de um pressuposto que por definição não tem cabimento ali: a de uma parcela dos sem-parcela” (GUI-MARÃES apud RANCIÈRE, 2011, p.81). E é aí que arte e política se encontram e se amplia o conceito de o documentário político que obtém o “nome” não só pela sua temática, mas sim pela capacidade de reconfigurar o comum de uma comu-nidade. Ou seja, pela sua força em rom-per pensamentos comuns ao coletivo e re-alocar uma nova realidade daqueles que em uma sociedade não são considerados pertencentes, mostrando o conflito entre esses dois lados no processo documental.
Sobre essa definição de política utilizada acima que o curta documentário “Maioria Absoluta”(1966) é trabalhado. Produzido e dirigido por Leonel Hirszman, um dos cineastas engajados no novo ci-nema brasileiro. O documentário retrata a questão do analfabetismo no Brasil du-rante a década de 60 que marginalizava mais de 40 milhões de brasileiros, prati-camente metade da população da época. No início do curta é explicado que as opi-niões sobre o tema serão provenientes de “pessoas que vivem em diferentes níveis o problema brasileiro”. Deixando para o espectador que ele próprio se classifique em um dos níveis apresentados no curta, fazendo com que quem assiste acabe es-colhendo um dos entrevistados para ser. O primeiro grupo de entrevistados é da “classe-média que revelam desconheci-mento e má-fé em relação à situação do povo” (BERNARDET, 2003, p.41). O fil-me tenta mostrar o quão ruim é a opinião dessas pessoas e tenta mudar o pensa-mento daqueles que estão se “classifican-
51
do” como esse primeiro grupo de entrevis-tados que é a grande maioria do público alvo do documentário. Além disso, o filme “nos incita a uma ação que transforme essa situação que agora, espectadores do filme, não teremos mais desculpas para ignorar. Não agir seria cumplicidade com esse estado de coisas” (BERNARDET, 2003, p.41). Esse é um dos fatores polí-ticos, pois tenta “reconfigurar o comum de uma comunidade”, ele apresenta uma informação e agora espera que nós tome-mos uma atitude sobre esse fato. O dire-tor cria dramaticamente um sentimento de culpa que tenta fazer com quem assis-te ao filme a agir.
Outro fator político do documen-tário é a classificação daqueles que são o tema do filme, os analfabetos. Segundo alguns dos entrevistados eles são “igno-rantes” que não têm a capacidade inte-lectual para distinguir o certo do errado, o que leva a conclusão do locutor de que se os analfabetos não têm essa habilidade cognitiva não podem votar. Essa questão, dentro do filme, mostra que esse grupo de pessoas que “estão proibidas de votar” não podem se representar. Eles são a “parce-la dos sem-parcela”, definição dita antes e enquadrada no conceito de política de Rancière. Seguindo a linha de pensamen-to do filósofo o documentário se enquadra na temática da política quando o diretor dá voz a esses analfabetos para que eles mesmos se expressem. No filme essa cena é introduzida através da locução em off que diz: “Passemos a palavra aos analfa-betos. Eles são a maioria absoluta”. De-pois disso o primeiro entrevistado é um homem idoso, que sentado na frente da sua casa treme incontrolavelmente e não diz nada além de sons incompreensíveis. Para Bernardet essa cena pode ter dois
significados, o primeiro: A força expressiva do doente, cuja ima-
gem enche a tela, e a relação com a lo-
cução do plano anterior: passamos a pa-
lavras e só vem gagueira. Os analfabetos
não tomam a palavra; ela lhes é outorgada
e mesmo assim não têm condição de fa-
lar[...] (BERNARDET, 2003, p.45).
O segundo significado é que: “”passemos a palavra” indica ainda que o filme gostaria que eles falassem” (BER-NARDET, 2003, p.45). E finalmente o au-tor conclui que existe uma “contradição do intelectual progressista que espera que o povo fale e aja, mas, como ele elabo-ra uma imagem passiva desse povo, toma ele a palavra, por enquanto...” (BERNAR-DET, 2003, p.45). Apesar do diretor, num primeiro momento, se classificar como voz, no decorrer do filme os depoimentos dos analfabetos vão se tornando mais for-tes e ganhando uma consciência própria. É importante lembrar que o filme foi gravado quase que no mesmo período do Golpe militar de 64, o que acarretou na paralisação da produção do docu-mentário que só teve seu término entre os anos de 64 e 65. Por causa desse fato podemos criar alguns paralelismos en-tre aspectos do filme e a crítica ao regi-me militar. Essas percepções são pesso-ais do autor deste trabalho, que escreve em relação ao curta e aos argumentos de Jean-Claude Bernardet sobre o mesmo documentário. Bernardet cita que “o fil-me não nos faz vislumbrar nenhum canal político de ação. Implicitamente, pode-se deduzir: procurem, criem o canal” (BER-NARDET, 2003, p.452). O mesmo pode ser pensado sobre a busca de uma solu-ção contra o regime militar, um problema social/nacional da maioria, mas ignorado
52
naquele período inicial. A questão dos vo-tos, que já foi citado antes, também tem muita relação com esse problema já que da mesma forma como os analfabetos fo-ram proibidos de votar, a sociedade brasi-leira sofreu o mesmo mal depois de abril de 64. Por fim a imagem dos analfabetos que Bernardet extrai do documentário, que é “de um povo passivo, injustiçado, que não consegue agir em seu interesse e aguarda soluções de outras áreas da so-ciedade” (BERNARDET, 2003, p.46). Ima-gem essa que pode ser transportada para todo o povo brasileiro na época do golpe.
55
2. O DESENHO DA DITADURA
Nesse capítulo serão analisados os fatos mais marcantes da história da ditadura do Brasil. Desde seu início, os motivos que levaram os militares a apli-carem o golpe de 64, passando pelos anos de chumbo até a abertura do governo mi-litar, chegando finalmente na volta da de-mocracia. Também pretende-se destacar as principais formas de arte que estavam ligadas diretamente a política e que con-sequentemente faziam o papel da opo-sição ao regime militar. Esse tópico tem como objetivo mostrar dentro das charges quais eram as ferramentas e os propósi-tos de se tentar criar uma oposição in-telectual que atuasse através da cultura para desestabilizar, satirizar e informar
o povo sobre o golpe militar. Pretende-se também mostrar como a censura funcio-nava a favor do governo militar para im-pedir que esse tipo de material fosse pu-blicado e chegasse aos olhos e ouvidos do público. E também de que forma ela era burlada pelos artistas. Por fim chegamos no objeto propriamente dito deste traba-lho, ao final do capítulo iremos selecionar algumas charges que tenham uma men-sagem política forte para analisar de que forma era retratada a ditadura, qual o tipo de humor usado nessas curtíssimas nar-rativas e quais figuras de linguagens eram utilizadas para mascarar a mensagem.
56
2.1. A ditadura
No ano de 1964 um golpe militar depõem o então presidente do Brasil João Goulart. Durante os próximos 21 anos os brasileiros veem a liberdade e a de-mocracia se distanciarem cada vez mais do país. Nessas duas décadas os abusos foram muitos, os direitos foram poucos, mas alguns tentaram resistir a tudo isso.
As próximas páginas contam um pouco da história recente que o Brasil viveu. O que levou ao golpe, as primeiras ações dos militares no poder, o pior período des-sa época e como tudo foi acabando. Esses são alguns tópicos que conduzem a nar-rativa de um dos momentos mais difíceis para o Brasil e seu povo.
57
2.1.1. O pré golpe
Antes de introduzir as principais motivações que culminaram com o golpe militar de 64 no Brasil é preciso fazer um breve levantamento da situação do mun-do durante alguns poucos anos que ante-cederam esse fato que mudou a historia do Brasil.
No início da década de 60 o pla-neta Terra estava em frenesi. Essa foi a época das mudanças e de misturas,
o “Quintal dos Estados Unidos” abriga
o regime comunista de Fidel Castro em
Cuba [...] os Beatles e os Rolling Stones
explodem nas paradas de sucesso [...] a
minissaia de Mary Quant, e a pílula an-
ticoncepcional são armas de afirmação
feminina [...] o movimento negro Black
Panter protesta. A Revolução Cultural
na China cultua o “Grande Timoeiro” [...]
protestos estudantis explodem no mundo
todo. Um grafite em Berkeley proclama:
“A felicidade é o poder estudantil” [...] e
o Muro de Berlim é o símbolo da divisão
mundial (ROCHA, 2000, p.100).
Era uma época onde os jovens ti-nham voz para dizer e fazer o que acha-
vam certo. Um tempo muito bom para aqueles que queriam se “tornar” alter-nativo e fazer parte de alguma das con-tra culturas que estavam nascendo e também um mundo marcado por dois lados. Um lado americano, capitalista e imperialista, de outro a União Soviética, comunista e socialista. Apesar da guerra fria ter começado em 1945 foi na década de 60 que a relação entre os dois países piorou muito, principalmente em 62 com a crises dos mísseis em Cuba. No meio de tudo isso estava o Brasil, o país que teve um crescimento econômico conside-rável nos últimos anos. Isso por causa de um projeto que pretendia desenvolver no país “50 anos em 5”. Esse era o objetivo do governo de Juscelino Kubitschek que tinha como ferramenta para garantir esse crescimento o “seu Plano de Metas, elabo-rado com o economista Roberto Campos. Apoiava-se num tripé formado pelo capi-tal nacional, pelo capital internacional e pelo Estado” (ROCHA, 2000, p.87). Mas que teve no final de seu governo uma que-da de popularidade, exatamente por não alcançar esses objetivos, o que levou nas eleições de 60 a derrota de seu sucessor e a eleição de Jânio Quadros.
58
Esse é o ponto inicial para o golpe de 64, a eleição de Jânio. Por causa de “seu carisma e um estilo excêntrico, com-binados com uma postura autoritária, fascinaram platéias e patrocínios” (RO-CHA, 2000, p.89). Porem apesar de ser amado pelo povo ele não tinha muito tato político e nenhuma “proposta contra a in-flação e a divida externa” (ROCHA, 2000, p.89). Com isso acabou perdendo o apoio da UDN (União Democrática Nacional), partido que tinha encabeçado a coligação que o elegeu. Ainda para piorar sua situ-ação, principalmente com os militares, a direita e os Estados Unidos, Jânio conde-cora “Che” Guevara com a Ordem Nacio-nal do Cruzeiro do Sul e ainda “ensaiou uma ofensiva exportadora nos mercados dos países socialistas em pleno apogeu da Guerra Fria. O Brasil assumiria, assim, uma postura de não-alinhamento com os EUA” (ROCHA, 2000, p.90). Assim, sem apoio político de nenhum partido e so-frendo pressão por causa de sua política externa, em 25 de agosto de 1961 Jânio Quadros renuncia a presidência da republica.
Com isso o seu vice João Goulart, o
“Jango” assume seu cargo. Porem essa
sucessão criou um problema muito maior
“militares golpistas não admitiam sua
posse. De outra parte, militares legalistas
exigiam o respeito à Constituição. Para
evitar um confronto armado foi adotado
o parlamentarismo. Jango assumiu a pre-
sidência, mas sem poderes para governar”
(ROCHA, 2000, p.90).
Apenas em 1963 através de um Plebiscito que acaba com o parlamenta-rismo no Brasil que Jango começa a colo-car em pratica seu plano governamental e paralelamente os militares agilizavam a organização do seu golpe. Durante seu
pouco tempo como presidente da republi-ca Jango propôs uma serie de reformas de base ao congresso, elas “eram um amplo programa de reformas agrária, tributa-ria, eleitoral, bancaria, educacional, etc” (ROCHA, 2000, p.91). Essas reformas acabaram por chamar a atenção da di-reita que considerava o governo de Jango esquerdista, que ele “estaria preparando um regime sindicalista [...] e abria espa-ços para o avanço comunista” (ROCHA, 2000, p.91). Não apenas a direita mas também os militares começaram a enten-der as atitudes do presidente como um possível aliado da união soviética e dos ideias comunistas, principalmente após uma viagem em 61 de Jango para a União Soviética e a China Comunista onde se
tornou clara e patente sua incontida ad-
miração ao regime desses países, exal-
tando o êxito das comunas populares”. A
“exaltação” janguista não passou de uma
menção em discurso proferido na China,
onde, diplomaticamente, expressou “pro-
fundo apreço aos trabalhadores, tanto do
campo como da cidade, por sua heróica
e extraordinária participação na edifica-
ção de uma nova China livre e poderosa
(VILLA apud TOMAIM, 2008, p.139).
Essa citação foi um manifesto es-crito pelo coronel Golbery do Couto e Sil-va em nome de vários ministros militares e mostra quão grande era o receio de que o Brasil se tornasse um país comunista através da liderança de João Goulart.
Esse “medo” era alimentado pe-los americanos que marcavam presença muito forte nas forças armadas brasilei-ras, principalmente a partir de 49 quando o governo do Brasil fundou a ESG, Escola Superior de Guerra. A ESG teve colabo-
59
ração muito presente dos EUA desde sua abertura “o que foi determinante para cultivar nos formandos os traços da guer-ra ideológica que dividira o mundo em dois, alimentando a ideia de que o comu-nismo era uma ameaça presente na Amé-rica Latina [...]” (TOMAIM, 2008, p.134). Depois de implantar essa ideologia anti--comunista dentro das forças armadas o segundo passo era transmitir essa men-sagem para o povo.
A mensagem foi transmitida aos poucos. Umas das ferramentas usados pelos militares para propagar a anti-co-munismo era a “cartilha” da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento que entre outros pontos exaltava a exis-tência de um plano soviético “que objeti-vava dominar progressivamente o Brasil, agindo a partir de grupos comunistas in-filtrados em nossa sociedade“ (TOMAIM, 2008, p.135). Além disso era possível en-contrar dentro do manual básico da ESG uma explicação detalhada do funciona-mento desses infiltrados no Brasil. Se-gundo a esse manual:
A guerra revolucionária comu-nista tem como característica principal o envolvimento da população do país-alvo numa ação lenta, progressiva e pertinaz, visando à conquista das mentes e abran-gendo desde a exploração dos desconten-tamentos existentes, com o acirramento de ânimos contra as autoridades consti-tuídas, até a organização de zonas domi-nadas, com o recurso à guerrilha, ao ter-rorismo e outras táticas irregulares, onde o próprio nacional do respectivo país-alvo é utilizado como combatente. (MANUAL BÁSICO da ESG apud ALVES apud TO-MAIM, 2008, p.135).
Foi através da assimilação da po-pulação do medo pelo comunismo que os militares tiveram certeza que o golpe da-ria certo. Essa assimilação foi fortemente conduzida por “grupos femininos de pres-são, que funcionavam como “caixa de res-sonância”, uma máquina poderosa e de grande alcance” para difundir na socieda-de brasileira o temor da “ameaça verme-lha”” (TOMAIM, 2008, p.137). Isso mostra que apesar do golpe ter sido executa-do pelos militares “a derrubada de João Goulart do poder teve apoio de setores da sociedade civil, que viam no avanço da es-querda uma perigosa ameaça para o país. Assim, Igreja, empresários, classe média e imprensa teriam sido cúmplices do gol-pe que conduziu o Brasil ao regime dita-torial” (TOMAIM, 2008, p.139). Esse apoio ficou claro depois do dia 19 de março de 1964 quando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade levou as ruas de São Paulo aproximadamente 500 mil pessoas para “protestar contra as idéias defendi-das por João Goulart” (TOMAIM, 2008, p.138). É importante lembrar que a maio-ria desses movimentos femininos contra Jango eram financiados, organizados e orientados politicamente pelos militares e que esse apoio foi usado como principal “desculpa” para o golpe acontecer. Como comenta o marechal Cordeiro de Farias:
Sempre faço questão de deixar claro que
nós, os militares, fomos a retaguarda da
Revolução de 1964. a vanguarda foi a opi-
nião pública e, dentro dela, as mulheres.
Minas Gerais terá sido a única exceção.
Mesmo assim, a frente militar mineira so-
mente se articulou em virtude da mobili-
zação civil prometida pelo governador Ma-
galhães Pinto. Nesse sentido, a Revolução
não foi obra do Exército, mas uma reação
espontânea iniciada pelas mulheres, e por
60
elas alimentada até o fim. Em Minas e em
São Paulo as mulheres fizeram o diabo!
(CORDEIRO DE FARIAS apud CAMARGO
& GÓES apud TOMAIM, 2008, p.138).
Apesar dos militares defenderem essa ideia de que foi o povo que clamou pelo golpe, hoje bem se sabe que ele foi um “produto de um amplo e bem ela-borado plano conspiratório“ (TOMAIM, 2008, p.139) que começou, como dito an-tes, anos antes. Assim em 31 de março de 1964 os militares colocaram o plano em prática e o que começou como um levante de tropas contra Jango em Juiz de Fora (MG), terminou no dia 1º de abril
com a fuga do presidente do Brasil, João Goulart para o Uruguai. Nas palavras de Franklin Martins, militante político que dá seu relato no documentário “Ditadu-ra – Tempo de Resistência (2005): “o gol-pe para mim foi uma decepção profunda, pois não houve nenhuma resistência, ou seja o governo caiu sem dar um tiro” (3’05’’). O resultado “para os vencedores uma revolução democrática; para os ven-cidos, apenas mais um reacionário golpe de Estado” (ROCHA, 2000, p.91). O que ninguém imaginava era que essa situação seria vivida pelos próximos 20 anos.
2.1.2. O brasil militar
O golpe militar que foi orquestra-do pelo o alto escalão das forças armadas do Brasil que desde o início do ano de 64 “organizavam um “Estado-Maior Infor-
mal” para garantir a vitória da chamada “revolução”. Este “Estado-Maior” tinha um líder importante, o marechal Hum-berto Castello Branco” (TOMAIM, 2008,
61
p.140). Assim nada mais normal do que ele ser o escolhido pelo Supremo Coman-do da Revolução para guiar o país nessa “Nova Ordem”7 e garantir que os interes-ses militares fossem mantidos.
Para que esses interesses fossem mantidos em 09 de abril de 1964, apenas 8 dias após o golpe militar, foi publicado o AI-1 (Ato Institucional nº1). Esse foi o primeiro Ato Institucional de cinco que che-gariam para abalar a vida de todos, princi-palmente daqueles que eram contra a dita-dura que se instaurava no Brasil. O AI-1
estipulava , em seu artigo 2º, sua vigência
até 31 de janeiro de 1966 [...] deixava evi-
dente a preponderância do Poder Executi-
vo sobre os demais [...] Além disso, tratava
de suspender por 6 meses as garantias le-
gais de vitaliciedade e estabilidade, o que
permitia ao Estado demitir, aposentar e
colocar em disponibilidade todos os fun-
cionários públicos, civis e militares, que
de acordo com seus critérios, poderiam
configurar algum tipo de perigo ao regi-
me militar (artigo 7º). Ainda autorizava a
cassação de mandatos legislativos e fede-
rais, estaduais e municipais, a suspensão
de direitos de cidadãos por 10 anos [...]
(PRADO, 2004, p.33).
Apesar disso Castello Branco era considerado erroneamente um militar mais brando que “respeitava”, ao menos no início, a Constituição (TOMAIM, 2008, p.144). Essa percepção é dada pelo fato de após sua brusca tomada do poder Castello Branco não fechou o Congresso e deixou o poder Judiciário funcionando. Porém o que se esquece é que o general Castello Branco foi um dos cérebros que arquitetaram a “revolução” e diferente do
que muitos acreditavam, não estava ali para comandar um governo transitório e moralizador, mas sim uma ditadura que pretendia ficar no poder muito mais do que os 20 anos que se sucederam.
Nos primeiros anos, o governo mi-litar tinha como objetivo: “arrumar a casa, eliminar o que julgavam serem vícios po-pulistas do Estado, mobilizar apoio para o programa de abertura econômica ao capi-tal estrangeiros [...] (ROCHA, 2000, p.95). Porém nem todos concordavam com esse projeto criado pelo novo governo e o povo que tinha aprendido com o populismo a se mobilizar foi a rua reivindicar seus direitos. Assim nasce o SNI, Serviço Na-cional de Informação, órgão responsável pela vigilância do povo brasileiro que com o passar do tempo se transformou “na ca-beça da mais violenta máquina repressi-va criada no Brasil” (ROCHA, 2000, p.95). Pior ainda acabou por ser “uma instância consultiva, autônoma até mesmo para vetar nomes sugeridos para cargos públi-cos” (TOMAIM, 2008, p.159). Isso dava ao SNI poderes ilimitados para investigar a vida de qualquer um com os motivos mais banais possíveis. Antes da criação da SNI, ainda em 64, o presidente Castello Branco já havia criado os IPMs (Inqué-ritos Policiais-Militares). Essa ferramenta era usada como “instrumento de inves-tigação e criminalização de responsáveis pela subversão da ordem social e polí-tica durante o regime militar no Brasil” (CZAJKA, 2008, p.35). Esses documentos eram a forma de “legalizar” e justificar os atos de repressão cometidos pelos milita-res já que segundo Maria Helena Moreira Alves:
7. Termo usado por Rocha, 2000, p.94.
62
os IPMs constituíam o mecanismo legal
para a busca sistemática de segurança ab-
soluta e eliminação do “inimigo interno”
[...] Carentes de qualquer fundamentação
jurídica formal, os IPMs não se submetiam
a regras fixas de comprovação [...] O teste-
munho da “opinião pública” era suficien-
te, em certos, casos, para provar as ativi-
dades subversivas ou revolucionárias que
justificavam a punição [...] A simples acu-
sação num IPM bastava para desencadear
uma série de perseguições que podiam in-
cluir prisão e tortura. (Maria Helena Mo-
reira apud CZAJKA, 2008, p.36).
Pode-se notar que apesar de legal, os IPMs não precisavam ter nenhum em-basamento real com os fatos, já que suas fontes poderiam ser forjadas facilmente. O uso dos IPMs combinado com o SNI fez com que o governo militar criasse uma caça as bruxas sem igual, em que todos eram suspeitos e a sentença dependia muito menos de quem você realmente era e mais de como o governo lhe via.
Em 1965, para piorar a situação do país, o governo militar instaurou o Ato institucional nº2 que fortalecia ainda mais o poder Executivo. Assim esse Exe-cutivo fortalecido podia
decretar estado de sitio e intervir nos Estados
[...] suspender as garantias constitucionais de
funcionários públicos e militares; reintroduzia-
-se a possibilidade de cassação de direitos políti-
cos de qualquer cidadão brasileiro por dez anos
e, [...] tornavam-se indiretas as eleições presi-
denciais dali por diante (TOMAIM, 2008, p.148).
As novas características mostra-vam que o governo militar aos poucos foi impondo meios legais para garantir seus objetivos. Mas foi a instituição de um sis-
tema bipartidário no cenário político bra-sileiro, em que todos os outros partidos foram extintos que deixou ainda mais cla-ro que a intenção dos militares era de um governo duradouro e não transitório. A partir do AI-2 foram criadas apenas duas agremiações políticas “sem a denomina-ção de “partido”: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento De-mocrático Brasileiro (MDB). Na boca do povo, um era o partido do “sim” e o outro, o partido do “sim, senhor” (ROCHA, 2000, p.95).
Esse bipartidarismo era mais uma arma para o governo militar controlar todo o sistema político brasileiro, já que no papel a ARENA era a direita e o MDB era a “esquerda”. Isso facilitaria na fiscali-zação dos ideais políticos e na repreensão daqueles mais “ousados”. Como resulta-do desse alto controle dentro dos partidos vários políticos debandaram para gru-pos de resistência ilegal, alguns armados outros não. A esses grupos se juntaram também estudantes, religiosos e artistas que formavam a última fonte de oposição e protesto.
Essas ações do governo de Cas-tello Branco foram a “base para a insti-tucionalização da repressão” (TOMAIM, 2008, p.145) construídas por um regime considerado, posteriormente, brando, mas que tinha intenções truculentas e que estava prestes a mudar de mal para pior. Apesar do General Castello Branco ter criado e deixado praticamente pron-to todos os aparatos de censura e repre-ensão para que seus sucessores apenas os aperfeiçoassem, ele “era considera um “fraco” para os radicais do regime” (TO-MAIM, 2008, p.144). E assim em 1967 começa o chamado “golpe na Revolução”
63
2.1.3. A linha dura
A sucessão de Castello Bran-co aconteceu pela votação de “um Colé-gio Eleitoral previsto no texto do AI-1 de 1964” (ROCHA, 2013, e-mail). Enquanto um grupo dentro do governo militar, “li-derados” por Castello Branco, chamado de “moderados” via que os objetivos de “arrumar a casa, eliminar [...] vícios po-pulistas do Estado, mobilizar apoio para o programa de abertura da economia ao capital estrangeiro” (ROCHA, 2000, p.95) estavam quase que completos. Já uma outra parte deste mesmo governo, cha-mada de “linha dura”, discordava e acre-ditava que ainda tinham muito trabalho a
fazer antes de colocar um presidente civil udenista8 no Poder. Essa foi uma das ra-zões que fez com que o próximo presiden-te do Brasil fosse um militar ligado a essa “linha” mais dura.
Outro fator para essa “troca” de poder dentro das forças armadas foi que o governo militar ainda não tinha criado o “milagre econômico”, “um dos compo-nentes do programa de atração de investi-mentos estrangeiros estava falhando (RO-CHA, 2000, p. 96). Isso criou uma barreira para novos investimentos no Brasil, pois passava a impressão de um país instável
(ROCHA, 2000, p.96). Castello Branco é afastado do governo e seu substituto,
o marechal Artur da Costa e Silva toma posse do poder colocando o Brasil na fase mais violenta do regime militar.
8. Udenistas eram aqueles “políticos afiliados ao extinto partido UDN (União Democrática Nacional) e têm uma denotação de um discurso político marcado pelo moralismo” (ROCHA, 20013, e-mail).
64
tanto economica, quanto politicamente. Essa estabilidade se transformou em des-confiança do povo e “arma” da oposição que acabou aumentando seus protestos somando esse novo argumento. Para al-guns militares essas novas manifestações mostravam que o “inimigo interno” ainda resistia e ao contrário do que os castelis-tas pensavam não era hora de abrir o re-gime, mas sim endurecê-lo.
Assim o próximo a assumir o po-der foi o marechal Costa e Silva que não esperou muito tempo para mostrar que estava disposta até as últimas consequ-ências para “endireitar” o Brasil e acabar com qualquer tipo de “ameaça” contra a nação. Como dito antes, Castello Bran-co apesar de ser considerado um militar “mais brando” ao sair já deixou pronto as ferramentas para o fechamento total do regime, mas foi Costa e Silva quem colo-cou em prática essas ferramentas tendo apenas o trabalho de aperfeiçoa-las. Dois dias antes de passar a faixa presidencial Castello Branco assinou a LEI No 5.250 ou “Lei de Imprensa” que “oficializava a censura prévia em todas as redações, emissoras de rádio e televisão do país. Agentes do Estado ficavam encarregados de decidir o que seria ou não divulgado, criando nas redações jornalísticas um clima de terror” (TOMAIM, 2008, p.166). Com essa lei o governo militar tinha como intenção controlar os meios de comunica-ção de massa e seus colaboradores. Pois atingia diretamente os jornalistas atra-vés de penas mais duras em casos, por exemplo, de difamação, injúria e calúnia. “Controlar” os jornalistas e consequente-mente os meios de comunicação facilitou ainda mais a “utopia autoritária”9, termo que consiste na utilização da repressão e
da propaganda para eliminar os inimigos e depois fazer com que eles nunca mais voltem. Ou seja
A primeira, em uma perspectiva saneado-
ra (“Operação Limpeza”) se encarregava
de eliminar — e, como bem sabemos, não
excitava — a oposição ao regime, em espe-
cial o “câncer do comunismo”; já a segun-
da, de visão pedagógica, tratava de “edu-
car” o brasileiro nas normas e condutas
sociais, ensinando-lhe os valores morais e
cívicos aceitáveis para o regime e os mi-
litares no poder (TOMAIM, 2008, p.150).
Essa “utopia” era um pensamento uniforme dentro do governo militar, pois, apesar das diferenças entre os grupos dentro do regime, quando se tratava de defender a permanência no poder “o mo-vimento revolucionário de 31 de março de 1964 [...] e impedir qualquer rearticula-ção autônoma do campo politico os mili-tares tratavam de reiterar a união de suas forças” (TOMAIM, 2008, p.150). E assim os militares trabalhavam para fortificar essa “utopia autoritária” como compo-nente unitário de pensamento entre seus membros. Por isso quando o objetivo era “proteger” a nação, os militares tinham um consenso: tudo era válido.
Assim nessa troca de poderes in-terno uma das ferramentas mais absur-das da ditadura brasileira começou a ser frequentemente usada: a tortura. Apesar de já ser utilizada anteriormente ao golpe de 64 “pela polícia [...] contra os marginais e delinquentes pobre” (TAVARES, 2012, p.32) a tortura acabou virando ferramen-ta cotidiana, sádica e perversa contra os presos políticos. Não apenas para adqui-rir informações, mas também como cita
9. Termo criado pelos historiadores Maria Celina D’Araujo, Celso Castro e Gláucio Ary Dillon Soaresdas,
65
Cássio Tomaim “um método de controle político da sociedade em geral” (TOMAIM, 2008, p.151). Isso porque a tortura levava medo a todos. Não só aqueles que eram torturados, mas também a quem sabia de sua existência dentro dos porões da dita-dura. Esse medo era uma das formas de intimidação do regime militar que sabia que uma sociedade amedrontada é uma sociedade em inércia, sem coragem de le-vantar nem um dedo contra seu opressor. A tortura era considera pelos militares como um mal necessário. Até militares mais moderados como o ex-presidente Ernesto Geisel10 eram a favor da tortu-ra, como o próprio admite em entrevista aos historiadores Maria Celina D’Araújo e Celso Castro
Acho que a tortura em certos casos torna-
-se necessária, para obter confissões [...]
Não justifico a tortura, mas reconheço
que há circunstâncias em que o indivíduo
é impelido a praticar a tortura, para ob-
ter determinadas confissões e, assim, evi-
tar um mal maior! (D’ARAÚJO e CASTRO
apud TOMAIM, 2008, p.151).
Apesar desse terror psicológico que a tortura gerava não foram todos que decidiram ficar parado e uma parte da po-pulação foi as ruas protestar. Em 68 o clima de confronto era constante, princi-palmente entre os estudantes contra o re-gime e seus controladores. O ápice foi no final de março, quando o estudante Ed-son Luís de Lima Souto foi morto no Rio de Janeiro durante um protesto contra o regime militar. O que desencadeou uma “onda de manifestações estudantis que foi, então violentamente reprimida” (RO-CHA, 2000, p.96). Além disso, alguns po-
líticos em exercício como Marcio Moreira Alves não abaixaram a cabeça. Deputado pelo MDB Alves fez críticas públicas, em que colocava o atual governo militar como responsável por todos os males que acon-teciam no país. Também pediu a popu-lação que protestasse “contra a ditadura nos festejos de 7 de Setembro ” (ROCHA, 2000, p.96). E foi além, na mesma oca-sião em que chamou a população contra o golpe, no dia 2 de setembro, enquan-to discursava na câmara disse: “Quando poderemos ter confiança naqueles que devem executar e cumprir as leis? Quan-do não será a polícia um bando de fací-noras? Quando não será o Exército um valhacouto11 de torturadores?” (ALVES, acesso: 8, jul. 2013). Um dia após esse discurso continuou com o mesmo tom, porém dessa vez convocando as mulhe-res a “negar seus carinhos aos militares envolvidos em torturas” (ROCHA, 2000, p.97). O que não agradou nenhum pouco os militares que imediatamente “exigiram licença do Congresso para processar o de-putado” (ROCHA, 2000, p.97). A Câmara dos deputados negou o pedido, o que fez com que o governo militar achasse outra desculpa para piorar a situação democrá-tica do país e instaurar de vez da ditadura militar no Brasil.
10. Militar e Ex-presidente da República durante o regime no período de 1974 a 1979.11. Palavra que significa refúgio, abrigo, asilo.
66
2.1.4. A ditadura oficializada - A.I. 5
Foi no final de 68, no dia 13 de novembro que o então Presidente Costa e Silva assinou o Ato Institucional nº 5. O AI-5 foi a maneira de dar um basta nos “calos” que ainda incomodavam os mili-tares, pois legalizava várias ferramentas inconstitucionais para dar poderes excep-cionais ao governo militar. Ele tinha como
premissas, sanções que iam da prisão a
pena de morte, para qualquer que fosse
a contestação ao governo. Através dele
estabelecia-se o fim do habeas corpus, e
a paralização completa de todas as ativi-
dades de denúncia e reivindicações. Com
o AI-5, o presidente concentrava todos os
poderes e decisões, podia decretar o re-
cesso do Congresso, das Assembleias esta-
duais e das Câmaras municipais, podendo
intervir nos estados e municípios. Pelo
decretos, a imprensa é censurada, não
poupando nem o ex-aliado do governo, o
jornalista Carlos Lacerda, que tem seus
direitos cassados por dez anos, dias após a
decretação do Ato, bem como muitos ou-
tros funcionários públicos, trabalhadores
liberais, operários, estudantes, militares e
políticos (RIBEIRO, 2005, p.71).
A “mecânica” do AI-5 transformou o governo militar em uma ditadura. Para os militares era ótimo, pois dava o poder necessário para acabar com qualquer tipo de oposição ao governo, que no final de 68 começava a se proliferar rapidamente. Para o povo era o fim da liberdade indivi-dual e o começo do terror, “situa-se nesta segunda fase do regime militar a maior concentração de denúncias de tortura, perseguições políticas, morte e desapa-
67
recimentos, correspondendo a cerca de 70% dos casos noticiados” (PRADO, 2004, p.41). Esse aumento na violência contra os opositores poderia ter gerado um gran-de desconforto para a imagem pública do governo militar, infelizmente essas ações covardes aplicadas sadicamente sobre os presos políticos não eram de conhecimen-to geral da população. Que também era bombardeada com informação da mídia negando tais atos.
Todo esse controle ajudou a dita-dura a implementar as fundações do que ficou conhecido como “milagre brasileiro”. O “milagre econômico” foi um dos mais exaltados pela propaganda pró governo e tinha como grande projeto o 1º Plano Nacional de Desenvolvimento. O PND foi a forma dos militares de aplicar seus pro-jetos para o desenvolvimento nacional. O governo já havia tentado antes, mas fal-tava poder. Agora o poder era absoluto e não existia quem o pudesse impedir. O principal objetivo do PND era “atrair in-vestimentos estrangeiros maciços para o país” (ROCHA, 2000, p.94), para isso o governo se responsabilizava em melho-rar a infraestrutura das estradas, portos, telecomunicação e energia. Também ado-tou o congelamento salarial para oferecer uma mão-de-obra barata. O resultado foi que em “1973, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) atingiu 14% ao ano. E a inflação girava, oficialmente, em torno dos 13% anuais.” (ROCHA, 2000, p.97). Outro milagre promovido pela pro-paganda foram as conquistas esportivas. Em 1970 o Brasil se tornava tricampeão mundial, tinha o Rei do futebol nos cam-pos e o primeiro campeão da Fórmula 1, Émerson Fittipaldi. Todo esse naciona-lismo exaltado pelo “milagre brasileiro” ajudou a ditadura a encontrar um apoio
popular que aquela altura ia diminuindo. Principalmente nas classes médias que estavam muito contentes com o aumento do consumo gerado pela alta da economia.
Para que tudo funcionasse corre-tamente e o desenvolvimento fosse alcan-çado era preciso, segundo os militares, de segurança. E esse era um dos lemas do então Presidente Emílio Garrastazu Médi-ci. Ele assumiu o poder em 69, escolhido por uma junta militar após o afastamen-to de Costa e Silva vítima de uma trom-bose que o levaria a morte meses depois. Médici era outro militar considerado “li-nha dura” que não media esforços para garantir os interesses da ditadura mili-tar. Claro que os interesses da ditadura nem sempre eram os interesses de todos, muito menos das varias frentes legais ou clandestinas que faziam oposição a domi-nação militar. Por isso a “segurança” era necessária ao governo, pois calava a boca daqueles contra o regime e reprimia a so-ciedade (ROCHA, 2000, p. 98). O Ato Ins-titucional número 5 foi o trunfo da dita-dura no quesito segurança pois cumpria esse papel de controle sobre tudo e todos. Após o decreto do AI-5 Flavio Tavares co-menta que se “prendeu a esmo, numa gi-gantesca caça as bruxas que não ocorrera sequer em 1964 na derrubada do presi-dente João Goulart” (TAVARES, 2012, p.26). O resultado além das prisões arbi-trárias foi uma migração ao exílio daque-les que ainda eram livres, principalmente dos lideres políticos. Para os militares a missão de garantir a segurança para que o desenvolvimento acontecesse estava se concretizando. Os inimigos internos ou estavam sendo presos ou fugiam do país. “Brasil, Ame-o ou deixe-o” dizia o slogan que “não foi criação da Aerp12, ór-gão responsável pela propaganda política
68
do regime militar, mas da própria Oban13” (TOMAIM, 2008, p.161). Que mostrava o nível de tolerância mínimo aos “traidores da pátria”.
Mas nem todos aqueles que acre-ditavam que o Brasil ainda poderia voltar a ser uma democracia justa estavam dis-postos a “lutar” no exílio. Porém com o AI-5 os caminhos dentro da política para lutar contra o regime foram praticamen-te extintos. A oposição não via maneiras legais de se conseguir qualquer tipo de reinvindicação, assim “a falta de canais normais de atuação política [...] leva-ram, então, as organizações clandestinas de esquerda a discutir a opção armada” (ROCHA, 2000, p.98). Além disso já es-tavam fartas dos abusos do regime que com o passar do tempo ficava mais rígi-do, mais violento e menos constitucional. Assim vários grupos clandestinos, como a Var-Palmares (Vanguarda Armada Revo-lucionaria Palmares), COLINA (Comando de Libertação Nacional), POLOP (Politica Operaria) MR-8 (Movimento Revolucioná-rio 8 de Outubro), AP (Ação Popular), ALN (Ação Libertadora Nacional), entre outras, além do Partido Comunista do Brasil (PC do B), entendiam que era necessário pe-gar em armas já que “a luta revolucioná-ria seria de libertação nacional” (RIBEI-RO, 2005, p.142), pois acreditavam que a luta que eles começariam iria sensibilizar a opinião pública e faria com que o povo des-se continuidade. Ilusão que foi percebida logos nos primeiros anos de luta armada.
Esses grupos clandestinos eram compostos por uma miscigenação de ideologias, nem todos eram comunistas
ou socialistas como comenta Carlos Eu-genio Paz ex-militante da ALN (Ação Li-bertadora Nacional), “muitos integrantes eram nacionalistas, padres dominicanos e muitos militantes almejavam somente acabar com a ditadura militar no Bra-sil que havia sido promovida pelo impe-rialismo norte-americano, não havendo a intenção de parcelas de seus quadros de chegar ao socialismo (RIBEIRO, 2005, p.142). Seus objetivos tinham uma uni-dade maior, porém os meios para atingi--los eram amplos. Para financiar suas ações esse grupos praticavam assaltos a bancos e outros tipos de “expropriações”, como comenta Flávio Tavares: “as orga-nizações da resistência não roubam, mas expropriam14. Nenhum centavo vai para o bolso de nenhum integrante de nenhuma organização” (TAVARES, 2012, p.64). As armas em alguns casos também vinham de expropriações feitas em quartéis do exercito, como o caso de janeiro de 1968 em que militantes da VPR (Vanguar-da Popular Revolucionaria) invadiram o Hospital Militar de Cambuci (RIBEIRO, 2005, p.79). Algumas ações mais violen-tas aconteceram, principalmente vindas da ALN (Ação Libertadora Nacional). En-tre as mais violentas estão a “explosão de um carro bomba no Quartel General do II Exercito” (RIBEIRO, 2005, p.79) e o “jus-tiçamento”/assassinato do capitão Char-les Rodney Chandler por ser
agente da Central Inteligency Agency
- CIA - e representante do imperialismo
americano; haver lutado no Vietnã; ter
orientado, na Bolívia, os chefes do Exer-
cito boliviano na repressão às guerrilhas,
ação que culminou com a morte de “Che”
12. Assessoria Especial de Relações Públicas, “foi criada durante o governo Costa e Silva com o objetivo de centralizar os ór-gãos governamentais de propaganda. Composta basicamente por sociólogos, psicólogos e jornalistas”(MARTINS, 1999, p.76)13. Operação Bandeirantes, “concentrada em São Paulo com a finalidade de combater a guerrilha urbana” (PRADO, 2004, p.39),14. Tirar legalmente de alguém a posse ou a propriedade de.
69
Guevara; ter apoiado a guerra americana
no Vietnã e, finalmente, estaria realizan-
do um levantamento no Brasil (TARDE,
1969).
Esses grupos armados contra a ditadura também tinham missões pra-ticamente suicidas como a libertação de presos, inclusive dentro de prisões. Uma delas aconteceu no presídio Lemos de Bri-to do Rio de Janeiro. Flávio Tavares que estava entre os organizadores do resgate e participou da ação conta que
Tudo tinha durado menos de três minu-
tos. As 18 horas, em ponto, dessa tarde
de maio de 1969, ao concluir o recreio e
em vez de voltarem as celas, nove presos
transpuseram a porta principal [...] Ne-
nhum gesto de força, nem sequer um em-
purrão. Só astúcia (TAVARES, 2012, p.49).
Meses depois o próprio Tavares se encontraria na condição de preso. Prisão essa que durou 30 dias e só não foi pro-longada e mais trágica, pois seu cativeiro provavelmente só iria terminar com sua execução, porque ele foi um dos 15 pri-sioneiros trocados no sequestro do em-baixador norte-americano Charles Burke Elbrick. Dentre os objetivos do sequestro, realizado por dois grupos armados o MR-8 e a ALN, no dia “4 de setembro de 1969, estavam a propaganda armada e a liber-tação de quinze presos que seriam envia-dos ao México” (Ribeiro, 2005, p.93). Essa ação, uma das mais ousadas, realizada pela oposição ao governo militar foi a pri-meira, mas não a última. No ano de 1970 houve ainda mais ações envolvendo em-baixadores no Brasil. “Em março, foi a vez do cônsul japonês Nabuo Okuchi [...] Em junho, capturaram o embaixador Ehren-fried von Holleben, da Alemanha Ociden-
tal [...] Em dezembro, foi o embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher” (BUCCI e AFFINI, 1994). Além das ações armadas outra tática importante para esses gru-pos era a propaganda armada, que tinha como propósito denunciar “a penetração do capital estrangeiro como domínio im-perialista sobre o pais. [...] a falta de liber-dade de expressão e do livre debate sobre o desenvolvimento. [...] a desvalorização dos salários e a queda da qualidade de vida da maioria da população” (ROCHA, 2000, p.99). Essa propaganda era reali-zada dentro das “ações de campo”, como nos sequestros dos embaixadores, em que uma das exigências era a leitura de um manifesto (TAVARES, 2012, p.127). Outra forma de propaganda armada era a panfletagem. No Rio de Janeiro uma das células mais ativas contra o regime militar usava a tipografia de um presídio, “na única tipografia que jamais seria vas-culhada pela polícia” (TAVARES, 2012, p.100). O autor ainda conta que durante as festas juninas, “os detentos soltavam balões que, ao arder no ar, faziam cair sobre a cidade milhares de volantes com críticas a situação econômica social” (TA-VARES, 2012, p.100). Isso mostra o quão versátil eram as ações desses grupos para tentarem desestabilizar o regime militar, infelizmente como veremos a seguir eles não estavam tão preparados assim para enfrentar um inimigo maior, mais organi-zado e muito mais equipado.
Com todas essas ações da opo-sição efervescendo aos olhos do povo o governo militar tinha a preocupação ime-diata para acabar de uma vez por todas com o tão procurado “inimigo interno”. E agiu rápido para que o sonhado objetivo da revolta popular não fosse alcançado. A resposta chegou primeiro a São Paulo
70
onde surgiu a OBAN (Operação Bandei-rantes). Segundo Cássio Tomain, no seu inicio, a OBAN era um “dispositivo extra-legal” (2008, p.155) e tinha como objetivo combater a guerrilha urbana. Porém mais que isso, a operação bandeirantes
centralizou as atividades repressivas.
Qualquer preso político ou suspeito de ati-
vidades subversivas deveria ser encami-
nhado para lá. Criava-se, então, um corpo
de polícia dentro do Exército que contava
com oficiais e subalternos das três Armas
e da Força Pública de São Paulo, além de
delegados, investigadores e pessoal buro-
crático da Secretaria de Segurança. Ins-
talada nas dependências de uma delega-
cia desocupada, o 36o Distrito Policial, a
Oban tornava a rua Tutóia, em São Paulo,
o endereço do centro de tortura mais fa-
moso do Brasil (TOMAIM, 2008, p.155).
Dessa forma o governo militar se organizava “dentro da lei” para garantir que a “contra-revolução” tivesse um fim rápido, mas não indolor.
Segundo a visão dos militares, a OBAN foi tão bem sucedida que o projeto--piloto que se iniciou em São Paulo de-veria ser aplicado em todo o pais. Para o regime “os resultados atingidos foram excepcionais. Os assaltos a bancos foram diminuindo até a ausência total, da mes-ma forma que terminaram os assaltos aos quartéis e os sequestros de autoridades” (SILVA apud TOMAIM, 2008, p.156). As-sim menos de um ano depois da elabora-ção da Operação Bandeirantes em 1969 o governo militar decide expandir a OBAN para todo o território nacional, criando os DOIs (Destacamento de Operações e Informações), subordinados aos CODIs
(Centro de Operação de Defesa Interna). Essas bases operacionais espalhadas pe-las grandes cidades do Brasil se tornaram os locais de maior violência, onde a “tor-tura aos presos políticos tornou-se práti-ca comum” (ROCHA, 2000, p.99). Apesar de nunca ter sido oficialmente assumida pelas forças armadas a pratica da tortura se transformou em ação corriqueira para alguns oficiais e um prazer sádico para outros.
O tipo de tortura variava de acor-do com a resistência do torturado, quan-to mais difícil de “quebrar” mais forte se tornava a tortura. No entanto era o nível de sadismo do torturador que comandava as seções de horror. Dentro dos porões do DOI/CODI existiam “celas climatizadas, para submeter prisioneiros a baixas ou elevadas temperaturas, ou sonorizadas para expor as vítimas a barulhos e gri-tos” (TOMAIM, 2008, p.152). Dormir era impossível, principalmente para os recém chegados que passavam várias horas sen-do “interrogados” com pequenas pausas apenas para aumentar o terror. As seções de tortura não agrediam apenas o físico e o psíquico dos presos. A humilhação era uma das formas preferidas para acabar com a moral e a integridade daqueles que estavam sendo torturados. Como comen-ta Flávio Tavares:
A grande humilhação, símbolo da derro-
ta e do ultraje, é despir-se. “Vai tirando a
roupa”, diz o chefe do PIC15, e já um dos
sargentos agarra-se na camisa ou puxa a
calça ou a saia e a primeira reação, instin-
tiva é gritar, num ingênuo gesto de defe-
sa: Não me bota a mão. Deixa que eu tiro”.
É o momento da mútua corrupção entre
15. Pelotão de Investigações Criminais.
71
a vitima e o algoz. Na crença de que se
defende, o prisioneiro obedece e se despe
[...] mas de fato se desnuda, como o tortu-
rador quer. O preso se dobra ao carrasco,
na ilusão inconsciente de tentar corrom-
pê-lo e atenuar a tortura seguinte [...] E o
carrasco corrompe mostrando poder, para
que saiba que ele comanda a vida do pri-
sioneiro e pode torturar mais ou menos
(TAVARES, 2012, p.33).
Dentro do regime a prática da tor-tura era difundida como um meio de se obter informação de maneira rápida dos presos políticos, principalmente porque eram poucos os que aguentavam as vá-rias sessões de choques elétricos, espan-camentos e as condições precárias que se encontravam nas celas enquanto não eram torturados. Entretanto, para muitos militares a tortura era um “esporte”, tan-to que o “Centro de Informações do Exer-cito (CIE) concedia aos torturadores a Me-dalha do Pacificador16” (TOMAIM, 2008, p.153). Isso mostra que muitas das ve-zes as atrocidades vinham sem motivos. Muitos suspeitos de integrarem grupos clandestinos contra o regime eram presos com denúncias falsas ou inexistentes. Uma das acusações mais absurdas era a
“cumplicidade familiar”, um “crime” não
previsto sequer na totalitária Lei de Segu-
rança Nacional, mas constante dos manu-
ais de tortura elaborados na School of the
Americas [...] se algum “suspeito” fugisse
ou não fosse encontrado, em seu lugar
prendiam-se os parentes mais próximos,
para forçá-lo a entregar-se (TAVARES,
2012, p.35).
Para piorar a situação o AI-5 ha-via banido o direito legal do acusado de recorrer ao habeas corpus. Fazendo com que o torturado ficasse preso durante o tempo que fosse necessário para que os militares obtivessem todas as suas res-postas ou saciassem seu sadismo. Para quem ficou preso nos porões criados pela ditadura, para serem o purgatório dentro na Terra, o sonho da liberdade era distan-te e dolorido, pois “torturar é a dinâmi-ca desse purgatório perene, onde tudo se sofre e nada se purga” (TAVARES, 2012, p.29). Diferente de Tavares alguns mili-tares, como o delegado Sérgio Fleury17
e o capitão Mauricio Lopes Lima, gosta-vam de chamar os “porões da ditadura” de “sucursal do inferno” (BATISMO DE SANGUE, 2006) onde a única coisa a se sentir era a dor. Levar o inferno para as ruas também era a intenção de alguns militares de extrema direita. Entre os planos mais violentos e malucos estava o de fazer com o Rio de Janeiro o que Nero fez em Roma. Em 1968 o brigadeiro Bur-nier da Aeronáutica “tentou literalmente dinamitar e incendiar a cidade do Rio de Janeiro e logo, por a culpa de tudo nos “comunistas subversivos”, para ter com isso o pretexto de perpetrar um “banho de sangue com matança geral” na área da oposição” (TAVARES, 2012, p.110). O pla-no perfeito teve apenas uma falha: “con-vocou o Parasar18 para incendiar a cida-de e “Sergio Macaco” negou-se a cumprir a ordem e denunciou tudo” (TAVARES, 2012, p.111). A violência aumentava com o passar do tempo e proporcionalmente ao poder que o governo dava aos seus
16. A medalha era o reconhecimento pelos “atos de bravura ou de serviços relevantes prestados ao Exército [...] em São Paulo, noventa medalhas foram concedidas em três anos” (TOMAIM, 2008, p.153).17. Apesar de não ser militar, Sergio Fleury foi um dos mais sádicos e lunáticos agentes da ditadura que passou pelo DOI/CODI. Foi acusado inúmeras vezes de tortura e assassinato e é apontado como líder do Esquadrão da Morte em São Paulo durante a década de 70. Foi um dos torturadores do Frei Tito, junto com o capitão Mauricio Lopes Lima.18. Grupo de busca e salvamento da FAB, fundado e comandado pelo capitão Sérgio Moranda de Carvalho, “Sérgio Macaco”.
72
militares para proteger a nação, mal sa-biam ele que tais abusos provocariam sua própria queda. Em meados da década de 70 a violência exercida pelo governo era enorme, parte da população já sabia das torturas, das perseguições e do terror que estava acontecendo de maneira cada vez maior no Brasil. Isso porque “o aparato repressivo crescera a tal ponto que, frente aos movimentos contrários ao regime mi-litar, chegara a perder o próprio referen-cial que separava a legalidade da ilegali-dade” (PRADO, 2004, p.41). Com oficiais sem discernimento entre certo e errado e cada vez mais sádicos, o governo acabou não conseguindo controlar todos e em outu-bro de 1975 sofreu um dos maiores revés.
Vlado, como era conhecido Vla-dimir Herzog entre os amigos e familia-res nasceu na antiga Iugoslávia, mas era naturalizado brasileiro. Se formou em Filosofia na USP em 59 e começou sua carreira como jornalista. Trabalhou em grandes meios de comunicação como O Estado de S. Paulo, BBC e na TV Cultu-ra, que foi o seu último trabalho em vida como diretor de jornalismo. Era membro do PCB, entretanto não participava ativa-mente das atividades do partido. No dia 24 de outubro de 75
os agentes da repressão foram até a emis-
sora para prender Vlado, mas foram demo-
vidos por outros jornalistas que alegavam
que ele não poderia abandonar a redação
com o telejornal em pleno andamento.
Herzog se apresentou voluntariamente na
manhã seguinte no DOI-CODI, onde co-
nheceria a tortura, a humilhação e a mor-
te horas depois. (TOMAIM, 2008, p.157).
Assim um dia após a sua ida ao DOI-CODIS o governo militar anunciou a
sua morte. O fato provocou uma enorme mobilização, houve protestos com reper-cussão nacional e internacional, o maior deles com a participação de oito mil pes-soas na Catedral da Sé. Tudo isso não apenas pela morte do famoso jornalista, que durante o tempo que foi o “responsá-vel pelo telejornal da TV Cultura de São Paulo, imprimiu à programação um tom de denuncia dos problemas vividos pela população” (ROCHA, 2000, p.109). Mas principalmente pelo fato de que junto as manchetes declarando a morte de Herzog uma foto ilustrava a versão de suicídio que o exército alegava como verdadeira. Repudiada por diversos setores da so-ciedade, a versão de suicídio foi empur-rada goela a baixo pelo governo e só foi realmente “corrigida” em 2013 com um novo atestado de óbito. A ditadura pagou um preço alto por esse tipo de exposição. Para piorar sua própria situação três me-ses depois do caso Herzog a mesma his-tória iria se repetir. Dessa vez a morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho é manche-te dos jornais e mais uma vez o governo repete a versão de suicídio. A revolta da população aumenta, fazendo com que o atual presidente Ernesto Geisel tome uma “solução imediata e o general Ednal-do D’Avilla Mello é exonerado do cargo” (TOMAIM, 2008, p.159). Nesse momento por mais que o próprio governo negasse os atos de violência e a tortura, o mun-do e principalmente os próprios brasilei-ros começavam a perceber o que de fato acontecia nos “porões da ditadura”.
73
2.1.5. O começo do fim
Além da aparente violência, das torturas e abusos, outros fatores influen-ciaram o fim do regime que alguns acre-ditavam que nunca iria acabar. O atual presidente, o general Geisel, acreditava que “a abertura política deveria acorrer de forma “lenta, gradual e segura”” (RO-CHA, 2000, p.109). Isso mostra que para alguns militares já era hora de voltar para a caserna. O povo também já não apoia-va tanto o governo militar, reflexo do pés-simo momento da economia no final da
década de 70. A fonte de dinheiro vinda do estrangeiro secava cada vez mais, fa-zendo com que a dívida externa explo-disse, aumentando a inflação de forma exponencial. Isso fez com que finalmente as pessoas percebessem que “durante o período do “milagre brasileiro”, os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos” (ROCHA, 2000, p.108). Os opositores do regime ganhavam cada vez mais aliados, pois “ao endurecer-se [...] a direita mili-tar rompeu o próprio esquema civil que
74
a havia apoiado e ampliou o leque oposi-tor” (TAVARES, 2012. p.39). Já o governo militar perdia “apoiadores” importantes. O presidente James Carter19, democrata, tinha uma política externa de não apoiar regimes ditatórias, principalmente na América Latina o que dificultava ainda mais a entrada do capital estrangeiro. As mídias de massa também começavam a mostrar certa rebeldia e publicavam no lugar das materias cesuradas receitas de bolo ou cantos de Os Lusíadas.
Todos esses problemas fizeram com que o governo e o então presidente Geisel adiantassem seus planos de aber-tura política e assim no dia 31 de dezem-bro de 1978 foi revogado o AI-5, dez anos após entrar em vigor. Isso contrariou mui-tos militares “linha dura” que tentaram voltar ao poder na “eleições” de 79. En-tretanto o candidato do presidente Geisel acabou vitorioso e em março de 79 o ge-neral João Figueiredo foi eleito presidente da república. Assim como seu antecessor continuou com o projeto da abertura po-litica e no mesmo ano de sua posse assi-nou a Lei n° 6.683 ou Lei da anistia, como ficou conhecida. Lei essa que diz:
Art. 1º É concedida anistia a todos quan-
tos, no período compreendido entre 02
de setembro de 1961 e 15 de agosto de
1979, cometeram crimes políticos ou co-
nexo com estes, crimes eleitorais, aos que
tiveram seus direitos políticos suspensos
e aos servidores da Administração Direta
e Indireta, de fundações vinculadas ao po-
der público, aos Servidores dos Poderes
Legislativo e Judiciário, aos Militares e
aos dirigentes e representantes sindicais,
punidos com fundamento em Atos Institu-
cionais e Complementares (LEI No 6.683,
DE 28 DE AGOSTO DE 1979).
Contudo mais do que anistiar seus antigos “inimigos” o governo preten-dia anistiar a si próprio, pois imaginava que o povo não iria perdoar os militares pelas ações cometidas durante os anos da ditadura depois que esses deixassem o poder. Essas medidas também tinham como objetivo mudar a visão das pesso-as sobre o Presidente Figueiredo, por ser este o “representante” do governo militar, a imagem de ditador precisava ser muda-da para a de um “líder” mais próximo do povo. Ironicamente esse objetivo foi difícil de ser alcançado, principalmente pelas gafes cometidas pelo próprio Figueiredo. Em uma de suas primeiras entrevistas após tomar posse da presidência, “Fi-gueiredo declarou em alto e bom som que preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo. Noutra, a uma criança que lhe per-guntou o que ele faria se ganhasse um salário mínimo para viver, disparou “eu dava um tiro na cuca”” (ROCHA, 2000, p.110). Com isso o último presidente do regime militar acabou se transformando para o povo em um ícone da época, mais pela sua língua solta do que pelo regime. Em 1981 a reforma partidária acontecia e acabava com o bipartidarismo imposto pelo AI-2. Partidos como o PT, PDT, PDS e PMDB foram criados e a democracia já não parecia tão longe como antes.
Apesar disso os mais extremistas da direita militar não estavam nem um pouco satisfeitos, planejavam voltar ao poder e instaurar novamente um regime de opressão, violência e medo. Foram vá-rios os atentados às bancas de jornais e aos prédios da OAB. Entre os mais famo-sos está o caso do Riocentro, onde “no dia 1º de maio de 1981, um sargento do exército morreu e um capitão ficou ferido
19. 39º Presidente dos Estados Unidos, exerceu seu mandato entre 1977 e 1981.
75
2.1.6. É proibido – a censura e suas caras
quando uma bomba explodiu no automó-vel que ocupavam. Ambos eram agentes dos órgãos de repressão no Rio de Janei-ro” (ROCHA, 2000, p.110). O caso ficou famoso, pois o objetivo dos militares era explodir a bomba dentro de um show em comemoração ao Dia dos Trabalhado-res. Felizmente a bomba explodiu antes da hora e além de estragar o plano as-
sassino também impediu que os militares de extrema direita conseguissem forjar provas para uma nova tomada ao poder. Nenhum desses esquemas funcionou e assim em 1984 começou a campanha “Diretas Já”que acabou por enterrar de vez o regime e a ditadura militar no Brasil vinte anos após o seu inicio.
Apesar da ditadura usar da força, da violência e, principalmente, do medo para controlar os grupos contra o regime e seus participantes, os militares enten-diam que para controlar as grandes mas-sas seria preciso controlar os meios de comunicação. Assim podendo controlar
os jornais, os rádios e as televisões seria quase impossível que um levante popu-lar fosse projetado através dessas mídias de massa. Por isso mesmo que em plena madrugada do dia 31 de março para 1º de abril alguns grandes veículos de infor-mação já sentiam como seria o futuro dali
76
em diante. Flavio Tavares, repórter do jornal Ultima Hora comenta que ao ligar para a redação no Rio de Janeiro teve um “relato sucinto do que ocorrera. O jornal fora invadido e parcialmente destruido por grupos de extrema-direita, apoiados pela polícia carioca” (TAVARES, 2012, p.147). E tentando alertar outros meios de comunicação o autor comenta que: “Tive ainda frustradas conversações com a Rádio Nacional e a TV Excelsior, que – ocupadas pela polícia estadual da Gua-nabara – haviam passado, pela força, às mãos de jornalistas vinculados ao CCC, o Comando de Caça aos Comunistas” (TA-VARES, 20012, p.147). Isso mostra a rá-pida reação dos “golpistas” em controla-rem aqueles que poderiam atrapalhar os planos de conquistas naquele momento inicial. Entretanto, o governo militar não podia encarceirar os meios de comunica-ção para sempre. Isso provavelvente atra-palharia sua imagem perante a opinião pública que ainda não tinha ideia que o golpe de 64 era, na verdade, uma ditadu-ra disfarçada. Une-se a isso o fato de que no ínicio do regime “a ditadura ainda se envergonhava de reprimir e, mesmo dura, transigia, buscava aparecer como bem comportada e obedecia a justiça, que pelo menos no âmbito do Supremo Tribunal atuava com independência” (TAVARES, 2012, p.25). Isso mostra que a censura não era utilizada com todas as forças no começo da ditadura.
Claro que a censura já existia, sua origem no Brasil vem desde os 30, quan-do o governo de Getúlio Vargas criou o “Serviço de Censura dos filmes cinema-tográficos” (KUSHNIR, 2001, p.174). Esse primeiro orgão censório tinha uma função mais classificatoria sobre os filmes e de-terminava entre outras coisas “o melhor
público para assisti-lo” (KUSHNIR, 2001, p.175). Porém esse primeiro Serviço de Censura já mostrava entre os itens a se-rem observados que “ferir a dignidade na-cional, a ordem pública, as forças arma-das ou as autoridades” (KUSHNIR, 2001, p.175) eram motivos para interdição do material. Esse sistema perdurou durante os anos que antecederam ao golpe, mas não foi motivo de grandes preocupações por parte dos artistas e jornalistas da época. Entretanto com a ascenção dos militares logo se percebeu que “tempos de intolerância e policialismo” (TAVARES, 2012, p.149) estavam por vir. Infeliz-mente alguns perceberam tarde demais, porque sorateiramente o governo golpis-ta mascarava seus atos e aos poucos ia endurecendo o regime. Assim quando as pessoas menos percebessem já estariam em plena ditadura. Essas “doses de au-toritarismo” vieram aos pouco, com os Atos Institucionais para controle “macro” e para uma abrangência mais “micro” outras leis, mais especificas foram cria-das. Um desses casos de controle “micro é anterior à censura, para controlar os meios de comunicação os militares cria-ram a, já citada, Lei de Imprensa. O obje-tivo era claro, controlar aqueles que cria-vam as notícias: os jornalistas, editores, chefes de redação, etc. Através do medo e de possíveis acusações que poderiam se transformar em crimes políticos. Esse tipo de ação “legal” fez com que o trabalho da censura fosse realizado pelos próprios jornalistas. A “Autorcensura” (KUSHNIR, 2001, p.187) era a melhor forma de não correr o risco de ser considerado inimi-go do governo militar. Apesar disso esse “método” não era visto com bons olhos dentro dos meios de comunicação, princi-palmente daqueles que faziam oposição a ditadura. Martins Alonso censor e Secre-
77
tário de Redação do Jornal do Brasil por 40 anos comenta que
A autocensura era repelida como um in-
sulto pela própria direção dos jornais. Ela
era também um ofensa ao espírito:
-Além de seu caráter espúrio, ela deixava
marcas que só apareciam com o tempo:
empobrecia intelectualemente os repórte-
res e estrangulava a criatividade nas reda-
ções (KUSHNIR, 2001, p.188).
Ainda sim era muito utilizada e incentivada por quase todos os censo-res dentro dos jornais (KUSHNIR, 2001, p.180), principalmente porque alguns agentes do governo achavam essa estra-tégia mais eficiente.
A censura interna, “plantada” dentro dos jornais, foi consequência do AI-5. Com poderes “ilimitados” o governo poderia fazer o que bem entendesse para controlar a tudo e todos. Assim além dos itens já citados o AI-5 tinha, como função, “estabelecer a censura da imprensa, da correspondência, das telecomunicações e das diversões públicas” (CRUZ, Sebastão C. Velasco e, MARTINS, Carlos Estevam apud MARTINS, 1999, p.65.). A partir do AI-5 foi oficializada esse tipo de ação do governo. O então ministro da Justiça Gama e Silva justificou a censura em um depoimento a edição do dia 24 de Janeiro de 1969 no jornal Folha da Tarde e disse:
Logo após a edição do AI-5, se tornou ne-
cessária, por motivo da segurança nacio-
nal em defesa da ordem pública, a censu-
ra à imprensam. Porém, de acordo com a
decisão do presidente da República, posso
afirmar categoricamente que não há cen-
sura à imprensa [...] A crítica da impren-
sa não nos atemoriza. O que desejamos,
exclusivamente, é que ela seja autenti-
camente verdadeira; que use a liberdade
com responsabilidade. Qualquer abuso
que venha a ser praticado será reprimido
com toda a energia pelo Ministério da Jus-
tiça” (KUSHNIR, 2001, p.270).
Dessa forma a censura mais repressi-va dava as caras no Brasil, apesar de no princípio do AI-5 não ter sido “percebida” publicamente.
O objetivo da censura era claro, controlar os canais que poderiam mani-pular o povo a favor ou contra imagem do governo. Os militares sabiam que com o controle desses veiculos nas mãos pode-riam colocar mais peso a favor na balança da opinição pública. Apesar das pessoas lembrarem dos censores como os “cães de guarda” (KUSHNIR, 2001) do governo mi-litar que riscavam com seus lápis verme-lho. O aparato censor foi além e tinha en-tre suas ferramentas o uso da chantagem para garantir que o controle. Isso aconte-cia “através de uma política de concessão de licenças ou registros para a atuação de emissoras de televisão, jornais, revis-tas etc.” (MARTINS, 1999, p.15). Assim já que o aval de funcionamento desses meios de comunicação vinham por autorização do governo nada mais “justo”, segundo o pensamento militar, do que essas mí-dias “retribuíssem o favor”. E apoiassem o governo no conteúdo apresentado ou então tinham fechar as portas. Esse tipo de “chantagem” trazia alguns benefícios. Obviamente, controlar o tipo de mensa-gem que sairia desses veiculos era o mais importante. Mas também ter um “aliado” falando a favor do governo militar por “conta própria”. Fator fundamental para os militares que acreditavam que essa es-
78
tratégia proporcionaria “ao regime uma propaganda “favorável”, sem que o gover-no tivesse que responder publicamente por ela, neutralizando assim as possíveis comparações com o DIP20” (MARTINS, 1999, p.10). Para os militares negar esse tipo de comparação era essencial para se distanciar do governo que tinha sua prin-cipal característica o populismo e assim não cair em contradição entre seus atos e sua imagem passada ao povo.
Assim a censura usava esse dois canais que se complementavam para que o processo de controle sobre os meios de comunicação fosse pleno. O objetivo era garantir aos militares a divulgação de “seus feitos e, principalmente, para criar junto a sociedade uma imagem “positiva “de si, ao mesmo tempo que impunha ex-trema censura à imprensa, impossibili-tando-a de divulgar ao público nacional opiniões que destoavam da mística do “Brasil grande”” (MARTINS, 1999, p.74). Assim “bloqueando” certas informações e enaltecendo outras a censura construía terreno para manter a opinião pública a seu favor. Terreno esse fundado em algu-mas mentiras e muitas verdades mani-puladas, pois segundo Octavio Costa “a arte de comunicar não é a arte de vender a imagem ótima... de um governo, mas a arte de apresentá-la verdadeira” (FICO apud MARTINS, 1999, p.81). Isso mos-tra a estratégia do governo em não admi-tir seus verdadeiros atos e manipular a mídia criando um tipo propaganda polí-tica implícita. Esse tipo de estratégia era concebida pelo alto escalão da ESG, já o trabalho “braçal” da censura, junto com toda a culpa por esse tipo de trabalho, re-caiu em pessoas que ora eram chamadas de policia, ora de jornalistas: os censores.
Essas pessoas responsáveis dire-tas pelos riscos vermelhos eram a linha de frente do governo militar para silen-ciar os meios de comunicação e a cultura no Brasil. O censor era definido como “o crítico – no sentido de quem encerra um julgamento -, o funcionário público encar-regado da revisão e da censura de obras literárias ou artísticas, ou do exame críti-co aos meios de comunicação de massa...” (KUSHNIR, 2001, p.160). O papel dele para o governo militar era idêntico a de um perito criminal e exigia “do individuo vasto conhecimento do assunto, exce-lente nível intelectual” (KUSHNIR, 2001, p.182), e que com esses tipos de faculda-des deveria zelar pelos “bons costumes” que a ditadura pregava. Para os que fo-ram rabiscados de vermelho o censor era um “tira”, mero policial considerado inte-lectualmente inferior por entre outros fa-tos a falta de atenção em ver certas men-sagens nada subliminares. De fato havia a “existência de jornalistas que foram censores federais e também policiais en-quanto exerciam a função de jornalistas nas redações” (KUSHINIR, 2001, p.26). Essa dupla profissão, policial/jornalista ou jornalista/policial, que alguns censo-res tiveram durante o período do regime militar mostra o quanto era incoerente e indecisa as funções dos censores.
20. Departamento de Imprensa, criado durante a ditadura de Getúlio Vargas em 1942.
79
Se por um lado existiam jornalis-tas simpatizantes com a ditadura a ponto de defende-la como um censor, por outro, e em proporções muito maiores, estavam os que eram contra. Não apenas contra a censura dentro dos jornais, a opressão e o medo, mais do que isso, perceberam que o governo militar estava se voltando “contra a Cultura, em sua base mais au-têntica: a liberdade” (LIMA apud CZAJKA, 2009, p.215). E assim sem liberdade de expressão e até sem liberdade de pensa-mento algumas pessoas perceberam que mais do que seus direitos individuais, o que estava em jogo era a evolução artísti-ca, intelectual e, claro, cultural no Brasil.
Para combater essa situação todos aqueles insatisfeitos com o regime militar resolveram lutar, cada um a sua manei-ra, cada um com a sua melhor arma. A violência armada foi uma das maneiras usada por ambos os lados, tanto militares quanto militantes, que achavam que os problemas poderiam ser resolvidos mais rapidamente se armas fossem usadas
2.1.7. É proibido proibir - a liberdade contra a ditadura
para “defender sua ideologia”. Entretanto a brutalidade da “tortura e da censura foi monopólio do governo ditatorial” (BRES-CIANI apud KUSHINIR, 2012, p.13). A pensadora Hannah Arendt diz que: dife-rentemente do poder, a violência é muda, e começa exatamente aonde a palavra é calada” (BRESCIANI apud KUSHNIR, 2012, p.13) isso explica por que a censura e a tortura foram tão usadas durante a di-tadura no Brasil. Já que esses dois tipos de violência eliminavam qualquer chance para o diálogo ou debate acontecer.
Aqueles ligados aos meios de co-municação, jornalistas, cronistas e cla-ro chargistas tentavam a sua maneira “lutar” contra a violência imposta pelo governo militar e a primeira batalha era travada contra a própria censura que ao “negar ao outro o direito de acesso a de-terminados temas; vigiar pessoas; ditar normas de condutas; excluir palavras do vocabulário” (KUSHNIR, 2012, p.36) acabava construindo uma realidade to-talmente mentirosa. Para burlar aqueles
80
que encarceravam a verdade várias arti-manhas foram sendo utilizadas por jor-nalistas como Tonico Ferreira do jornal Folha da Tarde, que relata:
Dois policiais passaram a ler nosso ma-
terial. Começamos o penoso aprendiza-
do de enganar censores, mandar textos
tipo “boi de piranha para serem cortados”
e assim, salvar o texto mais brando que
de fato queríamos publicar “ (FERREIRA
apud KUSHNIR, 2001, p.269).
Essa estratégia saciava o ímpeto do cen-sor de usar seu lápis vermelho riscando o artigo com “abusos” explícitos quase emocionais contra os mandamentos mi-litares e deixando passar aquele texto mais racional que usava várias técni-cas para esconder sua real mensagem. Isso contribuiu diretamente para criar a imagem de burro que acabou se fixando ao censor desta época. A metonímia era uma das figuras de linguagem mais uti-lizada. Um dia após ser decretado o AI-5 (14/12/1968) o Jornal do Brasil publicou uma pequena nota em sua primeira pági-na sobre as previsões meteorológicas do dia. Nela o jornal era claro: “Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespi-rável. O país esta sendo varrido por fortes ventos. Máx.: 38º em Brasilia. Mín.: 3º em Laranjeiras” (KUSHNIR, 2012, p.40). Ven-do que situação do país estava prestes a piorar o jornal lançou essa pequena nota que passaria desapercebida por qualquer leitor mais desavisado. A única provável estranheza seria os 3º nas Laranjeiras, re-ferencia direta ao Palácio das Laranjeiras no Rio de Janeiro, sede do governo militar e onde os termômetros não deveriam es-tar marcando tão baixa temperatura em pleno verão carioca. Algumas vezes, não era possível escapar da censura e a estra-
tégia mudava. Assim o objetivo passa a ser uma tentativa de mostrar para quem estivesse lendo determinado artigo que ali estava uma matéria com conteúdo cen-surada. Um dos mais famosos casos é a “publicação de Os Lusíadas, de Camões, nas páginas de O Estado de S. Paulo, ou das receitas culinárias, no outro jornal do grupo da família Mesquita, o Jornal da Tarde”(KUSHNIR, 2012, p.39).
Existiam também meios de comu-nicação que eram totalmente contrários ao governo militar e que não tentavam disfarçar sua insatisfação. Uma das pri-meiras revistas de oposição foi a Pif-Paf que alguns meses após o golpe de 64 cir-culava pelas ruas e vendia cerca de 40 mil exemplares (KUSHNIR, 2012, p.22). Criada por Millôr Fernandes com colabo-radores como Jaguar, Ziraldo e Fortuna, a mesma “patota” que anos depois forma-ria o Pasquim. Um dos primeiros meios de comunicação a se opor a ditadura mi-litar conseguiu em seu curto tempo de vida mostrar que era possível combater os militares através do humor e mostrar os problemas políticos e sóciais da época. Por isso acabou incomodando muito os militares e apenas quatro meses após sua inauguração acabou fechando as portas em sua oitava edição por pressão do go-verno (Perreira, 2008, p.2). Ironicamente em sua última edição Millôr deu um con-selho aos militares que seguiram a risca a dica do chargista:
Quem avisa, amigo é: se o governo con-
tinuar deixando que certos jornalistas fa-
lem em eleições; se o governo continuar
deixando que determinados jornais façam
restrições à sua política financeira; se o
governo continuar deixando que alguns
políticos teimem em manter suas candi-
81
turas; se o governo continuar deixando
que algumas pessoas pensem por sua pró-
pria cabeça; e, sobretudo, se o governo
continuar deixando que circule esta re-
vista, com toda sua irreverência e crítica,
dentro em breve estaremos caindo numa
democracia (FERNANDES apud KUSHNIR,
2012, p.22).
A Pif-Paf acabou porém seus cria-dores não deixaram a vontade de lutar sumir. Assim no ano de 1969, meses após ser decretado o AI-5 e o governo militar se transformar em uma verdadeira ditadu-ra, a mesma patota que anos antes criou a Pif-Paf, colocava para circular nas ruas o Pasquim. Esse jornal semanal que ficou conhecido por cutucar nas feridas da di-tadura com humor contava também com nomes de peso vindos das mais diversas da cenas culturais, como Jó Soares, Chi-co Buarque, Glauber Rocha e Odete Lara. O Pasquim nasceu com os mesmos objeti-vos da sua antecessora, porém com muito mais força e mais malícia para sobreviver aos tempos difíceis em que o Brasil esta-va afundado. Durante os cinco anos de sua existência o jornal semanário sofreu a censura prévia (KUSHNIR, 2012, p.43), apenas no final de 1975 é que o Pasquim foi liberado para “escrever o que quisesse”. Durante o período em que esteve sob a mira do lápis vermelho a patota que participava do jornal aprendeu como bur-lar alguns dos vários censores que por ali passaram. A primeira censora que “cui-dou” do jornal era chamada carinhosa-mente de “dona Maria” (KUSHNIR, 2012, p.196) e apesar da aparente afetividade quando Jaguar e o resto dos colabora-dores do Pasquim descobriram seu pon-to fraco trataram logo de usá-lo contra a censora, como lembra o próprio chargista:
“”[...] nós descobrimos que [ela] tinha
um ponto fraco: gostava de beber. Todo
dia a gente botava um garrafa de sco-
tch na mesa dela e depois da terceira
dose ela aprovava tudo. Resultado: foi
despedida...””(KUCINSKI apud KUSHNIR,
2012, p.197).
Outros censores passaram pelo jornal e sofreram com a turma que escre-via por lá. Durante uma viagem a Floren-ça Ziraldo enviou um cartão postal para as três censoras que estavam vigiando o Pasquim na época. O postal mostrava a imagem da escultura de Michelangelo, Davi, de costas. O “texto assinado pelo cartunista explicava: “Tô mandando ele de costas porque, se estivesse de frente vocês cortavam o p... dele”. Quando Zi-raldo voltou, não encontrou mais as três censoras” (KUSHNIR, 2012, p.198). Essa proximidade era mal vista pelo alto esca-lão da censura que consideravam a ami-zade entre censores e censurados um perigo, já que aqueles que eram vigiados poderiam realizar uma “espécie de lava-gem cerebral nos censores” (KUSHNIR, 2012, p.198). Esse foi um dos motivos que levou o governo militar a transferir a censura do Pasquim para Brasília. Isso aconteceu com outros veículos de comu-nicação e “visava quebrar o jornal, já que o obrigava a fechar com muita antecedên-cia, afastando ainda mais os anunciantes e fazendo com que chegasse às bancas “meio velho e requentado”” (KUSHNIR, 2012, p.198). Não funcionou, o jornal continuou com suas críticas ácidas e bem humoradas à ditadura militar. Mesmo quando em 1970 grande parte da redação do Pasquim foi presa e solta apenas 3 me-ses depois o jornal continuou circulando.
82
Em 1975 quando o número 300 do Pasquim foi às bancas uma questão foi levantada em seu editorial por Mil-lôr Fernandes. No texto “que notificava ao público leitor que, desde 24 de mar-ço daquele ano, o tabloide se encontra-va livre da censura prévia” (KUSHNIR, 2012, p.17) e “agora a responsabilidade é de vocês” (KUSHIR, 2012, p.17) como foi comunicado por telefone pelo último dos censores que passou pelo Pasquim. O debate levantado por Millôr era sobre essa tal responsabilidade que agora era “reconduzida” a redação do jornal, pois dava a entender que o fim da censura era um “presente, que deveria ser pago “com responsabilidade”. E sua aceitação era si-nônimo de gratidão e cumprimento de um acordo “velado”” (KUSHNIR, 2012, p.19). Logo se os colaboradores do Pasquim
usassem a autocensura para cumprir o acordo estariam indo contra a posição ideológica do próprio jornal, porém se não usassem essa liberdade com responsabi-lidade o jornal poderia sofre mais uma vez na mão da ditadura. Para Millôr essa res-ponsabilidade ainda não era plena já que o jornal estava livre apenas da censura prévia, mas continuava sobre a mira do governo militar e dos órgãos censores. As-sim o chargista “terminou o editorial afir-mando que “sem censura não quer dizer com liberdade”” (KUSHINIR, 2012, p.19). Millôr estava tão certo ao escrever essa afirmação que dias depois o exemplar nú-mero 300 do Pasquim foi recolhido das bancas por ordem da Censura Federal e Millôr sem liberdade de para se expressar acabou deixando O Pasquim.
2.2. O desenho
Apesar da origem do desenho estar dire-tamente relacionada a evolução do ho-mem na pré-história onde os desenhos rupestres feitos pelos “primitivos deixa-ram para o futuro o testemunho de sua época”(ANSELMO,1975, p.40), o “dese-
nho” que se pretende abordar dentro des-te trabalho tem uma trajetória mais recen-te. Estamos falando do gênero da charge que teve sua primeira aparição no Brasil na data de “14 de dezembro de 1837, sob o título A Campainha e o Cujo, feita por
83
2.2.1. O gênero charge
Manuel Araujo Porto-Alegre (1806-1879)” (MOYA, 1986, p.220). Esta primeira ilus-tração que se encaixa ao gênero estudado era vendida avulsa e tinha como objetivo denunciar as propinas que um funcioná-rio do governo ligado ao Correio Oficial estava ganhando.
A segunda parte deste capítulo foca exa-tamente no objeto de estudo deste traba-
lho, as charges sobre o período da dita-dura no Brasil. Aqui serão tratados as definições do gênero da charge, sua lin-guagem, o humor e a política. Além dis-so nas páginas seguintes será feita uma análise de cinco charges de cinco artistas diferentes, Ziraldo, Henfil, Angeli, Glau-co e Latuff, em épocas diferentes, para assim entender melhor qual é, afinal, o objetivo social das charges na ditadura militar brasileira.
84
Segundo a definição do dicioná-rio Aurélio da Língua Portuguesa o termo charge tem a seguinte definição: “Charge (Fr) s.f. Representação pictórica de ca-ráter burlesco e caricatural, em que se satiriza uma ideia, situação ou pessoa” (AURÉLIO, 2010 p.383). Apesar dessa de-finição estabelecer especificidades sobre o que é uma charge, o tipo de conteúdo apresentado por ela e até a linguagem, o gênero charge é muito mais complexo. Esse estilo é composto por um hibridismo linguístico que faz o uso, tanto, do discur-so verbal, quanto da ilustração para criar sua narrativa. Além disso as charges es-tão quase sempre ligadas diretamente as figuras de linguagem como a metonímia e a metáfora (FLORES, 2002, p.25), res-ponsáveis quase sempre pelo humor que é característico desse gênero.
Primeiramente é importante des-tacar as relações articuladas entre três elementos que compõem uma charge: o narrador, os personagens e o autor. É essa dependência em que cada um desses três pontos se complementam e comple-tam para desta forma criar uma “réplica a respeito de um dado evento social, su-postamente público e notório, envolvendo quem assina, quem narra e as persona-gens [...] reunindo instâncias discursivas textuais e extratextuais” (FLORES, 2002, p.14). Isso significa que a interação entre texto e imagem dentro desses três fatores são cúmplices na elaboração da charge e fundamentais para que sua mensagem seja passada de forma inteligível ao leitor. Para isso cada um dos três elementos ci-tados acima tem um papel diferente den-tro da linguagem de uma charge. Sendo o narrador o elo principal entre o leitor e a mensagem a ser passada. É ele o res-ponsável por “compor o texto, distribuir
desenho e escrita, estabelecer os graus de participação de cada linguagem, tipificar e definir personagens, enfim dar voz, ex-pressão e personalidade a suas criações” (FLORES, 2002, p.14). Dessa forma é o narrador quem estreita as conexões en-tre texto e o cenário social que a charge pretende retratar, além disso cabe a ele a asserção do momento que a charge irá re-presentar. Ele também se destaca na for-ma com que aparece dentro do quadro da charge, pois diferentemente dos persona-gens que têm, usualmente, balões ligan-do sua fala ao correspondente, o narrador tem seu discurso, muitas vezes, dentro de retângulos, externos aos quadros onde a ação acontece. Fato esse que acaba por transforma o próprio narrador em perso-nagem e não em autor.
Os personagens por sua vez, além das falas dentro de um balão que ocupa o quadro da charge, têm como função dar vida a charge. Já que suas “característi-cas e comportamentos, inclusive as fa-las, compõem o conteúdo que preenche a charge” (FLORES, 2002, p.14). São eles que retratam o contexto da época apre-sentada na charge. E apesar de serem observados, em um primeiro momento, como criações ficcionais, na realidade podem se mostrar com uma veracidade maior ou menor em relação a uma “perso-na” no mundo real, dependendo da inten-sidade com que o autor o coloca dentro da charge. Por fim o autor, aquele que tem percepção social para se fazer ser ouvido dentro dos vários tipos de mídia por onde as charges circulam, sejam eles jornais, revista ou internet. O autor é nesse caso
uma instância discursiva textual. O au-
tor não se manifesta diretamente, a não
ser através de sua assinatura. [...] Indi-
85
retamente, entretanto, dá rumo à narra-
tiva, estabelecendo de que modo e atra-
vés de que recursos o narrador fará o(s)
comentário(s), o estilo do texto, o seu de-
senrolar, o enfoque assumido e a temática
abordada (FLORES, 2002, p.15).
Ou seja, apesar de quase nunca “aparecer” dentro de suas próprias char-ges, o papel do autor é fundamental. Não apenas por ser ele o criador que dá vida as personagens, mas também por ser ele quem mostra suas próprias asserções so-bre o mundo e, assim como um diretor de cinema documentário, tenta passar para o leitor um ponto de vista pessoal.
Segundo Onici Flores, a criação de uma charge envolve também uma tipolo-gia de produção sígnica igual a que Um-berto Eco (1976) propôs para a criação e interpretação dos signos (FLORES, 2002, p.20). Segundo Flores essa tipologia tem quatro parâmetros e começa com o reco-nhecimento, que é quando
um dado objeto ou evento, produzido pela
ação do humana ou pela natureza é en-
tendido pelo destinatário como expressão
de um determinado conteúdo, ou porque
uma correlação já houvesse sido estabe-
lecida anteriormente ou por causa de sua
possibilidade atual (FLORES, 2002, p.20).
Utilizando essa definição dentro da experiência da produção gráfica das charges, podemos associar o termo reco-nhecimento de Eco (1976) com a pesquisa que os chargistas realizam antes da cria-ção. Cada artista olha para o mundo em busca de um conteúdo reconhecível por ele. O segundo parâmetro é a ostenção que segundo a autora acontece “quando um dado objeto ou evento, produzido pela
natureza ou pelo homem, e existente de fato num mundo de fatos é selecionado por alguém e apontado como represen-tante da classe de objetos da qual é mem-bro” (FLORES, 2002, p.20). Esse segun-do parâmetro tem um paralelismo com a percepção dos chargistas após terrem en-contrado um objeto para servir de base de suas criações artísticas, pois assim que tal “assunto” é encontrado cabe ao autor introduzi-lo ao público de forma que tal espectador possa compreende-lo como ícone pertencente ao seu mundo. O ter-ceiro parâmetro é a réplica, “espécie de imitação realista ou modelo parcialmente reproduzido” (FLORES, 2002, p.20). Esse seria o momento em que o chargista uti-liza dos signos já existentes para que o leitor não fique perdido, pois essas cópias de modelos sígnicos já existentes facili-tam uma hibridização de velhos modelos com novos e assim facilitam a decodifica-ção por meio da associação. O último é a invenção, definida pela autora como
um modo de produção em que o agente
da função sígnica veícula um novo con-
tinuum material ainda não segmentado
para os fins em que vai ser utilizado, e
propõe uma nova maneira de dar-lhes for-
ma, transformando no e pelo processo os
elementos pertinentes de um tipo de con-
teúdo, instituindo um vínculo sem pre-
cedentes, tornando-o aceitável (FLORES,
2002, p.20).
Ou seja, neste último parâmetro o chargista usa os outros três para reali-zar a criação de uma nova charge em que o conteúdo apresentado foi absorvido do mundo, selecionado e copiado para enfim ser criado de uma nova maneira. Porém é imprescindível notar que essa nova asser-ção do mundo com novos signos não sur-
86
ge do nada, mas sim através de uma base cultural já existente. A criação do que é falado de maneira “nova” nas charges é construída para que o “ainda não dito esteja envolvida pelo já dito” (FLORES, 2002, p.21). Só assim o receptor poderá entender o novo signo criado pelo autor.
Esse entendimento sobre o conte-údo criado é fundamental para que exista cumplicidade entre o leitor e o chargista. Pois “ninguém ri da piada que você conta, se não existe um código prévio entre você e seus ouvintes” (MARINGONE, 1996, p.88). São esses códigos que garantem o resultado de uma charge, seja esse resul-tado uma risada ou uma reflexão. Outro fator importante que acarretado a cumpli-cidade, que uma charge deve criar, é jus-tamente o apoio que o público pode forne-cer a um chargista mais “radical”. Como o termo charge tem sua origem na “pala-vra que vem do francês carga, de “carga de cavalaria”” (MARINGONE,1996, p.86). Podemos perceber que muitas vezes a in-tenção de uma charge, principalmente as políticas, é exatamente passar por cima ou ultrapassar uma barreira. Ação que nem sempre agrada a todos, então torna--se imprescindível que a cumplicidade en-tre autor e leitor esteja ativa para que se crie uma proteção entorno do artista.
Como dito antes para ser compre-endida pelas pessoas é necessário que existam ou sejam criados códigos para que se “associem acontecimentos que à primeira vista não possuem ligação algu-ma” (MARINGONE, 1996, p.88). Isso por que a charge “constitui-se, em sua face visível, de um amalgama de sentidos, de intenções, de crenças [...]” (FLORES, 2002, p.10), muita informação para ape-nas um quadro e apenas com códigos e
signos “universais” conhecidos pelo pú-blico é possível sintetizar todas essas mensagens e assim ser viável “captar a dinâmica do encontro entre a população e os “dizeres e pensares” coexistentes no entorno social” (FLORES, 2002, p.10). Ou seja esses códigos tem sua universalidade porém carregam também algumas parti-cularidades locais sejam elas culturais e/ou emocionais.
Para que a síntese desses elemen-tos seja eficiente a metáfora e a metoní-mia são as figuras de linguagem mais trabalhadas dentro das charges. E de tão “corriqueiras e usuais, as metáforas pas-sam quase que completamente em bran-co. Nós nem as notamos, pois, em geral, referem-se a coisas básicas à nossa so-brevivência (FLORES, 2002, p.21), fato que deixa ainda mais fácil a compreen-são dessas quando utilizadas. O processo de absorção pelo qual o leitor passa para compreender uma metáfora é baseado no “repositório de nossas experiências ante-riores, o lastro cultural sobre o qual es-truturamos nosso viver” (FLORES, 2002, p.22). O resultado se manifesta em novas ideias sugeridas por outras opções de perceptivas sobre o mundo que o autor tinha em sua mente. Entretanto entre a absorção e o resultado existe um longo caminho onde a
estruturação metafórica vai-se delineando
aos poucos. Num primeiro momento, uti-
lizamos nossa experiência anterior para
exprimir abstrações, sutilezas, através da
personificação; a representação concreta
passa a indicar algo difícil de ser posto
em palavras. Os conceitos abstratos são,
dessa forma, representados por entidades.
A esse processo chamamos de metafori-
zarão ontológica. O segundo deslocamen-
87
to direciona-se à maior explicitação da
relação estabelecida. Personificação do
conceito e precisão das expressões lin-
guísticas somam-se, formando um todo
integrado. Por fim, no terceiro estágio
ilustração e palavras apontam para uma
decorrência da superposição de camadas
e significação [...] (FLORES, 2002, p.25).
É a transferência de conhecimen-tos, do leitor com seu ambiente, do autor com seu contexto, do leitor com o autor e seu contexto e do autor com o leitor e seu ambiente, que propicia o entendi-mento correto dessas metáforas. É uma troca conceitual e cognitiva por parte das metáforas e de reinterpretação através da metonímia, que funcionam de forma semelhante a discutida no capítulo sobre documentário.
Outro código importante para o entendimento pleno da charge é o tempo. Já que toda a situação criado pelo char-gista parte de um fato cotidiano e recente durante aquela semana ou mês. A maio-ria das charges são interessantes du-rante o período em que seu conteúdo faz sentido. Salvo exceções, elas costumam atingir o público de forma eficiente ape-nas na época em que a memória do pú-blico lembra dos fatos nela apresentados. E essa característica é importante não apenas para estabelecer mais um código onde o leitor irá retirar outras referências que possam esclarecer a mensagem, mas também por ser o “tempo” retratado na charge uma das muitas formas de se re-tratar uma época. Essa importância se dá pela constituição dessa linguagem que é composta por um “amálgama de sentidos, de intenções, de crenças, permitindo-nos captar a dinâmica do encontro entre a po-pulação e os “dizeres e pensares” coexis-
tentes no entorno social (FLORES, 2002, p.10). A charge assim como o filme docu-mentário é uma asserção de uma época real onde o chargista coloca seu ponto de vista a mostra ao leitor. Sendo feita por fatos da “realidade” elas visam uma reflexão do real, resumindo “situações políticas que a sociedade vive como pro-blemas” (GAWRYSZEWSKI apud KURTS, 2012, p.7). Por isso mesmo funcionam tão bem como veículos de documentação durante a história, pois agenciam aquilo que é de mais relevante naquele momen-to através de “critérios de noticiabilida-de, hierarquização, seleção e exclusão de fatos, agendamentos e, principalmente, enquadramentos” (HENN apud KURTZ, 2012, p.7). Sendo muito datada, a charge acaba se transformando com o passar do tempo em um registro bastante especifi-co de uma época, porém “dificilmente a graça permanece. A não ser, é claro, que se tenha uma explicação clara sobre os fatos do período. Mas, como todos sabem, explicação mata qualquer piada” (MARIN-GONE, 1996, p.89). Ou seja a importân-cia da charge está também ligada ao futu-ro em que ela vai ser redescoberta.
Principalmente por serem, em sua grande maioria, de caráter contestador as charges, assim como os documentários políticos apresentados nos capítulos an-teriores, ajudam a “construir uma nova realidade visual e, com ela, uma nova re-alidade social” (NICHOLS, 2012, p.182). A charge tenta mostrar aquilo que talvez uma parte das pessoas não queira que seja mostrado, ela tenta mudar o status quo e dar voz a “parcela dos sem-parce-la”. Ela força o leitor que não entendeu a mensagem logo após a primeira lida a uma reflexão, que pode levar a elucida-ção da charge ou não. Os que entendem
88
2.2.2. A política no riso
são levados a um caminho onde se veem na obrigação“ de tomarem uma atitude para transformar a situação apresenta-da (BERNARDET, 2003, p.41). De toda a forma, entendendo ou não a charge lida,
existe uma reflexão sobre algumas das ideias propostas naquele quadro único de desenho e é esse tipo de reflexão que pretende mudar o pensamento do leitor o principal objetivo da charge.
89
Para entender melhor quais eram os objetivos das charges contra a ditadu-ra e tentar elucidar o problema proposto dentro deste trabalho, é necessário uma análise direta sobre o produto em ques-tão. Para isso foram selecionadas cinco charges, de cinco artistas diferentes, em três períodos distintos. A escolha dessas cinco peças teve como critério de seleção o tema ditadura. Dentro dessa temática foi criado um recorte sobre três épocas dife-rentes, sendo a primeira de 1964 a 1974, representando o início do governo militar e o período conhecido como “linha dura”; a segunda de 1975 a 1984, que represen-ta a abertura política e o fim da ditadura e por último um período mais recente a partir de 2000. Dentro dessas três épocas foram selecionados dois artistas para os dois primeiros períodos e um para o ter-ceiro, essa escolha foi baseada, além da temática ditadura, na relevância dos tra-balhos feitos durante o período que tais artistas representam dentro deste traba-lho.
Para o período de 1964 a 1974, os artistas selecionados foram Henfil e Ziral-do. Henfil, apelido de Henrique de Souza Filho, nasceu em 1944 em Ribeirão das Neves (MG). Foi jornalista, escritor e dese-nhista, trabalhou no jornal Diário de Mi-nas, Jornal do Sport e no Jornal do Bra-sil, nas revistas Visão, Realidade, Placar e O Cruzeiro. Foi um dos mais importantes colaboradores do Pasquim, onde ganhou bastante destaque no meio artístico. Criou personagens como Graúna, O Bode Orelana e o cangaceiro Zeferino, Ubaldo, o paranóico e Os Fradinhos. Sempre muito envolvido com política Henfil usava seus personagens para discutir a situação do Brasil. Nos seus desenhos lutava pelo fim da ditadura e pela redemocratização do
Brasil. Em 1988 morreu por complicações da AIDS, contraída após uma transfusão de sangue. Mineiro de Caratinga, Ziraldo nasceu em 1932. Além de chargista ele é pintor, jornalista, teatrólogo, cartazis-ta escritor e caricaturista. Começou sua carreira nos anos 50 em veículos de co-municação como Jornal do Brasil, Folha de Minas e o Cruzeiro. Na década de 60 ficou conhecido por lançar “A Turma do Pererê”, a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um autor só. Foi um dos fundadores do Pasquim e com suas charges e tirinhas, cheias de bom humor conseguiu burlar a censura e mostrar um lado que quase nenhum meio de comuni-cação conseguia passar para o leitor du-rante a ditadura.
Para o segundo período (1975-1984) os artistas escolhidos foram Angeli e Glauco. Angeli nasceu em São Paulo em 1956 e com apenas 15 anos começou a trabalhar como desenhista para a revis-ta Senhor. É chargista do jornal Folha de São Paulo desde os anos 70 onde é o res-ponsável pelas charges de política, mas também participou de outros periódicos como o Pasquim. É o criador de persona-gens famosos que representavam os anos 80 como, Rê Bordosa, Bob Cuspe, Wood & Stock, Meiaoito, entre outros. O quarto artista dessa lista é Glauco desenhista, chargista e cartunista nascido em 1957 na cidade de Jandaia do Sul no estado do Paraná. Em 1976 se mudou para Ribeirão Preto e trabalhou para o jornal Diário da Manhã. Foi um dos premiados no Salão de Humor de Piracicaba de 1977. Criou os personagens Geraldão, Casal Neuras, Dona Marta e Zé do Apocalipse. Em 2010, Glauco e seu filho Raoni, foram assassi-nados em casa por um dos frequentado-res de seu centro de pesquisas espirituais.
90
Para representar o período mais recente (2000 em diante) o chargista es-colhido foi Carlos Latuff. Latuff é carioca, mas mora atualmente em Porto Alegre. Nascido em 1968, começou a trabalhar com ilustração em agência de publicida-de. Em 1990 fez suas primeiras charges para o Sindicato dos Estivadores, onde continua a atuar. Com o crescimento da internet começou a usar seu talento ar-tístico como ativista político, assim se tor-nou um dos chargistas da nova geração brasileira mais reconhecido no exterior. Publicando suas charges como copyleft, primeiro para o movimento zapatista e depois para causas da palestina, ainda teve trabalhos utilizados nos protestos durante a “Primavera Árabe” no Egito. No Brasil seus trabalhos abordam a violên-cia policial, principalmente contra negros e pobres, além de expor críticas à política interna do país. Latuff também faz traba-lhos sobre a ditadura e a “Comissão da Verdade” que investiga os fatos ocorridos na época do governo militar.
93
Essa charge publicada no Jornal do Brasil entre os anos de 1967 e 1968 (PINTO, 2012, p.51) tem uma mensagem bastante clara, principalmente se obser-varmos o contexto da época. Os anos de 67 e 68 foram aqueles onde o regime se preparava para se fechar completamen-te e se transformar em uma ditadura. Foi também o tempo em que os protestos contra a atual situação do Brasil se in-tensificaram através de passeatas, greves e ações clandestinas, muitas vezes arma-das. Os jovens, estudantes, sindicalistas, intelectuais e artistas encabeçavam essas ações e é exatamente para esse público que esta charge foi criada. Nela vemos uma passeata onde um homem segura um cartaz com o dizer: “ABAIXO”, ao lado dele vemos o Super Homem, personagem dos quadrinhos americanos, segurando outro cartaz dizendo: “PELA CENSURA, CONTRA A CULTURA”. O mesmo homem segurando o primeiro cartaz diz para o Super Homem: “Disfarça e sai de fininho que te deram o cartaz errado”. Percebesse que essa charge tenta de uma forma bem leve incitar o povo a “luta”, mostrando que já existe pessoas indo à rua expor sua insatisfação com o regime. Entretanto, a maior mensagem que ela tenta passar é sobre a relação entre o governo dos EUA e do Brasil. O Super Homem é a represen-tação sígnica do governo norte americano e é ele quem carrega o cartaz de desapro-vação aos manifestantes e de apoio ao go-verno militar, isso deixa claro a opinião do autor sobre a posição dos EUA e tenta mostrar ao leitor, que em alguns casos também lia as histórias em quadrinhos américas como a do Super Homem, que apesar de parecer bonzinho nem tudo que vinha dos EUA era bom. Pode-se perceber também dois pontos em relação à fala do homem que dá o aviso ao Super Homem.
Primeiro a falta de conhecimento do ho-mem que ajuda o super-herói a perceber sua gafe, já que na verdade a frase dita no carta era a verdadeira opinião do governo norte americano. E segundo a reação de espanto ou surpresa que o Super Homem tem ao ser avisado, como que se não en-tendesse e desconhecesse a existência de tais atos no Brasil.
Fonte:
(PINTO, 2012, p.73)
95
Apesar da simplicidade essa char-ge publicada no início da década de 70 na revista dos Fradinhos criada por Henfil e republicada em um compilado com his-tórias da Graúna nos anos 90, tem uma mensagem muito mais abrangente, que está camuflada pelo contexto dos perso-nagems para fugir da censura. A turma da Graúna é composta pelo bode Orelana, pelo cangaceiro Zeferino e pela própria Graúna, os três eram a representação de Henfil do povo brasileiro, cada persona-gem com uma característica própria para se assemelhar com uma “classe”. Quando começou a criar os três o autor tinha a in-tenção de criar personagens “de guerrilha que iam reconstruir Canudos e iam liber-tar o Brasil através das armas” (SOUZA, 1984, p.28). Dentro desse cenário tipi-camente nordestino os personagens to-maram vida própria e as histórias outro rumo, e “virou uma história que criticava a luta de guerrilha, que criticava as teo-rias marxistas [...] (SOUZA, 1984, p.28). Essa charge mostra exatamente isso, o povo em busca da esperança, sem pegar em arma, sem lutar, sem saber o porque de querer, apenas entendendo que de cer-ta forma a maneira como as coisas estão acontecendo no Brasil não está certa. O povo brasileiro representado pelos três personagens, é transformado em ícones nordestinos com todos os trejeitos típicos dessas pessoas e com todos os problemas característicos dessa região como pano de fundo. Assim era possível escapar da cen-sura, pois nesse caso a esperança pode ser muitas coisas, água para acabar com a seca, comida para acabar com a fome, dinheiro para acabar com a pobreza ou liberdade para acabar com a opressão.
Fonte: (Henfil, 1993)
97
Foi em plena ditadura militar que aconteceu o II Salão de Humor de Pira-cicaba no ano de 1975, o evento havia sido criado um ano antes e contrariando a todas as expectativas da época dura até hoje. Foi nesse mesmo evento que Angeli conseguiu o terceiro lugar com essa char-ge. Ela reflete bem o espírito da época, em que o medo reinava, a insegurança era constante e a desconfiança era enor-me com relação a tudo que circundava as pessoas. Com clima tão pesado e desfa-vorável ao riso, rir era privilégio de pou-cos, apenas aqueles que tinham o con-trole do poder conseguiam rir de forma “espontânea”, no caso alguns setores da igreja e os militares em geral. O povo não ri, ele é vigiado, controlado e encarcerado dentro do próprio ambiente, alguns per-cebem essa “cerca” que é apenas visível na charge. Todos são obrigados a rir para que a imagem do país tropical não seja danificada, dentro e fora de suas frontei-ras. Passar essa falsa felicidade era uma maneira de controlar aqueles que diziam que o país estava em péssimas condições, pois se o povo sorri o Brasil não pode es-tar tão ruim assim. Essa charge não incita a luta, não apazigua o momento ela gera reflexão sobre o país e mais importante vira um retrato histórico dos momentos vividos naquela época.
Fonte:
(https://www.facebook.com/salaodehu-
mor.piracicaba)
99
Em 1978 Glauco Vilas Boas ficou com o terceiro lugar. Sua charge mostra a aber-tura política que o Brasil vivia no final da década de 70. O então presidente Geisel já dava sinais de que a abertura iria acon-tecer de forma “lenta, gradual e segura” (ROCHA, 2000, p.109). A população es-perava ansiosamente e claro, alguns mi-litares simpatizavam com a ideia. “Tirar sarro” com a necessidade dos próprios militares que tão violentamente negaram a liberdade por tanto tempo e que no fi-nal dos anos 70 já viam a necessidade de tirar o peso que uma democracia tranca-fiada tinha sobre suas costas é o princi-pal objetivo dessa charge. Ela ironiza o momento, faz as pessoas rirem com ideia de que nem mesmo os “milicos” aguenta-vam mais aquela situação. De uma forma muito sutil até incita os próprios militares descontentes a irem à luta contra o pró-prio regime, mas deixa que o humor so-breponha essa intenção para, quem sabe, distrair a censura e não sofrer sanções.
Fonte:
(https://www.facebook.com/salaodehu-
mor.piracicaba)
101
Essa charge foi escolhida por ser feita fora do período em que o Brasil sofreu a ditadura, porém o peso dela deixa claro que algumas feridas não foram e nem de-vem ser curadas e esquecidas. Na charge Latuff usa alguns signos bem conhecidos para construir sua opinião sobre a impu-nidade dos militares que usavam da tor-tura na época da ditadura para “conse-guir informações”. O maior desses signos é a bandeira do Brasil, usada para situar o acontecimento, ela é usada como pano de fundo com uma pequena alteração. Na palavra “progresso” os dois “S” tem um grafia diferente, isso porque eles estão re-presentando o símbolo da SS nazista que usava esse símbolo em seus uniformes. E na charge ela é colocada para comparar as agressões e torturas feitas no Brasil com o horror do holocausto. Isso fica cla-ro quando se tem o conhecimento do tipo de tortura que é aplicado sobre o único personagem, o chamado pau de arara. O pau de arara era uma das mais utiliza-das técnicas de tortura, pois fazia o preso passar por todos os tipos de humilhação, desde tirar a roupa até tomar choques em todas as partes do corpo, fora claro a po-sição dolorosa em que tem que ficar por várias horas. Essa charge é a mais agres-siva, tenta fazer com que o leitor veja os horrores causados pela tortura durante a ditadura. Não é engraçada nem existe hu-mor, porém há ironia, ironia em ser tortu-rado pela sua própria bandeira, sua pá-tria que com orgulho você venera. O leitor que entende essa mensagem passa então a ter um papel de “protetor” caso contrá-rio estaria pactuando com a tortura, se transformando assim em um torturador ele próprio. Essa charge incita à luta, apesar da ditadura ter acabado em 1984, ela quer que o leitor lute contra futuros opressores e contra o presente impune.
Fonte:
(http://latuffcartoons.wordpress.com/)
103
O terceiro e último capítulo des-te trabalho pretende discorrer sobre todo o processo de desenvolvimento do objeto experimental proposto, o documentário. Além de serem abordadas questões de pré-produção, criação e pós-produção este capítulo pretende mostrar quais as
3. RECONTANDO A HISTÓRIAprincipais referências que influenciaram o estilo que será desenvolvido no docu-mentário, bem como as formas que pos-sivelmente poderiam contribuir para uma estética diferenciada. Também serão dis-cutidos os meios e canais buscados para auxiliar na criação do documentário, como cursos, oficinas e conversas com especialistas.
3.1. Pré-roteiro
3.1.1. Indicação do tema
3.1.2. Descrição do problema
As charges na época da ditadura.
As charges foram no Brasil um dos principais canais contra a ditadura. Ironizar, menosprezar, informar e agre-dir eram alguns dos superpoderes que elas tinham. Porém, como qualquer ou-tro tipo de forma artística que não se ali-nhava com os pensamentos do regime militar, elas também corriam o risco de serem censuradas e abolidas. As charges têm uma força enorme, que maquia sua mensagem, escondendo seu propósito de ofender e satirizar as ideias, fatos e pro-blemas que incomodam os chargistas e assim confundir quem está sendo ataca-do para o real objetivo daquela charge.
O ano de 1969 foi a época mais ferrenha da ditadura, em que a liberdade foi encarcerada junto com outros tantos
direitos que o povo tinha através do A.I. 5. Nesse ano nasce o principal meio de comunicação que usa as charges para se opor ao poder militar, o Pasquim. Entre seus principais colaboradores aparece-ram nomes de peso no mundo artístico, como Tom Jobim, Chico Buarque e Paulo Leminski que constantemente escreviam artigos e crônicas para o jornal. Porém a munição pesada contra a ditadura saiu das pontas das canetas de Ziraldo, Ja-guar e Henfil, os três chargistas que vira-ram um pesadelo para o governo militar. Eles não foram os primeiros, mas foram os mais presentes e mais importantes chargistas de uma época em que ser pego falando mal do governo podia gerar con-sequências fatais. Mas o Pasquim nunca desistiu, nunca parou e só fechou as por-
104
tas em 91, quase 10 anos depois do fim da ditadura.
O Pasquim foi a principal fonte em que beberam diversos chargistas hoje amplamente reconhecidos. Angeli, Laerte, Adão, Glauco, entre outros, são exemplos de profissionais que viam no jornal uma referência de como mostrar sua opinião de forma bem humorada contra um esta-do que não estava de acordo com os seus ideais.
Ao abordar tal contexto surgiu a ideia de desenvolver um documentário, cuja intenção é a de questionar sobre a função dessas charges anti regime. Afinal elas eram criadas para divertir? Para ali-viar, ao menos um pouco, toda a dor e sofrimento provocados pela repressão da ditadura? Ou eram essas charges armas disfarçadas? Armas culturais que tinham a intenção de colocar o povo contra o re-gime militar?
3.1.3. Eleição e descrição dos objetos
3.1.4. Eleição e intensões sobre os entrevistados
Objeto 1 – A Ditadura.
Apresentação de um contexto his-tórico para mostrar: as armas usadas contra a cultura, as formas de censura, o apogeu e o declínio, a percepção da so-ciedade perante o regime, a resistências armada e qual seria a função social das charges.
Objeto 2 – O Humor
Por poder camuflar seu teor satí-rico e usar a ironia, o humor tinha van-tagem nos momentos em que era neces-sário confundir a censura. Porém quais eram os objetivos desse humor? Alegrar ou incentivar a população contra o regime
militar? E como fazer isso sem banalizar a situação no país? Quais eram as me-lhores formas de se “gozar” da ditadura e qual seria a “criptonita” desse humor?
Objeto 3 – O Uso Social das Charges
É evidente o uso das charges como produção humorística anti-regime militar construída para ampliar a consciência da massa e instigar o povo na luta contra a ditadura. Mas era esse o principal moti-vo? O que instigava esses chargistas a tal ato, que poderia ser considerado prati-camente suicídio? Existia algum tipo de aliança com as forças clandestinas que lutavam, em alguns casos armada, con-tra o regime? E de que forma esse espírito influenciou a nova geração?
Objeto 1 – Ziraldo, chargista.
O objetivo é entender como fun-cionava a criação de charges dentro do Pasquim, quais eram as motivações que impulsionavam esses artistas a fazerem
humor contra a ditadura durante o mo-mento mais ferrenho do governo militar. Também pretendesse descobrir as dificul-dades para criar humor político e crítico dentro dessa sociedade e por fim quais eram os objetivos desses artistas quando
105
produziam suas charges. Entrevista não realizada.
Objeto 2 – Angeli e Laerte, chargistas.
A intenção dessa entrevista é per-ceber se houve algum tipo de diferença em relação a geração de chargistas mais antigos. Alterações sobre a censura, as motivações e os objetivos. Também se pretende discutir o que é humor político, a existência obrigatória do humor dentro da charge política e os objetivos que uma charge tinha sobre os leitores. Entrevistas não realizada.
Objeto 3 – Waldir Cauvila e Fernando Henrique Cardoso, sociólogos.
O objetivo é tentar relacionar as motivações que levam um governo militar a “banir” sua cultura, a agredir seu povo. Também discutir se os chargistas conse-guiam atingir os objetivos de instigar as massas ou de apaziguar a época. Entrevista realizada apenas com Waldir Cauvila.
Objeto 4 - Elza Lobo, Reinaldo Morano Filho e Iara Prado ex-militante.
O objetivo é descobrir, as motiva-ções que levaram esses jovens a luta, o que os fazia rir e as dificuldades. Tam-bém se tem a intenção de observar se as charges faziam parte do universo das guerrilhas armadas, se elas eram utiliza-das como ferramentas pelas organizações clandestinas contra o regime e se servi-ram de incentivo para essas pessoas que viam na luta armada a única maneira de tirar o país da ditadura. Entrevista realizada apenas com Iara Prado.
Objeto 5 – Carolina Guaycuru, curadora da exposição “Ocupação Angeli” e Ivan Freitas da Costa, curador do FIQ (Festi-val Internacional de Quadrinhos).
Por se tratar de especialista em quadrinhos o objetivo aqui é analisar al-gumas charges e discutir a forma em fa-vorecimento do humor. Como a imagem, o traço e todos os elementos gráficos que compõem uma charge trabalham a favor da mensagem humorística? Entrevistas não realizada.
Objeto 6 – Elias Saliba, doutor em His-tória da cultural do humor brasileiro e Jucenir Rocha, professor de História do Brasil.
Objetivo com essa entrevista é en-tender a situação histórica da ditadura, suas motivações, repercussão nacional, efeitos do regime sobre a população e so-bre a cultura, o que levou algumas partes da sociedade a lutarem contra o regime e a função das charges nesse contexto. Também será analisado o que é o humor e o riso, o que motiva o riso, quais são os elos entre política e riso, qual o papel da piada dentro do cenário político e qual a função social do riso.
Entrevistas realizadas.
106
3.1.6. Questões em pauta
Para cada “tipo” de entrevistado foi criado uma base de perguntas para serem feitas. Durante as entrevistas algumas delas sofreram alterações por causa do rumo que as conversas tomaram.
Objeto 1 – Historiadores/Sociólogos
• O que a ditadura representou para a sociedade?
• O que a censura representou para cultura?
• Como a sociedade se apoiou nas expressões artísticas e culturais para enfrentar os dias na ditadura?
• Qual, você acha, que foi o principal papel do jornalismo nesse contexto?
3.1.5. Carta de apresentação Foi criada uma carta padrão de apresentação para que um primeiro con-tato com os possíveis entrevistados fos-se realizado. Cada contato recebeu uma variante desta carta de acordo com seu perfil:
“Olá Fulano, meu nome é Rodrigo Seixas, tomei a liberdade de pegar o seu contato... Gostaria de marcar uma entrevis-ta com o senhor para a realização do do-cumentário que estou dirigindo, “Brasil: ame-o ou ria dele”. Darei um breve relato do argu-mento do vídeo para que tome ciência da temática. O principal enfoque da produ-ção recai sobre a criação e produção de charges na época da ditadura militar no Brasil. Além de dar um panorama sobre as produções da época, apontando as principais motivações criativas e políti-cas, gostaria de investigar o impacto da
veiculação desses trabalhos junto à socie-dade. O seu trabalho, assim como a sua história, já fazem parte da pesquisa e se-ria uma grande honra poder contar com seu depoimento e pontos de vista. Vale ressaltar que todo documen-tário é fruto de uma pesquisa acadêmica de finalização de curso de graduação no Centro Universitário SENAC – São Pau-lo. No entanto, gostaria de enfatizar que mais do que um projeto de conclusão de curso, esse documentário é para mim e todos os envolvidos, um projeto profissio-nal e, porque não, de vida. Fico no aguardo do seu posiciona-mento. Se precisar de outros detalhes, fi-que a vontade que terei o maior prazer em contar-lhe um pouco mais sobre tudo o que foi pesquisado. Com apreço e admiração, Rodrigo
Seixas”.
107
• Pensando na censura, quais foram os caminhos que o jornalismo utilizou para driblar a censura? Você acha que algum jornal tentou agir dessa forma?
• Especificamente, de qual ou quais, jornais ou folhetins você se lembra que teve/ tiveram papel importante nesse contexto?
• Como entende o papel das charges nesse processo de representação da ditadura para a sociedade?
• O humor é eficiente para criticar sistemas políticos que oprimem a população?
• Você acredita que o humor através das charges foi uma forma de fomentar a luta contra a ditadura ou serviu, principalmente, como válvula de escape para amenizar os efeitos dessa política opressora?
Objeto 2 – Ex-militantes
• O que a ditadura representou para a sociedade?
• O que a censura representou para cultura?
• O que te levou a lutar?
• Quanto tempo você participou da VAL-PALMARES?
• Alguma vez você sentiu que estava ganhando a luta?
• Qual foi o seu pior momento naqueles anos?
• O que te fazia rir nesses tempos?
• Alguma charge?
• O que era a charge?
• Como entende o papel das charges nesse processo de representação da ditadura para a sociedade?
• O humor é eficiente para criticar sistemas políticos que oprimem a população?
• Qual a função social da charge na época da ditadura?
108
•Você acredita que o humor através das charges foi uma forma de fomentar a luta con-tra a ditadura ou serviu como válvula de escape para amenizar os efeitos dessa política opressora?
Objeto 3 – Historiadores/Humor
•O que é o riso?
•Qual a diferença entre humor e o riso?
•Para ser humor tem que fazer rir?
•O que motiva o riso?
•Qual é o elo entre riso e política? O que os separa e o que os aproxima?
•Qual o papel da piada, especialmente a política?
•As charges têm um caráter humorístico e um caráter questionador. Qual o peso?
• Qual a função social do riso/humor?
Objeto 3 – Chargistas
• O que motiva o chargista?
• O que é humor político?
• Todo humor é político?
• Qual a função do humor?
• Toda charge política tem que ser humorada?
• Qual o objetivo social da charge política?
• Durante o período da ditadura, as charges tinham uma função motivadora nos leito-res para incitar a luta ou eram ferramentas usadas para amenizar essa época difícil?
109
3.2. Produção
3.2.1. Momentos
Entrevista com Elias Saliba
Entrevista com Waldir Cauvila
Entrevista com Jucenir Rocha
Entrevista com Iara Prado
111
4. CONCLUSÃO
Após o processo de pesquisa e análise das charges, em conjunto com as entrevistas concedidas, foi percebido al-guns pontos que contribuem para a eluci-dação do problema proposto dentro deste trabalho. Primeiramente é impossível di-zer se todas as charges tinham o mesmo objetivo social para o leitor, seja esse ob-jetivo o de incitar a luta ou de apaziguar o momento. Com a análise das cinco char-ges em conjunto com aquelas apresenta-das durante o decorrer dos capítulos foi possível observar que cada autor tem sua motivação particular. Além disso, cada charge trata de um momento diferente, de uma época diferente e um olhar dife-rente. Assim, mesmo que dois artistas fa-çam uma charge sobre o mesmo assunto na mesma data muito provavelmente elas não sairiam iguais. As charges são asserções do char-gista sobre determinado assunto, são como documentários, principalmente os políticos, em que o autor tenta mostrar ao mundo sua visão de mundo. Mais do que isso, a charge dá voz para aqueles que não conseguem falar e atingir as multi-dões e transforma o ponto de vista de um em opinião de muitos. Claro que elas pro-vocam sentimentos diferentes em cada pessoa, mas também já nascem com uma predisposição a infligir raiva, indignação ou felicidade. Dentro desses sentimen-tos quando uma charge é compreendida, normalmente é o riso que fala mais alto, é o reflexo mais comum. Isso porque o hu-mor é a ferramenta mais utilizada dentro
das charges, pois os motivos que levam a pessoa ao riso são também os mais lem-brados, como diria o professor Elias Sali-ba, doutor em História cultural do humor brasileiro, em entrevista concedida no dia 14 de outubro de 2013: “a memória humana guarda mais no inconsciente as coisas alegres do que as que nos de-prime”. Assim, normalmente, as charges que fazem rir “grudam” com mais força no inconsciente. Mesmo assim, seja qual for o sentimento “imposto” pelo autor no mo-mento de criação de uma charge, todas elas têm um fator em comum, a reflexão.
Ainda durante os estudos, foi no-tada a semelhança entre as charges e os documentários políticos e também com os anúncios publicitário impressos. Essa se-melhança se baseia na singularidade que ambos tem para que através de uma ima-gem todo um conceito seja criado. Tan-to as charges quanto os (bons) anúncios têm que sintetizar vários elementos, codi-ficando-os de forma complexa e eficiente para que essa mistura não se transforme em uma salada, mas seja simples para o leitor que terá que decodificá-la.
Porém, foi notado que mais impor-tante do que as hipóteses do problema le-vantado ou sua semelhança com a propa-ganda impressa, a charge, é na verdade um grande documento histórico sobre de-terminada sociedade. Sua real relevância para o leitor está no futuro que se pode observar vários aspectos de um determi-nado acontecimento através das análises
112
dos chargistas da época. As charges são resumos da história, cheios de referência sobre determinado assunto que utilizam signos e símbolos do cotidiano para agre-gar conceitos, ideias, pensamentos e opi-niões e assim recriar a vida que foi vivida.
114
5. BIBLIOGRAFIA ALMEIDA, Cândida. Som, imagem, verbo e sugestão: processos interpretativos em poéticas audiovisuais. Curitiba: CRV, 2012.
ALVES, Márcio Moreira. Comenta declaração do Presidente da República. Refere-se ao conceito histórico das Forças Armadas perante o povo brasileiro. Disponível em: <http://www.camara.leg.br/http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&txPagina=6833&Datain=04/10/1968>. Acesso: 8 jul. 2013.
ANSELMO, Zilda Augustas. História em quadrinhos. Petrópolis, Vozes. 1975.
ARAGUAYA – A conspiração do silêncio. Dir.: Ronaldo Duque. Brasil, 2004. 1 DVD (105 min), son., color.
ARNS, Paulo Evaristo (org). Brasil: Nunca mais. Petrópolis: Vozes, 1985.
AUGUSTO, Sergio e JAGUAR, Sergio (org). O pasquim – antologia (1969-1971), V.1. São Paulo: Desiderata, 2010.
____________________________________. O pasquim – antologia (1972-1973), V.2. São Paulo: Desiderata, 2010.
____________________________________. O pasquim – antologia (1973-1974), V.3. São Paulo: Desiderata, 2011.
AUGUSTO, Sergio et al. (org). O pasquim – Edição Comemorativa de 40 anos. São Paulo: Desiderata, 2009.
BATISMO de sangue. Dir.: Helvecio Ratton. Brasil: Quimera Produções, 2006. 1 DVD (110 min), son., color.
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
BUCCI, Eugênio; AFFINI, Marcelo. O incrível sequestro de Charles Elbrick. Super Interessante. São Paulo, ed.84, nov. 1994. Disponível em: http://super.abril.com.br/superarquivo/1994/conteudo_114292.shtml#top. Acesso em: 09 jul. 2013.
115
CABRA marcado para morrer. Dir.: Eduardo Coutinho. Brasil: Eduardo Coutinho Produções Cinematográficas, 1985. 1 DVD (119 min), son,. color.
CAPARAÓ. Dir.: Flavio Frederico. Brasil: Kinoscópia Cinematográfica, 2007. 1 DVD (77 min), son., color.
CARVALHO, Ananda. DOCUMENTÁRIO-ENSAIO: A PRODUÇÃO DE UM DISCURSO AUDIOVISUAL EM DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008.
CIRNE, Moacy. A linguagem dos quadrinhos. O universo estrutural de Ziraldo e Maurício de Sousa. Petrópolis, Vozes. 1971.
____________. História e crítica dos quadrinhos brasileiros. Rio de Janeiro: Europa, 1990.
D’Araujo, Maria Celina et al. Os anos de chumbo – A Memória Militar sobre A Repressão. São Paulo: Relume-Dumará – R. Janeiro, 1994.
DA SILVA , Marcos Rafael. AS DESVENTURAS DE OS ZERÓIS: CARTUNS E CHARGES DE ZIRALDO, ENTRE INTENÇÃO E CONDIÇÃO (1967-1972). 2011 164 f. Dissertação (Mestrado) - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, Universidade de São Paulo, 2011.
DITADURA – tempo de resistência. Dir.: Andre Ristum. Brasil, 2005. 1 DVD (115 min.) son., color.
EDIFÍCIO máster. Dir.: Eduardo Coutinho. Brasil: Vídeo Filmes, 2002. 1 DVD (110 min), son., color.
FLORES, Onici. A leitura da charge. Canoas: ULBRA, 2002.
FRANSCISCO, Luciano Vieira. ZIRALDO: ANÁLISE DE SUA PRODUÇÃO GRÁFICA N’O PASQUIM E NO JORNAL DO BRASIL (1969-1977). 2010. 152 f. Dissertação (Mestrado) - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, Universidade de São Paulo, 2010.
GUIMARÃES, César; GUIMARÃES, Victor. Da política no documentário às políticas do documentário: notas para uma perspectiva de análise. Galáxia, São Paulo, n. 22, p. 77-88, dez. 2011.
HENFIL, Henrique de Souza Filho. A volta da graúna. São Paulo, Geração Editorial: 1993.
116
HÉRCULES 56. Dir.: Silvio Da-Rin. Brasil: Antonioli & Amado Produções, 2006. 1 DVD (93 min), son., color.
JAKOBSON, Roman. Lingüística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2007.
KURTZ, Adriana Schryver. As charges de Zero Hora sob a ótica da Indústria Cultural e do Mundo – e Jornalismo Administrado. In: Congresso Brasileiro de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XXXV., 2012, Fortaleza.
KUSHNIR, Beatriz. CÃES DE GUARDA: JORNALISTAS E CENSORES, DO AI-5 À CONSTITUIÇÃO DE 1988. 2001. 429 f. Dissertação (Doutorado) – INSTITUTO DE HISTORIA E CIENCIAS HUMANAS, Universidade Estadual de Campinas, 2001.
LAMARCA. Dir.: Sergio Rezende. Brasil: Morena Films, 1994. 1 DVD (130 min), son., color.
LATUFF, Carlo. Acervo digital. Disponível em: <http://latuffcartoons.wordpress.com/>. Acesso em 23 ago. 2013
LEI No 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979. In: WEB SITE DO PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm. Acesso em: 15 jul 2013.LEMOS, Renato (org). Uma historia do Brasil através da caricatura. São Paulo: Bom texto, 2013.
LEMOS, Renato (org). Uma historia do Brasil através da caricatura. São Paulo: Bom texto, 2013.
MACHADO, Arlindo. Os anos de chumbo: mídia, poética e ideologia no período de resistência ai autoritarismo militar (1968-1985). Porto Alegra: Sulina, 2006.
_______________ . Pré-cinemas & pós-cinemas, 6ª Ed. Campinas: Papirus, 2011.
MALDITOS cartunistas, São Paulo, 2012. Disponível em: <http://canalbrasil.globo.com/programas/malditos-cartunistas/index.html>. Acesso em: 05 ago. 2013
Maringoni, Gilberto. Humor da charge política no jornal. Comunicação e Educação, São Paulo, n.7: p.85-91, set-dez. 1996. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36269>. Acesso em: 9 out. 2013.
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990.
117
MARTINS, Rocardo Constante. DITADURA MILITAR E PROPAGANDA: A REVISTA MANCHETE DURANTE O GOVERNO MÉDICI. 1999. 200 f. Dissertação (mestrado) – CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS, Universidade Federal de São Carlos, 1999.
MASCARELLO, Fernando (org). Historia do cinema mundial. Campinas: Papirus, 2006.
MOYA, Alvaro de. História da história em quadrinhos. Porto Alegre: L&PM, 1986.
NICHILS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas: Papirus, 2005.
NERY, João Elias. Graúna e Rê Bordosa. O Humor Gráfico brasileiro da 1970 e 1980. São Paulo: Terras do Sonhar, 2006.
ÔNIBUS 174. Dir.: José Padilha. Rio de Janeiro: Zazem Produções, 2002. 1 DVD (150 min), son., color.
O ANO em que meus pais saíram de férias. Dir.: Cão Hamburger. Brasil: Gulane Filmes, 2006. 1 DVD (110 min), son,. color.
O VELHO - A História de L. Carlos Prestes. Dir.: Toni Venturi. Brasil: Olhar Imaginário, 1997. 1 DVD (105 min), son., color.
PERREIRA, Thaís Pacheco. O PIF-PAF E A CENSURA: A PRECARIEDADE DE CRIAÇÃO NA DITADURA MILITAR. 2008. Dissertação (mestrado) - ARTES VISUAIS, ESCOLA DE BELAS ARTES, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008.
PINTO, Ziraldo Alves ET al. Brasil 85 – Charges. 3ª Ed. São Paulo: Três, 1985.
_________________. Ziraldo no pasquim – só dói quando eu rio. Rio de Janeiro: Globo, 2010.
_________________. Ziraldo. Os Zerois; Ilustração do autor. São Paulo: Editora Globo, 2012.
QUE BOM te ver viva. Dir.: Lúcia Murat. Brasil, 1989. 1 DVD, son., color.
QUEBRANDO o tabu. Dir.: Fernando Grostein Andrade. Brasil: Spray Filmes, 2011. 1 DVD (56 min), son., color.
118
PRADO, Larissa Brisola Brito. ESTADO DEMOCRATICO E POLÍTICAS DE REPARAÇÃO NO BRASIL: TORTURAS, DESAPARECIMENTOS E MORTES NO REGIME MILITAR. 2004. 209 f. Dissertação (mestrado) – INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS, Universidade Estadual de Campinas, 2004.
REVISTA PIAUÍ. Rio de Janeiro, n.85, 2013
ROCHA, Jucenir. Brasil em três tempos: 1500 a 2000: a história é essa? São Paulo: FTD, 2000.
RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: Senac, 2008.
RIBEIRO, Maria Cláudia Badan, MEMORIA, HISTORIA E SOCIEDADE: A CONTRIBUIÇÃO DA NARRATIVA DE CARLOS EUGENIO PAZ. 2005. 295 f. Dissertação (mestrado) – INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS, Universidade Estadual de Campinas, 2005.
Salão do Humor de Piracicaba, acervo. Disponível em: <https://www.facebook.com/salaodehumor.piracicaba>. Acesso em 10 out. 2013.
SANTAEIRO, Ana Maria e LEITE, Ricardo. Ziraldo em cartaz. São Paulo: Senac, 2011.
SEM frescura (Paulo Cesar Peréio, Jonas Bloch e a Ditadura). São Paulo, 2009. Disponível em: <http://canalbrasil.globo.com/programas/sem-frescura/videos/990040.html>. Acesso em: 18 jun. 2013.
SOUZA, Tárik de. Como se faz Humor Político: Henfil. Petrópolis: Vozes; 1984.
STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus, 2000.
TARDE, Folha da. DOPS leva a justiça os matadores de Chandler, Folha da Tarde, São Paulo, 28 nov. 1969. Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_28nov1969.htm. Acesso em: 5 jul. 2013.
TAVARES, Flávio. Memórias do esquecimento: Os segredos dos porões da ditadura. Porto Alegre: L&PM, 2012.
TOMAIM, Cássio dos Santos. ENTRICHEIRADOS NO TEMPO: A FEB E OS EX-COMBATENTES NO CINEMA DOCUMENTÁRIO. 2008. 307 f. Dissertação (Doutorado) – FACULDADE DE HISTÓRIA, DIREITO E SERVIÇO SOCIAL, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2008.




































































































































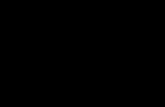





![Ame Enqua..[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5494464ab47959925a8b45a9/ame-enqua1-59262c5660f96.jpg)