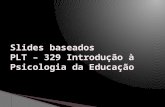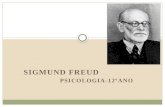BRUNO ESPÓSITO - PUC-SP Esposito.pdf · possivelmente, no caso Schreber, em que Freud lê as...
Transcript of BRUNO ESPÓSITO - PUC-SP Esposito.pdf · possivelmente, no caso Schreber, em que Freud lê as...
BRUNO ESPÓSITO
A PSICANÁLISE NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ENTRE A CLÍNICA DA SINGULARIDADE E O TRABALHO
MULTIDISCIPLINAR
Pontifícia Universidade Católica São Paulo
2008
BRUNO ESPÓSITO
A PSICANÁLISE NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ENTRE A CLÍNICA DA SINGULARIDADE E O TRABALHO
MULTIDISCIPLINAR
Trabalho de conclusão de curso como exigência parcial para graduação no curso de Psicologia, sob
orientação da Profª. Maria Claudia Tedeschi Vieira
Pontifícia Universidade Católica São Paulo
2008
AGRADECIMENTOS ● À minha família, por suportar as oscilações de humor que qualquer trabalho
acadêmico provoca no pesquisador, e em especial à Silvia Leonor Alonso, pela leitura
atenta do trabalho;
● À colônia argentina radicada em São Paulo, muitos deles psicanalistas, representando
minha família estendida;
● À Regina Célia Chu Cavalcanti (CHÚ) e aos colegas que me acompanharam na
monitoria, com os quais aprendi muito sobre esse universo que é a psicanálise;
● À Helena, Renato e Tomás, pela recente mas já feliz parceria no Acompanhamento
Terapêutico, e ao nosso ótimo supervisor, Maurício Porto;
● Às professoras do Núcleo de Crise, por me transmitirem ensinamentos de uma clínica
das e nas instituições: Felicia, Cris, Bel, Kátia e Ida;
● Ao pessoal do Núcleo de Psicose, parceiros de árduas batalhas;
● À Camila Pedral Sampaio, por ter me ensinado pacientemente como se pesquisa em
psicanálise;
● A todos os amigos da faculdade com quem compartilhei importantes momentos da
minha formação;
● À Maria Claudia Tedeschi Vieira, pela orientação paciente e atenciosa deste trabalho;
● À Elisa Zaneratto Rosa, que apostou na validade de minhas idéias no início do
trabalho, enquanto elas ainda eram esparsas e confusas;
● Ao Bloco.
Bruno Espósito: A psicanálise nos Centros de Atenção Psicossocial, entre a clínica da singularidade e o trabalho multidisciplinar, 2008 Orientador: Profª. Maria Claudia Tedeschi Vieira Palavras-chave: Centros de Atenção Psicossocial; Psicanálise; Reforma Psiquiátrica. Área de conhecimento: 7.07.09.01-7 - Análise Institucional
RESUMO Esta pesquisa teve como principal objetivo a investigação do trabalho psicanalítico no
cotidiano de diferentes Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em São Paulo, na visão de
diferentes analistas. Buscou-se compreender como a psicanálise é utilizada como ferramenta,
como se articula com os outros saberes e quais as vicissitudes do trabalho analítico nesse âmbito
institucional.
Parte-se da constatação de que existem múltiplas entradas da psicanálise no âmbito da
saúde mental, nem sempre convergentes, e de que não há consenso sobre seu lugar nos serviços
substitutivos criados no âmbito da reforma psiquiátrica – tal como o CAPS. Dessa maneira,
abre-se a possibilidade de pesquisar quais são as marcas da psicanálise que podem ou não
contribuir nessa clínica, e quais são as características do ofício analítico no dia-a-dia dessas
instituições.
A primeira etapa da pesquisa retoma a história da reforma, no contraponto às
instituições psiquiátricas tradicionais, e em seguida discute-se as concepções de clínica nos
modelos psiquiátrico, psicanalítico e da atenção psicossocial. Mais adiante, nos aproximamos
do cotidiano dos serviços através de entrevistas semi-dirigidas à três psicanalistas com inserções
distintas no CAPS: uma delas concursada como psicóloga e supervisora, outra diretora de uma
unidade e uma terceira na função de supervisora clínico-institucional.
Discute-se que a psicanálise pode prestar-se tanto à intervenção junto aos pacientes,
como à própria análise da equipe e instituição, pois não é o setting que delimita sua utilização,
mas sim uma construção singular das intervenções precedida de uma postura de escuta – em que
o analista despoja-se do seu saber para poder escutar.
Conclui-se que a psicanálise é um dos saberes que contribuem e podem contribuir ao
cotidiano dos CAPS, desde que os analistas consigam articular a especificidade de seu ofício
com os outros saberes em jogo, como a própria psiquiatria, a terapia ocupacional, a assistência
social, etc. A partir da fala das entrevistadas, destaca-se a formação dos profissionais como um
dispositivo importante para assegurar a permanente tensão entre o saber particular e o coletivo.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 1
I. O ENCONTRO COM A LOUCURA COMO CONTEXTO 1 II. PRIMEIRAS CONCEITUAÇÕES NECESSÁRIAS 2 III. A PSICANÁLISE NA HISTÓRIA DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 3
METODOLOGIA 7
CAPÍTULO 1 – DA CONSTITUIÇÃO DA PSIQUIATRIA AO PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA 9
I. DA “GRANDE INTERNAÇÃO” À PSIQUIATRIA COMO “SOLUÇÃO” 9 II. A PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL FRANCESA 13 III. A ANTIPSIQUIATRIA INGLESA 15 IV. A PSIQUIATRIA DEMOCRÁTICA ITALIANA 16 V. A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA 18
CAPÍTULO II - A CLÍNICA NOS DIFERENTES MODELOS 22
I. A ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA TRADICIONAL: DO TRATAMENTO MORAL AO SINTOMATOLÓGICO 22 II. O MODELO PSICANALÍTICO 30 III. A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 42
DISCUSSÃO 50
I. COM A PALAVRA: AS ENTREVISTADAS 50 II. ARTICULANDO AS FALAS E RETOMANDO O PROBLEMA DE PESQUISA 60
CONCLUSÃO 72
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 75
ANEXOS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO I
1
INTRODUÇÃO
I. O encontro com a loucura como contexto
A formação em Psicologia nos coloca frente ao enigma da loucura em dado
momento, e não só através de abstrações a seu respeito – científicas, literárias,
filosóficas –, mas principalmente pelo encontro real com sujeitos em condições de
extremo sofrimento, condições que nos impactam tremendamente.
Certamente, o tamanho desse impacto não é imune à própria relação que nossa
cultura secularmente estabelece com a loucura, da qual nos separamos radicalmente, a
evitamos e não nos reconhecemos minimamente nela. Além disso, os próprios lugares
que lhe designamos nessa separação – destacando-se os hospitais psiquiátricos – a
associam aos limites da condição humana, como a violência, a sujeira e a ausência de
qualquer projeto de vida.
Não obstante, outros modelos de assistência psiquiátrica vem surgindo nas
últimas décadas, pautados sobretudo no paradigma da reforma psiquiátrica e na
militância da luta antimanicomial. Se, por um lado, as novas formas de pensar o
tratamento e os novos serviços constituídos esbarram em milhares de dificuldades –
algo compreensível, já que propõem modificar uma lógica secular –, por outro existem
incontáveis experiências de êxito, em que é possível diminuir os índices de sofrimento,
apagar o hiato entre a loucura e “normalidade” e almejar novos destinos para aqueles
que sofrem intensamente.
Muitos de nós compartilhamos dessa visão e vamos construindo nossa atuação,
como profissionais da saúde mental, nesse novo paradigma. Aliás, parte desta pesquisa
abordará necessariamente o debate em torno desses diferentes modelos de atenção, do
modelo psiquiátrico tradicional à reforma psiquiátrica. Mas vejamos isto como pano de
fundo, como um contexto mais amplo que sustenta uma questão mais específica sobre a
qual nos debruçaremos.
A questão que advém, e que me toca em particular, diz respeito ao lugar da
psicanálise na reforma psiquiátrica e no cotidiano dos serviços constituídos. Um olhar
bem panorâmico já nos permite imaginar que, devido ao tempo de sua existência, à sua
enormidade de adeptos e suas várias frentes de atuação, a psicanálise já investiu esse
campo da saúde mental.
2
Da mesma maneira, a psicanálise – como um dos saberes sobre a saúde mental –
certamente foi e será convocada por outros saberes à participar desse debate em torno
dos diferentes modelos de assistência, bem como da construção de novos, e a partir daí
poderá se estabelecer tanto um diálogo em tom amistoso e de ajuda mútua como em tom
ríspido e de discórdia.
Ao entrar em contato com a literatura referente ao tema, percebi como esse
campo de relações entre psicanálise e reforma psiquiátrica é, ao mesmo tempo, rico,
polêmico e desafiador. Existem inúmeras possibilidades de abordá-lo, diferentes
posições políticas e complexos debates, tanto no âmbito teórico-epistemológico, como
no cotidiano e nas práticas dos trabalhadores da saúde mental.
II. Primeiras conceituações necessárias
Como entendemos a reforma psiquiátrica, a psicanálise e o campo de encontro
entre ambos?
De maneira bastante sucinta, podemos dizer que a reforma psiquiátrica
caracteriza-se por um processo contínuo de questionamento e transformação do modelo
asilar de tutela e tratamento do louco, empreendido pelo modelo psiquiátrico tradicional
(Amarante, 2003). Esse processo envolveria não só a destituição do manicômio e seus
derivados, construindo locais de atendimentos mais humanizados em seu lugar, mas
também uma crítica rigorosa aos fundamentos técnicos, epistemológicos, políticos,
jurídicos e etc., que sustentam a lógica de exclusão da loucura e seu estatuto de “doença
mental”.
Como aponta Tenório (2001), “a reforma psiquiátrica é a tentativa de dar à
loucura uma outra resposta social” (p. 20), radicalmente diferente da proposta
psiquiátrica hegemônica desde fins do século XVIII, marcada pela exclusão, pelo
estigma e por sua visão negativa em relação ao louco.
Para empreender essa tarefa, a reforma psiquiátrica busca trabalhar em diversas
frentes e através de diversos saberes. Procura-se transformar as leis, os paradigmas
científicos, a organização dos serviços, as práticas clínicas, etc., para que seja possível
estabelecer uma nova relação com a loucura e designá-la um novo lugar social.
A psicanálise, também grosso modo, é uma teoria sobre o funcionamento
psíquico, com uma técnica específica pautada pela transferência, e um método de
3
tratamento e cura (inicialmente proposto para as neuroses, depois incluindo a psicose).
Por sua proposta, a psicanálise construiu um saber sobre a loucura.
O marco inicial das proposições psicanalíticas acerca da psicose está,
possivelmente, no caso Schreber, em que Freud lê as memórias do jurista Daniel
Schreber à luz da psicanálise (Freud, 1911/1993). Joel Birman aponta que é nesse
momento da obra freudiana que se estabelece uma diferença radical entre a proposta e a
clínica psicanalítica da psiquiátrica, pois o delírio, expressão maior da loucura, passa a
ser entendido na sua positividade, ou seja: como uma tentativa de cura (Birman, 2007,
p. 16), em contraposição à negatividade do sintoma atribuída pela psiquiatria.
Ainda assim, foi somente através dos sucessores de Freud que a psicose passou a
ser tratada clinicamente pela psicanálise. Nesse sentido ressalta-se o trabalho de
analistas como Ferenczi, Klein, Winnicott e Lacan (Birman, 2007). A partir desse
momento, abria-se terreno para os analistas entrarem e atuarem nas instituições,
imprimindo a marca que lhes é específica. Nesse sentido, desde as primeiras
experiências ditas antipsiquiátricas até a estruturação da reforma como movimento,
constrói-se uma inevitável história de diálogos com a psicanálise – seja ele amistoso ou
não, como dissemos.
III. A psicanálise na história da reforma psiquiátrica
Podemos observar que, desde as primeiras experiências questionadoras em
psiquiatria, o diálogo com a psicanálise já estava dado. Já durante a segunda guerra
mundial, François Tosquelles, psiquiatra catalão e precursor da psicoterapia
institucional francesa1, chegou ao hospital de Saint-Alban com a tese de doutorado de
Jacques Lacan debaixo de seus braços (Moura, 2003), e já demonstrava grande
afinidade com a produção psicanalítica sobre as psicoses.
Seus sucessores Jean Oury e Félix Guattari, protagonistas da experiência de La
Borde, tinham formação psicanalítica e se utilizavam desse referencial para trabalhar o
cotidiano institucional. No entanto, não se tratava de uma aplicação pura da psicanálise
à instituição, e sim um trabalho sobre os conceitos assumindo suas especificidades no
contexto grupal e institucional. Ambos têm artigos intitulados “A transferência”
(Guattari, 2004; Oury, 1988/1989). Tanto um quanto o outro propõem novas direções
1 As principais experiências no campo da reforma psiquiátrica serão descritas com maior ênfase no capítulo 1.
4
para o conceito: Guattari, em seu texto, busca trabalhar a transferência como fenômeno
grupal; Oury contrapõe a transferência entendida como dual à transferência dissociada,
reconhecendo que o psicótico constitui vínculos esparsos com pessoas, objeto,
instituição (Oury, 1988/1989).
Além da psicoterapia institucional francesa, outros movimentos de reforma
levados a cabo tinham clara inspiração psicanalítica, ainda que não fizessem referência
tão direta quanto o processo francês. Podemos citar, por exemplo, as comunidades
terapêuticas britânicas e a psiquiatria preventiva e comunitária norte-americana
(Birman, 2001).
Por outro lado, a experiência italiana levada a cabo a partir dos anos 60/70 não
possuía qualquer referencial psicanalítico; ainda assim, os italianos não se esquivavam
do debate com os analistas. A psicanálise é comumente entendida pelo movimento
como uma psicoterapia de cunho individual e que reproduz a lógica excludente da
psiquiatria (Rotelli, 1987). Os psicanalistas, por sua vez, habitualmente justificam essas
críticas pelo fato de a psicanálise na Itália, assim como em outros lugares, ter
caminhado no sentido de uma psiquiatrização, distante do projeto freudiano inicial
(Roudinesco, 1992). A despeito dessa polêmica específica, a desinstitucionalização
italiana é referência fundamental para a reforma psiquiátrica hoje, sendo suas
contribuições absolutamente indispensáveis ao campo.
Também no âmbito teórico, o debate não oferece uma resolução fácil, muito
pelo contrário. Se entendermos que o livro História da loucura na idade clássica
(Foucault, 1972/2007) representa a crítica mais coerente e sistemática sobre a
constituição do saber psiquiátrico e a construção dos espaços asilares, não conseguimos
obter do autor a mesma sistematização no que diz respeito à psicanálise. O autor faz a
ela poucas menções e, quando faz, entende-a como uma abertura à loucura em
determinados momentos, e como um novo encerre em outros. O filósofo e psicanalista
Jacques Derrida aponta que Freud e a psicanálise seriam, para Foucault, como uma
espécie de dobradiça em relação ao saber sobre a loucura: poderiam abrir/fechar,
dominar/liberar e excluir/incluir (Derrida, 1992).
Por sua vez, se lançarmos olhar para a construção da reforma psiquiátrica no
Brasil, tampouco teremos vida fácil. Como era de se esperar, nosso país recebeu
influências múltiplas dos movimentos que se efetuaram, em especial da Europa. Com
essas influências, construímos nossa reforma, sem designar à psicanálise um lugar
unívoco. A experiência de desinstitucionalização em Santos, por exemplo, tem acento
5
marcado na tradição italiana, sendo a psicanálise uma teoria com a qual se tomava
cuidado (ainda que alguns psicanalistas tenham participado da intervenção). Por outro
lado, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial do país (CAPS Luiz da Rocha
Cerqueira) era coordenado pelo psicanalista Jairo Goldberg e funcionava sob extrema
influência do referencial psicanalítico e da psicoterapia institucional.
Como vimos nesse panorama, não há consenso sobre o lugar do analista na
reforma psiquiátrica e nos serviços que dela derivam. Não há um lugar dado; a história é
marcada por encontros e desencontros, afinidades e diferenças. As influências
provenientes da França, de maneira geral, valorizam a presença da psicanálise no
trabalho institucional; pode-se dizer, até, que é a partir da psicanálise que se efetuam
importantes reflexões e transformações das instituições asilares. Já a tradição italiana
tende a buscar meios diferentes de “reformar” a saúde mental e que não se pautam pela
psicanálise.
Afirmamos também que nosso país construiu sua reforma desde as variadas
tradições, produzindo pensamentos mas também modelos de serviços bastante variados
entre si. A discussão sobre a clínica na reforma psiquiátrica abrange uma variedade
enorme de posições, desde o não lugar da clínica (Saraceno, 2001), até a necessidade
imprescindível de uma clínica reformada (Amarante, 2003).2
Dado esse estado de coisas, ou seja, de uma reforma psiquiátrica que não
atribuiu um lugar definido à psicanálise ao longo da história, como se dará o debate na
atualidade? Pois, se não há um lugar definido aos analistas, não podemos escapar à
constatação de que os serviços substitutivos estão repletos de profissionais com
formação psicanalítica. Como será que esses analistas inseridos no cotidiano dos
serviços pensam a sua prática?
Tomando os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como um dos principais
serviços propostos pelo modelo da reforma psiquiátrica (Amarante, 2007), e a cidade de
São Paulo enquanto um espaço presentificador desse debate, trataremos nessa pesquisa
de investigar como alguns dos psicanalistas desses serviços justificam a presença da
psicanálise, como ela contribui para sua atuação (se é que contribui) e de que maneira
isso se dá no trabalho do dia-a-dia.
Pretendemos ouvir alguns dos analistas através de entrevistas, tendo como eixo
as questões suscitadas acima. Dado o fato que esses profissionais exercem diferentes
2 Dado a sua importância, se efetuará uma discussão acerca das diferentes posições sobre a clínica no capítulo 2.
6
funções (alguns são terapeutas contratados, outros são coordenadores dos serviços,
outros são chamados como analistas institucionais, etc.), buscaremos abarcar esses
diferentes olhares.
Em suma, queremos aproximar nosso olhar ao cotidiano dos serviços e ao
momento da atualidade, onde o debate sobre o lugar da psicanálise na reforma
psiquiátrica não cessa de se colocar. A fala desses psicanalistas pode eventualmente nos
dar pistas sobre esse lugar, visto que a história de construção da reforma no Brasil e no
mundo não assegura um caminho determinado.
7
METODOLOGIA
O primeiro capítulo desta pesquisa ocupa-se de uma revisão histórica da reforma
psiquiátrica, no seu diálogo com o modelo tradicional de assistência. Retomaremos
brevemente o contexto e o sentido das experiências mais importantes de questionamento
da ordem psiquiátrica e a implementação de novos modelos de cuidado, desde a
psicoterapia institucional francesa à psiquiatria democrática italiana.
Lançaremos um olhar específico ao processo brasileiro, entendendo que os
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) – que enfocaremos nesta pesquisa – emergem
em função de um contexto que deve ser localizado.
No segundo capítulo, daremos uma mirada especial ao debate acerca da clínica,
por representar o ponto de maior debate entre a psicanálise e a reforma psiquiátrica.
Veremos brevemente como é a clínica na alvorada da psiquiatria, o modelo
sintomatológico que o sucede, a clínica psicanalítica e, por fim, a proposta de clínica na
reforma psiquiátrica.
Munidos dessa discussão teórica, estaremos aptos a entrevistar os psicanalistas.
Como se darão esses encontros? Elegemos três profissionais que possuem,
simultaneamente, formação psicanalítica e vínculos profissionais com algum Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) em São Paulo.
Para abranger diversos aspectos envolvidos no cotidiano do trabalho em CAPS,
optamos por escolher profissionais que exerçam funções diferentes: um psicanalista que
seja contratado como psicólogo no CAPS, um psicanalista que esteja ocupando a função
de coordenador do serviço e um psicanalista que trabalhe como supervisor clínico-
institucional, convocado pela própria equipe do CAPS.
A entrevista seguirá o modelo de entrevistas semi-dirigida, ou seja: teremos
algumas questões de referência que buscaremos responder, no entanto, permitiremos ao
entrevistado que siga o seu caminho para dar a resposta, podendo levar-nos a
informações não esperadas previamente. As questões de referência serão basicamente:
● no que sua formação psicanalítica contribui (se é que contribui) para sua atuação?
● como você opera a psicanálise: na compreensão dos pacientes, na intervenção
terapêutica, no funcionamento das equipes clínicas ou da instituição, ou de alguma outra
maneira?
8
● na sua percepção, a reforma psiquiátrica e os desafios cotidianos do CAPS exigem
que a psicanálise se transforme em algum sentido? Como seriam essas transformações?
● o que significa, para você, ser psicanalista em um CAPS?
Realizaremos essas entrevistas na casa ou no consultório do entrevistado, desde
que não haja qualquer interferência significativa durante o processo. A entrevista terá
tempo previsto de quarenta e cinco minutos à uma hora e meia. Utilizaremos um
gravador para coletar o material.
A partir do produto dessas entrevistas, poderemos realizar o capítulo da
discussão, primeiro retomando as falas dos entrevistados que correspondem ao nosso
tema e, em seguida, articulando-as entre si e com o contexto teorizado nos capítulos
antecedentes. Nesse momento, caberá retomar algumas das questões das quais partimos
nesta pesquisa.
Por fim, o capítulo final discutirá resultados obtidos a partir da discussão,
levantando os aspectos em que pudemos avançar e as novas questões que podem surgir.
Conforme exigido, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da PUC-SP, no dia 30 de junho de 2008.
9
CAPÍTULO 1 – DA CONSTITUIÇÃO DA PSIQUIATRIA AO
PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA
Nosso país vive uma transformação significativa na atenção à saúde mental,
reconfigurando saberes, lógicas e equipamentos, que se iniciou no período de
redemocratização. As mudanças são intensamente influenciadas por experiências
estrangeiras, sobretudo européias, que ocorreram a partir dos anos 1950.
A transformação que presenciamos na concepção de loucura, e nos modelos de
tratamento que a ela se oferecem, caracterizam-se fundamentalmente pela ruptura com o
modelo psiquiátrico tradicional. Certos componentes históricos haviam estabelecido a
psiquiatria, do século XVIII à meados do século XX, como saber e prática de referência
em relação à loucura.
Para compreender o sentido das transformações radicais que presenciamos
recentemente no campo da saúde mental, é necessário revisitar brevemente as condições
históricas que proporcionam o surgimento da psiquiatria, e a consolidação de seu lugar
exclusivo no trato ao louco.
I. Da “Grande Internação” à Psiquiatria como “solução”
No ano de 1656, a criação do Hospital Geral de Paris representou o início do
período da Grande Internação, como o denominou o filósofo Michel Foucault
(1972/2007), fundando uma organização asilar que se consolidou em toda a Europa e
colônias. Os hospitais, a partir desse período, deixaram de ser instituições de caridade,
como o eram anteriormente – o próprio termo hospital remete à “hospedagem,
hospedaria, hospitalidade” (Amarante, 2007, p. 22) – e passaram a abrigar segmentos da
população que eram sistematicamente excluídos. Essa exclusão era decidida
fundamentalmente pelo poder real, auxiliado pelos poderes judiciário e familiar.
Essa mudança na função social ocupada pelo hospital corresponde ao advento da
economia capitalista e da vida nas cidades, que escancararam a divisão entre aquele que
trabalha e obedece à normalização do ambiente urbano, e os “desviantes”, como
marginais, criminosos, vagabundos e loucos. A ordem de como se configuraram as
cidades não permitia mais que essa parcela da população continuasse a vagar pelo
coração da produtividade, sendo necessária a utilização de um espaço asilar – o Hospital
10
de então – para abrigar e tratar os desatinados, na tentativa de devolver-lhes sua
capacidade normativa.
Se anteriormente era permitido ao artesão organizar o ritmo e a forma de seu
próprio trabalho, esta condição lhe foi expropriada quando se dirigiu às fábricas na
economia burguesa. A divisão do trabalho, com o desconhecimento sobre o todo do
processo produtivo e a adequação a um regime disciplinar no lugar da
autodisciplinarização, exigiram uma nova postura dos sujeitos. E, nesse sentido,
“aqueles que não conseguem tomar parte na produção, na circulação ou no acúmulo de
riquezas serão os desviantes. E para estes [re]criam-se em toda a Europa os
estabelecimentos de internação” (Berger, Morettin e Braga Neto, 1991, p. 19).
Simultaneamente, através de René Descartes (1596-1650), dividia-se no plano
filosófico razão e desrazão. Até então, tinham sido muitas as representações que a
loucura ocupou em relação à razão – exaltada em alguns momentos e depreciada em
outros –, mas foi somente através de Descartes que razão e desrazão se separam
radicalmente, com o cogito excluindo a dúvida e consolidando o ser da razão como o
único capaz de alcançar o verdadeiro conhecimento (Foucault, 1972/2007).
O século XVII, portanto, assistiu simultaneamente e pela primeira vez a
exclusão da loucura, seja no plano filosófico com o racionalismo, ou na organização das
cidades com o asilamento dos loucos (junto a outras classes de indivíduos que não
respondiam ao imperativo da produtividade). Nas palavras de Pelbart (1991),
no mesmo século em que se decidiu pela primeira vez na história do Ocidente europeu enclausurar de forma sistemática os desatinados, ao invés de deixá-los vagando nos campos ou à deriva dos mares e rios, como se fazia na Renascença, no mesmo século XVII um pensador francês de nome Descartes considerado hoje o fundador do moderno racionalismo, decretava a incompatibilidade entre a loucura e pensamento. Enquanto a cidade trancafiava os desarrazoados, o pensamento racional trancafiava a desrazão. (p. 135)
A partir do século XVII, portanto, conseguiu-se certo equilíbrio que permitia o
desenvolvimento da vida nas cidades, agenciado pelo poder absolutista: as autoridades
reais, com o auxílio dos poderes familiar e judiciário, exerciam poder através de
recursos como a internação de segmentos marginais da população.
Dissemos certo equilíbrio pois, ainda que a exclusão fazia-se útil a um visível
controle social, observa-se que as instâncias real, jurídica e familiar frequentemente
conflitavam e se revezavam no poder de decisão sobre o louco. Enquanto que, para os
11
criminosos, a ordem jurídica/criminológica era suficientemente decisiva e competente, o
louco bambeava em frágeis acordos entre os poderes real, judiciário e familiar. O
sociólogo Robert Castel demonstra minuciosamente como os poderes raramente
estavam afinados entre si no que se relaciona à loucura. Períodos de tensão de forças e
de prevalência de um poder sobre os outros ocorreram frequentemente nessa era da
Grande Internação (Castel, 1978).
Já no final do século XVIII e início do século XIX, este desequilíbrio não mais
se manteve e pôde ser resolvido de uma nova maneira, justamente com o advento da
psiquiatria, bem como os manicômios, lugar asilar restrito particularmente ao louco.
Inventou-se, pela primeira vez, “um dispositivo completo de ajuda com a invenção de
um novo espaço, o asilo, a criação de um primeiro corpo de médico-funcionários, a
constituição de um ‘saber especial’, etc.” (Castel, 1978, p. 21-2). O surgimento da
psiquiatria, cujas condições veremos a seguir, permitirá uma nova gestão social sobre o
louco, através de um saber e um lugar específico. No entanto, a marca da exclusão que
caracterizava não só o doente mental, mas todos os desviantes da moral burguesa, agora
lhe corresponderá quase que exclusivamente – sob a justificativa científica médica.
Para compreender o advento da psiquiatria, deve-se salientar o peso fundamental
que as revoluções industrial, americana e francesa tiveram para permitir o surgimento
dessa ciência, em especial a terceira delas. O lema “Igualdade, Liberdade e
Fraternidade”, por si só, proporcionou a libertação de diversos reclusos, cujas
internações atrelavam-se claramente ao Antigo Regime. Instituições assistenciais foram
sendo criadas para dar conta desse contingente, como orfanatos, casas de correção e
reformatórios (Amarante, 2007).
No entanto, os hospitais permaneceram como espaço de permanência para certa
parte da população, para a qual não lhe foi designada um novo lugar, em especial
enfermos e loucos (que em seguida serão entendidos também como doentes mentais).
Foi nesse contexto que o hospital se tornou efetivamente uma instituição médica, pois,
com a necessidade de transformar o caráter escancaradamente excludente do hospital,
convencionou-se humanizá-lo através da medicina.
Foi, acima de tudo, a condição de isolamento que favoreceu o desenvolvimento
do saber médico. A doença separada do corpo social permitiu ao médico identificá-la,
classificá-la, observar como se transforma em relação ao tempo, tratá-la, etc.
Inegavelmente, esse feito permitiu à ciência avanços significativos. No entanto, já
adiantaremos que a tomada da doença em si, desligada do contexto social e de vida do
12
sujeito, é um dos principais alvos de transformação propostos pela reforma psiquiátrica,
em especial a de tradição italiana. Há uma frase de Franco Basaglia, principal ator da
Psiquiatria Democrática, que sintetiza muito bem essa crítica:
o mal obscuro da psiquiatria está em ter separado um objeto fictício, a doença, da existência complexa e concreta do paciente e do corpo social; sobre esta separação artificial se construiu um conjunto de aparatos legislativos científicos, administrativos, de códigos de referência cultural, de relações de poder, todos referidos à doença (Basaglia, 1975, apud Nicácio, 1989, p.16)
Cabe agora compreendermos como se estabeleceu a especificidade da psiquiatria
em relação ao saber médico, com a construção de um espaço asilar específico, bem
como os tratamentos empreendidos.
Philippe Pinel (1745-1826) é considerado por muitos o pai da Psiquiatria. Pinel
era médico, mas, paralelamente, participou ativamente na implementação dos ideais da
Revolução Francesa. No ano de 1793, foi convocado a coordenar parte do Hospital
Geral que mencionamos anteriormente, aproximando-se do trabalho com a loucura
(Amarante, 2007).
Sua compreensão filosófica acerca da razão-desrazão diferenciava-se da
proposta cartesiana. Ao contrário da separação radical entre ambas, Pinel sugeria que,
na alienação mental - conceito que utilizava – havia sempre algo que se preservara um
locus de razão na loucura (Tenório, 2001). Essa idéia ajudou a propor um certo
tratamento para os alienados, com vistas a reestabelecer e fortalecer a parte racional que
lhes restava.
A clínica realizada a partir de Pinel, e que deixa resquícios até os dias de hoje,
pauta-se no tratamento moral. Para empreender tal tratamento, o isolamento é
novamente condição imprescindível. Isso asseguraria um certo êxito na observação,
diagnóstico e, especialmente, na disciplinariedade da instituição: a ordem e a obediência
seriam fundamentais “para que a mente desregrada pudesse novamente encontrar seus
objetivos e verdadeiras emoções e pensamentos” (Amarante, 2007, p. 31). As práticas
de tratamento moral eram por vezes criativas, mas excessivamente normativas e, em
geral, violentas. A fundamentação alienista quebrou o estigma anterior de controle
social da loucura, resolvendo a questão desde a “Grande Internação”, mas perpetuou
simultaneamente a violência e a exclusão, sustentadas pelo saber médico.
No próximo capítulo, discutiremos mais a fundo o paradigma da clínica
psiquiátrica a partir de Pinel. Nesse momento, vale ressaltar que o “gesto pineliano”,
13
que desacorrentou os loucos e ofereceu-lhes um certo tratamento, era essencialmente
paradoxal. “Que estranha instituição seria essa que seqüestrava e aprisionava aqueles
aos quais pretendia libertar?”, pergunta Paulo Amarante (Amarante, 2007, p. 37).
Em 1838, aprovou-se na França a lei que ordenou a criação dos hospitais
psiquiátricos (Castel, 1978), consolidando o modelo psiquiátrico e institucionalizante.
Esse paradigma reproduziu-se de maneira razoavelmente estável em países europeus e
suas colônias, com experiências questionadoras somente a partir do último século;
certas situações lastimáveis, como a inevitável semelhança entre os manicômios e os
campos de concentração, além da percepção do paradoxo no “gesto pineliano”,
auxiliaram a humanidade a abrir os olhos para a situação e ensaiar transformações.
A seguir, discutiremos as experiências de transformação mais importantes,
começando pela própria França.
II. A Psicoterapia Institucional francesa
Na França, algumas experiências como a de François Tosquelles – psiquiatra
catalão – no hospital psiquiátrico francês de Saint-Alban, mostraram que o que se passa
nos ambientes de tratamento tem efeito significativo sobre os sujeitos que lá estão
inseridos. Durante a segunda guerra mundial, esse hospital acabou perdendo seu caráter
de clausura, tanto por abrigar alguns exilados políticos, como por situar-se no meio de
passagem dos camponeses que iam à feira local. O hospital converteu-se em um
interessantíssimo espaço de encontros e trocas, que mobilizou população, funcionários,
psiquiatras e especialmente vários internos, que tiveram melhora significativa em seus
quadros clínicos.
Esse fato, junto a outros de semelhante importância, trazem à tona o princípio da
Psicoterapia Institucional – da necessidade de tratar a instituição – em oposição ao
modelo tradicional que pensa a doença isolada do contexto em que se trata. Dessa
maneira, para tratar os “doentes” é necessário tornar a instituição saudável, como um
espaço fértil de trocas, assim como a própria equipe precisa problematizar seu lugar no
tratamento.
A idéia de uma terapêutica ativa em oposição à rotina apassivadora e alienada
dos hospitais psiquiátricos caracteriza-se como um componente central na psicoterapia
institucional. Não era pouco, naquele contexto, reconhecer a alienação presente nas
instituições e nas equipes, não enfocando somente o paciente. “A intervenção no meio
14
se constitui em um trabalho que atinge de modo articulado a alienação dos que cuidam e
dos que são cuidados” (Moura, 2003, p. 56).
Jean Oury e Félix Guattari são os principais responsáveis, anos depois, pela
criação de uma instituição de suma importância no âmbito da Psicoterapia Institucional.
É a clínica de “La Borde”, situada em um castelo no interior da França. Seus dois
idealizadores tinham formação em psicanálise, mas estiveram sempre abertos ao
pensamento grupal, institucional e sociológico que se construía na França da época. Em
capítulos posteriores discutiremos esta relação entre psicanálise e o processo
institucional mais a fundo, mas cabe aqui explicar o sentido e a história dessa
experiência dentro da reforma psiquiátrica.
Ambos levaram à cabo essa experiência durante muitos anos, e a prática lá
desenvolvida buscava inserir o interno nos processos institucionais como agente ativo e
transformador – o que se revela positivo no próprio processo da psicose. Guattari (1998)
relata como a influência da postura institucional sobre a loucura acaba marcando suas
características:
[...] é somente com a condição de que seja desenvolvida em torno dela uma vida coletiva no seio de instituições apropriadas que ela pode mostrar seu verdadeiro rosto, que não é o da estranheza e da violência, como tão freqüentemente ainda se acredita, mas o de uma relação diferente com o mundo (p. 183)
Nesse novo modelo, as ações no hospital visavam quebrar o tradicional esquema
médico-paciente, funcionário técnico-funcionário operacional. Todos deveriam engajar-
se no processo de produção de novas subjetividades. Reuniões entre todos que
pertenciam àquele local eram realizadas diariamente, no mínimo. Os temas e problemas
eram discutidos e rediscutidos no sentido de aproximar todos, rompendo com a
verticalização.
O processo institucional visava libertar da serialidade e, segundo o autor, “fazer
com que os indivíduos e os grupos se reapropriassem do sentido de sua existência em
uma perspectiva ética e não mais tecnocrática” (p. 187). Utilizavam-se grupos
terapêuticos, ateliês, atividades esportivas ou qualquer coisa que fosse proposta e tivesse
um sentido especial para os que estivessem ali dentro. Era importantíssimo quebrar a
rotina hospitalar, a “ritualização do cotidiano”, como identifica Guattari, já que isto
produz efeitos nocivos sobre a subjetividade.
15
Ali, Guattari cunhou também o termo “Análise Institucional”, para uma atuação
que transcendia a clínica individual: “a análise das formações do inconsciente não dizia
respeito apenas aos dois protagonistas da psicanálise clássica, mas poderia se estender a
segmentos sociais muito mais amplos” (Guattari, 1998, p. 191).
A separação que vemos claramente até hoje, nos hospitais psiquiátricos, que
segrega diferentes tipos de adoecimento e de subjetividades, já é lamentada pelo autor
em Práticas analíticas e práticas sociais (1998). Para Guattari, misturar gêneros,
idades, estilos e categorias nosográficas tinham efeitos terapêuticos que não poderiam
ser ignorados.
Algumas das críticas que posteriormente foram tecidas à Psicoterapia
Institucional dizem respeito a um certo “ensimesmamento” da instituição, que cria um
ambiente agradável, um certo oásis, mas que não têm efeitos significativos no social
mais amplo.
III. A Antipsiquiatria inglesa
David Cooper e Ronald Laing têm papel fundamental na constituição da
Antipsiquiatria na Grã-Bretanha, especialmente ao constatar a violência como prática
recorrente nos hospitais psiquiátricos. A violência não é necessariamente física, embora
possa chegar a esse ponto, mas também é a privação da liberdade de um sujeito pelo
outro, além de estratégias de invalidação social.
Para Cooper (1982), o surgimento da loucura está nas relações intrafamiliares do
sujeito. Nessas relações, os elementos familiares não permitem um espaço necessário
para a pessoa se desenvolver. O hospital psiquiátrico, por excelência, é o lugar que
confirma esse impedimento, através de técnicas científicas específicas. A esquizofrenia,
sofrimento que representaria fortemente essa trama, define-se por uma
situação de crise microssocial, na qual os atos e a experiência de determinada pessoa são invalidados por outras, em virtude de certas razões inteligíveis, culturais e microculturais (geralmente familiais), a tal ponto que essa pessoa é eleita e identificada como sendo ‘mentalmente doente’ de certa maneira e, a seguir, é confirmada (por processos específicos mas altamente arbitrários de rotulação) na identidade de ‘paciente esquizofrênico’ pelos agentes médicos ou quase-médicos. (Cooper, 1982, p. 17)
16
Cooper retoma a dimensão de que a violência praticada pelos ‘doentes mentais’
não é característica da doença, mas resposta à própria violência que sofrem nas
internações.
Seu projeto terapêutico visava um lugar que, em vez de reafirmar a invalidação
das pessoas, fosse um espaço de acolhimento onde elas pudessem justamente reverter
esse processo de invalidação ao qual elas estariam expostas nas instituições tradicionais.
Cooper desenvolveu uma experiência alternativa ao hospital tradicional, que
denominou “Vila 21”. Lá se trabalhava com um modelo de Comunidade Terapêutica,
através de grupos que buscavam aproximar a família ao tratamento, além de
compreender as formas de invalidação que o sujeito sofreu e questionar as práticas
psiquiátricas de caráter fundamentalmente “policial”.
Guattari (1998), ao descrever seu contato com a antipsiquiatria, comenta:
[...] deixando de lado alguns exageros demagógicos aos quais ela dará lugar (do tipo: ‘a loucura não existe’, ‘todos os psiquiatras são policiais’), o movimento antipsiquiátrico teve o mérito de abalar a opinião sobre o destino que a sociedade reservava aos doentes mentais – o que as diferentes correntes renovadoras da psiquiatria européia não haviam jamais conseguido fazer. (p. 192-3)
Outra constatação importante é que a concepção de loucura dessa corrente
representava um avanço ao superar a concepção de doença como individual, mas sim
constituída familiar e socialmente, idéia bastante apoiada na psicanálise: “ainda é quase
revolucionário sugerir que o problema não reside na chamada ‘pessoa doente’, porém na
rede de interações de pessoas, particularmente sua família” (Cooper, 1982, p. 47).
Contudo, ao desenvolver o trabalho a partir das comunidades terapêuticas, viviam um
paradoxo, pois a terapêutica privilegiava o próprio psicótico.
IV. A Psiquiatria Democrática italiana
A reforma psiquiátrica italiana tem como principal característica a tomada de
consciência, por parte dos profissionais de saúde mental, de que a psiquiatria que se
praticava não era a ciência isenta e bem intencionada como se definia, mas uma prática
de preservação das desigualdades sociais, de anulação do louco como sujeito e cidadão,
e de manutenção da ordem pública estabelecida. A partir do momento em que se
questionou a instituição doença mental, surgiram novas práticas, em que os usuários,
17
funcionários do hospital e a comunidade eram convocados a discutir e transformar esta
instituição.
A loucura, que se revestia de um estigma de periculosidade, passou a apresentar
faces bem mais interessantes e produtivas. Não havia mais necessidade de manter o
isolamento social e as internações compulsivas, os serviços com características de
exclusão começaram a ser fechados e engatou-se num projeto de emancipação do louco,
visando “aumentar os graus da liberdade pessoal, pois a loucura acarreta a sua restrição”
(Rotelli, 1987, p. 14). Era necessário transformar as relações sociais de fato e não
somente a representação que o doente tem dela.
A primeira experiência importante deu-se em Gorizia, na década de 60. A partir
desta crítica às práticas estabelecidas, constituem-se as comunidades terapêuticas, onde
abriram-se espaços de discussão coletiva entre todos os envolvidos e passou-se a
questionar veementemente as disparidades sociais, que inclusive fundamentam a
existência do manicômio. Quando a proposta de funcionários e usuários de fechamento
do hospital e substituição por centros externos não foi acatada, todos os loucos foram
considerados curados e houve uma demissão em massa dos funcionários.
O processo de reforma mais importante deu-se em Trieste, na década seguinte,
quando Franco Basaglia foi designado diretor de um hospital psiquiátrico de 1200
leitos. A proposta era transformar o hospital a partir de dentro: como no modelo
anterior, buscou-se implicar usuários, funcionários e a comunidade na transformação.
Toda situação de crise dentro do hospital deixa de ser reprimida para ser valorizada, com o intuito de promover o debate entre todas [...] considerava-se que a valorização destas situações conflitantes através da participação coletiva era a única forma de mobilização verdadeira contra a inércia da instituição. (Rotelli, 1987, p. 7)
O louco pôde começar a ser valorizado como cidadão e sua vida não estava
condenada ao asilo hospitalar. Lentamente, iniciou-se um intenso processo de
aproximação entre o que acontecia ali no hospital e a comunidade, desfazendo um
estigma do “mentalmente são” ou dos familiares de internados perante a loucura.
Segundo Rotelli (1987), “o doente mental passa a ser visto a partir da sua face de
sofrimento, e não mais da periculosidade” (p. 10).
Puderam ser criados, passo a passo, serviços alternativos ao hospital, como
hospital-dia, residências terapêuticas, atendimentos domiciliares, cooperativas de
trabalho. Tudo isto permitiu que, em 1980, o hospital pudesse ser fechado.
18
A experiência italiana critica enfaticamente algumas experiências européias e em
especial americanas por reduzir a idéia de “desinstitucionalização” ao exclusivo
fechamento do hospital. Segundo Nicácio (1989),
[...] essas experiências tiveram em sua maioria, como principal impulso, a tentativa de renovar a capacidade terapêutica da psiquiatria, liberando-a de suas funções arcaicas de controle social, coação e segregação; a análise crítica pode indicar que nesses países a desinstitucionalização foi reduzida à desospitalização. (p. 97)
É necessário que ocorra, para a desinstitucionalização, uma mudança de lógica
onde o manicômio passa a ser lido não apenas na sua condição concreta, mas como
reflexo de uma maneira da razão relacionar-se com a loucura.
“Colocar a doença entre parênteses” é um famoso lema da psiquiatria
democrática italiana. A partir da noção de doença mental, haviam-se construído
aparatos científicos, legislativos e administrativos, todos referidos à doença (Amarante,
2007). Desconstruindo esses aparatos, ou seja, a instituição, pode-se encontrar a pessoa
que sofre.
Rotelli (1987) afirma, ainda, que é necessário romper com uma visão
mecanicista de ciência em relação à doença mental, onde o tratamento seria consertar
algo que quebrou. Em contrapartida, é necessário assumir uma postura prática, de
construção coletiva, que visa a transformação do entorno do sujeito e sua emancipação.
“Contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática”, dizia Basaglia.
V. A Reforma Psiquiátrica brasileira
No Brasil, a história do tratamento da doença mental também é marcada pela
lógica manicomial. Um dos primeiros hospitais psiquiátricos foi o Pedro II, fundado no
Rio de Janeiro, após a vinda da família real. Em seguida, fundou-se em São Paulo o
Juquery, que tem seu surgimento, não à toa, atrelado ao início do processo de
industrialização.
Cunha (1986) nos fala claramente como, de forma semelhante ao processo
europeu, a criação do manicômio atende às exigências política, econômica e da ordem
moral vigente. O indivíduo que não se prestava à força do trabalho, que desafiava o
status quo da cidade e que destoava do padrão moral burguês era sério candidato ao
asilo. Segundo a autora,
19
[...] o Juquery constitui assim a instauração de um espaço médico para quem já não dispõe do espaço social, ou para indivíduos por diversas razões incapazes de adaptação às disciplinas exigidas pela vida e pelo trabalho urbano (Cunha, 1986, p. 120)
Ademais, a bela construção e os exuberantes jardins do hospital, produzidos pelo
arquiteto Ramos de Azevedo, escondiam as práticas de violência que marcavam o
cotidiano do hospital. Novamente sob a segurança de um ‘saber médico neutro’ e que
visava à cura, a psiquiatria da época praticava todas as maneiras de violência.
Na ditadura militar, o descaso perante o louco perdurou, além de acentuar-se o
processo de compra de leitos privados pelo Estado. Os dados que Cesarino (1989) nos
apresenta são chocantes:
no Brasil eram 110 os hospitais psiquiátricos em 1965; em 1970 passaram a ser 178; já em 1978 havia 351 hospitais conveniados com o INAMPS [Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, órgão anterior à criação do SUS]. Com isso o INAMPS gastava a maior parte de sua verba para assistência psiquiátrica com compra de leitos privados (cerca de 90%), sendo esta a única alternativa que praticamente se oferece à população como tratamento. (p. 4-5)
Os serviços privados vinculados ao Estado não demonstraram nenhuma garantia
de qualidade no atendimento, muito pelo contrário: o interesse tem sido
fundamentalmente lucrativo, transformando o direito a um atendimento de qualidade em
um mercado da doença mental.
Foi só no período de redemocratização que a sociedade brasileira se abriu para a
discussão e transformação da estrutura manicomial excludente e asilar. O
questionamento partiu tanto dos trabalhadores da área de saúde mental, quanto de
usuários dos serviços e seus familiares.
No final da década de 1970, articulou-se o Movimento de Trabalhadores de
Saúde Mental (MTSM), incomodados com a prática hegemônica desumana e pouco
qualificada na área. Em 1987, com a clara participação de usuários e familiares da saúde
mental, este movimento pôde constituir o lema “Por uma sociedade sem manicômios”.
O movimento, que em 2007 comemora seus 20 anos como “luta antimanicomial”, foi na
época extremamente importante como foco questionador e de fomento à transformação
dos serviços. Poucos anos depois, realizou-se o Iº Encontro do Movimento
Antimanicomial, que teve como principal evento a plenária de usuários e familiares, que
assim engajavam-se na luta (Silva, 2003).
20
Uma das primeiras e principais expressões concretas deste ideal surgiu em São
Paulo, com a criação do “Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luiz da Rocha
Cerqueira”, o CAPS Itapeva, em 1987. Foi uma das primeiras experiências
institucionais que buscava a reabilitação e reinserção social dos pacientes, bastante
influenciada pelas experiências estrangeiras (sobretudo a Psicoterapia Institucional),
rompendo com a lógica de segregação e cronificação da doença mental que até então
vigorava.
Os principais questionamentos e mudanças realizadas por esse CAPS, cujo
modelo discutiremos mais a fundo no próximo capítulo, referem-se às mudanças de
abordagem em relação à loucura, de um sintoma para uma história de vida; de
questionamento do saber médico e psicológico como absolutos para a horizontalidade
do tratamento, onde pacientes participam de reuniões gerais e técnicas assim como os
profissionais do serviço; da implicação na formação de profissionais com postura anti-
manicomial; compromisso terapêutico com o usuário buscando alargar sua capacidade
de escolha, e de um poder maior sobre suas próprias vidas.
Outro importante foco de mudança ocorreu em Santos, no ano de 1989. O
Anchieta, manicômio que era um verdadeiro “depósito de loucos”, começou a ter suas
práticas questionadas e, em 3 de Maio, a Prefeitura determinou intervenção imediata.
Muitos dos protagonistas que se aventuraram a transformar a estrutura do hospital
haviam ministrado, anos antes, o “Curso de formação para agentes de saúde mental”, no
Instituto Sedes Sapientiae, que foi também um importante espaço questionador da
lógica manicomial.
De cara, os interventores proibiram celas fortes, eletrochoques e todas as práticas
violentas que ali se davam. Iniciou-se também um processo de sensibilização da
comunidade, que passou a apoiar a intervenção. A violência e exclusão foram
substituídas por um árduo trabalho de acolhimento do sofrimento mental, de
intervenção familiar, de reintegração social. Montou-se uma rede de atendimento
substitutiva ao hospital, com a criação do primeiro Núcleo de Apoio Psicossocial, o
NAPS, o que possibilitou posteriormente o fechamento do Anchieta. Santos tornou-se
uma das poucas grandes cidades verdadeiramente “sem manicômios”.
O processo santista teve grande afinidade com a Psiquiatria Democrática
italiana, liderada por Basaglia. Ainda assim, houve cuidado para não aplicar o modelo
italiano, sem levar em conta as particularidades que se apresentam em cada local.
21
Buscaram-se também vários referenciais teóricos para sustentar uma prática
desinstitucionalizante. Segundo Lancetti (1991),
a psiquiatria democrática não operou como modelo, temos utilizado outros recursos disponíveis como a psicologia social, a psicofarmacologia, a comunidade terapêutica, o psicodrama, elementos da psicanálise, de análise institucional e lateja no âmago dessa práxis um pensamento esquizoanalítico (p. 144)
É sabido, entre os militantes da Reforma Psiquiátrica que Félix Guattari, em sua
visita à Santos, enunciou que ali estava ocorrendo “a quarta revolução psiquiátrica da
história”.
Em 1989, começa também a tramitar no Congresso Nacional a “Lei Paulo
Delgado”, que só viria a ser aprovada em 2001, atraso este que revela a imensa
dificuldade política de constituir a reforma no Brasil, mas também a forte pressão do
movimento transformador. A lei institui a progressiva substituição dos manicômios por
serviços substitutivos de atenção ao sofrimento mental, que devem ser assegurados pelo
Estado. Além disso, reverte o processo de privatização do auxílio ao transtorno mental
no país e seu respectivo caráter manicomial.
Nos últimos anos vem criando-se uma rede extensiva de serviços como CAPS –
que no ano de 2007 alcançou 1000 unidades –, residências terapêuticas, centros de
convivência, ambulatórios de saúde mental, toda uma rede com vistas a tornar
desnecessária a permanente compra de leitos privados pelo Estado e a própria existência
dos hospitais psiquiátricos.
Antes de avançarmos, cabe uma severa ressalva. Por mais recente que seja a
criação de serviços substitutivos no Brasil, já podemos constatar em determinados
pontos um certo retorno da lógica anterior, resguardada por novas roupagens. Muitos
serviços que, de início, representavam uma nova lógica de tratamento, acabaram
cronificando-se, tornando-se nada mais do que uma pequena versão mais humanizada
do hospital psiquiátrico.
Por esse motivo, Amarante (2003) insiste que o termo reforma não pode ser
entendido como uma reestruturação, mas sim como um permanente processo de
transformação radical do lugar social da loucura – o que envolve um permanente
questionamento de nossas práticas, que acabam perenizando-se e repetindo o velho.
22
CAPÍTULO II - A CLÍNICA NOS DIFERENTES MODELOS
Uma das principais acepções do termo clínica vem do grego clinos, que significa
cama, leito. Exercer a clínica seria olhar, observar e tratar o doente que está na cama
(Saraceno, 2001). Esse conceito remete a Hipocrates, pai da medicina moderna. Não
obstante, diversas versões de clínica foram praticadas ao longo da história: algumas
delas em sintonia com o sentido etimológico, onde o paciente está passivo frente à
atividade do clínico, e outras revertendo-o radicalmente.
Essas diferentes concepções de clínica têm lugar central no complexo debate
entre a psiquiatria, a reforma psiquiátrica e a psicanálise. Sem serem conhecimentos
estanques, efetuou-se um verdadeiro entrecruzamento histórico entre todas as
concepções, com influências mútuas, bem como significativas rupturas.
Para compreender o modelo clínico dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), é imprescindível revisitar esse debate, mesmo que de maneira breve. Vejamos
o que corresponde à clínica no modelo psiquiátrico, na psicanálise e na atenção
psicossocial pensada a partir da reforma psiquiátrica.
I. A assistência psiquiátrica tradicional: do tratamento moral ao sintomatológico
Como afirmamos no capítulo anterior, Phillipe Pinel e outros alienistas
inauguram a psiquiatria através do reconhecimento da loucura como alienação mental,
assegurando a ela certa especificidade em relação aos outros desvios da razão. Como a
exclusão indiscriminada não combinava com a proposta da Revolução Francesa, fez-se
necessário uma justificativa científica para impedir o título de cidadão ao louco, mas
que, simultaneamente, oferecesse a ele um lugar específico nessa nova sociedade, onde
a ciência se ocupasse de devolver a razão a este alienado.
Desenvolve-se, com o surgimento da psiquiatria, um modelo específico de
tratamento que caracterizou a clínica psiquiátrica durante muito tempo, e que ainda
deixa marcas na atualidade. Trata-se do tratamento moral, que de longe foi a estratégia
mais valorizada no âmbito da psiquiatria dos primeiros tempos.
Entende-se como tratamento moral a implementação de uma rigorosa ordem no
asilo, com a qual os internos se beneficiariam significativamente, podendo até obter a
cura. Afastado da cidade, o asilo deveria ser um lugar calmo, onde o tempo e as
23
atividades são minuciosamente controlados, e inúmeras regras, regimentos e condutas
são impostas (Amarante, 2007). Essa prática disciplinadora afastaria os delírios e
aproximaria o interno à realidade concreta.
Nas palavras de Pinel,
Não há por que se espantar muito com a importância extrema que dou à manutenção da calma e da ordem num hospício de alienados, e às qualidades físicas e morais que essa vigilância requer, uma vez que essa é uma das bases fundamentais do tratamento da mania e que sem ela não obtemos nem observações exatas, nem uma cura permanente, não importando quanto se insista, de resto, com os medicamentos mais elogiados (Pinel, 1800, apud Foucault, 2006, p. 4).
Havia, a esse tempo, uma escolha privilegiada pelo tratamento moral em relação
ao tratamento médico, como vemos sintetizado na afirmação de Pinel. Pode-se dizer,
aliás, que o isolamento e a disciplinariedade da instituição eram condições
imprescindíveis para a própria percepção aguçada da doença. O isolamento é, nesse
momento, necessário para o exercício da clínica.
Muitas instituições psiquiátricas da atualidade, que não passaram pelo crivo da
reforma ou que se apropriaram parcialmente das críticas e propostas, apresentam marcas
inegáveis desse modelo clínico do tratamento moral. Vale ressaltar: marcas de um
modelo que completa 200 anos de existência e que se caracteriza pela violência,
cronificação e estigmatização do sofrimento mental. São exemplos de resquícios desse
modelo: a uniformização dos internos e a proibição da posse de objetos importantes
para o sujeito, o que dessingulariza-o e promove a massificação; a imposição dos
horários do despertar, do recolher, das refeições e da medicação; a distância geográfica
e a impossibilidade de acesso ao mundo externo, etc.
Afirmamos que o modelo do tratamento moral não foi superado pela assistência
psiquiátrica ainda hoje. Ainda assim, pode-se observar que atualmente é o tratamento
sintomatológico que ocupa o centro do tratamento nessas instituições, deslocando o
tratamento moral para a posição de instrumento acessório. Por modelo sintomatológico
entendemos uma clínica que maneja os sintomas presentes no sofrimento mental,
visando sua redução e eventual remoção (Tenório, 2001).
Jairo Goldberg, diretor do primeiro CAPS do país, afirma que essa concepção
de clínica centrada no manejo dos sintomas é extremamente simplista, frente a um
desafio complexo que é o de tratar a psicose (Goldberg, 1994). Em geral, ela oferece
internação em hospitais psiquiátricos nas situações de crise, e atendimento ambulatorial
24
nos momentos de estabilização. Tanto em um quanto em outro, o maior recurso
terapêutico é a medicação, e a agudização ou diminuição do sintoma (delírio,
alucinação, agitação, etc.) são os critérios maiores de orientação para o tratamento. O
psiquiatra ocupa um papel absolutamente central na condução do caso, sendo os outros
profissionais auxiliares no tratamento. As psicoterapias pela palavra, quando utilizadas
nesse modelo, perdem significativamente sua potência e, como exemplifica Goldberg
(1994), “frequentemente nada mais fazem do que adequar o paciente às figuras do
sintoma” (p. 25).
A vida do paciente costuma ficar muito restrita a partir desse tratamento,
limitando-se às internações ou consultas ambulatoriais. Oferece-se muito pouco no
sentido de uma construção de lugares possíveis para o sujeito habitar o mundo – como
um possível trabalho, articulações com a comunidade, ou mesmo a tão óbvia e
importante inclusão da família no tratamento –, o que veremos aparecer somente nos
serviços substitutivos em saúde mental.
Da mesma maneira que a terapêutica incide prioritariamente sobre o sintoma, o
próprio paciente passa a “vestir” o sintoma, nesse âmbito restritivo da vida. A clínica
sintomatológica subvaloriza os aspectos contextuais do sujeito e prioriza sua doença,
transformando o sujeito no próprio diagnóstico – e este acaba por incorporá-lo. Nesse
aspecto, medicina e psiquiatria caminham bem próximas (o que não ocorria no
tratamento moral), efetuando uma ontologização das enfermidades, como afirma o
médico sanitarista Gastão Wagner de Souza Campos:
seria como se a doença ocupasse toda a personalidade, todo o corpo, todo o Ser do doente. Seu João da Silva desapareceria para dar lugar a um psicótico, ou a um hipertenso, ou a um canceroso (Campos, 2003, p. 56).
Colocar o sujeito entre parênteses para entender e tratar a doença, o transtorno:
essa é uma das marcas fundamentais do modelo sintomatológico. Este modelo, embora
já tenha certa idade, conseguiu sua verdadeira consistência e fundamentação nos últimos
50 anos, com o avanço da psicofarmacologia e das neurociências, o que
verdadeiramente “apimentou” o debate entre esse modelo e os da psicanálise e da
reforma psiquiátrica.
Isso porque, embora a psicofarmacologia tenha trazido efeitos importantes para
o campo da saúde mental, auxiliando na estabilização de casos e abrandando sintomas,
pode-se dizer que representa o fundamento prático e epistemológico “ideal” da clínica
25
voltada para o sintoma. Através do desenvolvimento dos potentes psicofármacos e do
investimento maciço nas pesquisas neurocientíficas, a psiquiatria assumiu um novo
paradigma, o da neurobiologia, acabando com um debate incerto que rondou esse
campo durante muito tempo. Isso pois, embora as descrições das psicopatologias
frequentemente remetessem ao modelo biológico, antes das neurociências não havia o
rigor e a precisão necessários ao modelo anátomo-clínico, como se efetuou na medicina
mais ampla (Birman, 2001).
Pode-se dizer, aliás, que por não conseguir essa correspondência biológica e por
ter dado margem à intermináveis debates entre as diferentes escolas de psicopatologia, a
psiquiatria nunca teve um lugar privilegiado dentro da medicina, sendo até motivo de
gozação por parte de certos médicos. O respeito só vem sendo alcançado através do
modelo neurobiológico, reaproximando a psiquiatria da medicina mais ampla.
Contra as incertezas da clínica tradicional, a referência universalizante do
modelo neurobiológico. Nessa concepção, onde o medicamento é o direto responsável
não só pela regulação do transtorno, como também pela sua classificação, opta-se por
uma clínica funcional em psiquiatria, onde as esferas temporal e histórica perdem
importância. Os sinais e sintomas são referenciados aos códigos universais de doenças,
e as vicissitudes históricas do sujeito, a etiologia e as afetações do campo social, todas
tão relevantes na clínica psicanalítica, são em boa dose descartadas por essa visão
psiquiátrica (Birman, 2001). Além disso, a particularidade, o entendimento e a
construção singular de cada caso, que de alguma maneira produzia-se anteriormente,
caem por terra frente a esse referencial universalizante da psiquiatria contemporânea.
Alguns autores têm afirmado que a psiquiatria vem, inclusive, seguindo o
caminho da medicina somática, onde o efeito do medicamento define e delimita a
patologia (Birman, 2001; Pacheco, 2007). O primeiro exemplo dessa formulação
diagnóstica orientada a partir do efeito do medicamento relacionou-se ao transtorno do
pânico: quando o quadro respondia à ação da imipramina, passou a ser designado como
transtorno do pânico, diferenciando-se dos outros quadros de ansiedade, denominados
transtorno de ansiedade generalizada. Com esse movimento, a idéia de alienação na
loucura permanece forte, já que todo o saber sobre esse sofrimento está do lado do
médico e da produção científica, e ao que sofre não lhe corresponde esse saber.
Vale dizer, com todas as letras: com o desenvolvimento da psicofarmacologia,
fundamenta-se como nunca antes o modelo sintomatológico de psiquiatria, onde a ação
do medicamento e a figura do psiquiatra têm papel absolutamente central no tratamento,
26
e onde a esfera da biologia supera de longe em importância a questão do sujeito – de sua
constituição temporal e histórica –, da instituição e do espaço social.
A clínica psiquiátrica, portanto, pauta-se no manejo sintomatológico, sustentado
agora pela psicofarmacologia. Soma-se a isso um ranço significativo das práticas de
tratamento moral, que abrandaram-se um tanto, mas permanecem, refletindo um modelo
de pensar a psiquiatria.
A seguir, relatarei uma situação da minha prática, e que poderá ilustrar algumas
características do funcionamento de instituições que pautam seu trabalho no modelo
sintomatológico. Desde 2007, trabalho como acompanhante terapêutico (AT), uma
modalidade clínica criada no âmbito da reforma psiquiátrica. Busca-se, nessa clínica,
acompanhar o paciente onde sua vida acontece, para além das instituições que o
atendem – um dos objetivos do acompanhamento, aliás, é permitir que o paciente se
sustente sem a necessidade de internação psiquiátrica.
No entanto, um dos pacientes que acompanho realizou o caminho inverso:
nunca havia sido internado, mas circunstâncias de sua vida promoveram-lhe um intenso
sofrimento, impondo inclusive um grande risco de suicídio. Em São Paulo, praticamente
inexistem dispositivos públicos que acolham no período noturno (momento em que o
sofrimento se acentuava), exceto no modelo de internação tradicional. O paciente
tampouco possuía convênio médico, e a família passava por dificuldades financeiras,
impedindo um serviço privado.
Frente a isso, optou-se por um hospital psiquiátrico que, a primeira vista,
trabalhava no paradigma da reforma psiquiátrica. Como veremos no relato, o modelo
sustentado é acima de tudo sintomatológico, com resquícios do modelo moral de
tratamento:
Após alguns dias da internação, a mãe foi chamada para uma reunião de
família junto à equipe de referência. O terapeuta de referência e eu optamos por
acompanhá-la.
O local é relativamente afastado do centro da cidade, mas é bonito, com muita
vegetação e com as construções bem cuidadas. Uma grade envolve o estabelecimento,
não sendo permitido aos pacientes ultrapassá-la, e uma portaria recebe os visitantes.
As visitas são plenamente permitidas durante a semana, das 9hs às 17hs, mas
deve-se passar por uma série de procedimentos exigidos, como preencher fichas, obter
crachá e deixar bolsas e acessórios no guarda-volumes.
27
Já lá dentro, observamos que todos os pacientes utilizam roupas fornecidas pela
instituição, todas iguais e carimbadas com o nome do hospital. A maioria está com o
cabelo bem curto, raspado à máquina. Alguns recebem a visita dos familiares, trocam
informações e perguntam sobre a vida lá fora, outros circulam pelo espaço aberto, e
alguns outros clinicamente piores estão sentados gritando.
Nosso paciente reclama do tratamento de alguns funcionários, que são
desrespeitosos e chegam até a xingar. O terapeuta de referência observa que há uma
caixa de sugestões presa à parede, e oferece papel e caneta para que ele escreva essa
crítica. Em seguida, somos chamados para a reunião, sem a presença do paciente.
O primeiro encontro é junto à psicóloga e à assistente social, um encontro mais
geral com as quatro famílias marcadas para o dia juntas. A palavra é tomada
imediatamente pela psicóloga, que explica a importância da família na aceitação da
doença mental, na responsabilidade em medicar corretamente, no não-abandono e
implicação no tratamento. Afirma que a doença mental não é fácil de ser tratada, que
não se pode prometer uma cura e que frequentemente o paciente pode precisar de um
tratamento mais intenso, sucedendo-se a momentos de melhora e alta. Afirma também
que sempre há partes saudáveis que se preservam na doença mental, e que devem ser
trabalhados. A assistente social completa o discurso com alguns comentários na mesma
direção da psicóloga.
Um casal, pais de determinado paciente, que se mostravam inquietos para falar
desde o início, acaba tomando a palavra para si: contam sobre sua experiência com o
filho, a mobilização na tentativa de formar uma ONG e as dificuldades encontradas,
bem como as duras experiências em hospitais psiquiátricos classicamente manicomiais.
A psicóloga concorda, completando que esses hospitais são de fato horrorosos, mas
não dá continuidade ao assunto, retornando à sua fala (que parece ser estabelecida de
antemão).
Ambas encerram o encontro afirmando que, a seguir, atenderão cada família
particularmente, junto com a psiquiatra. Nesse final, tampouco se passa a palavra para
os familiares.
Após alguns minutos, a mãe é chamada para a conversa, e nós a
acompanhamos. Pode-se observar que a psiquiatra ocupava um lugar muito
diferenciado no tratamento, mesmo sendo uma equipe multidisciplinar. Sem perguntar
os nossos nomes, olhava principalmente para o prontuário e pedia algumas
informações que faltavam à mãe, sempre chamando-a de ‘mãe’ e não pelo nome. Suas
28
perguntas iam no sentido de obter o diagnóstico com maior clareza, perguntando, por
exemplo, se houve algum problema no parto ou como seu filho reagiu após o
falecimento de um familiar.
Em seguida, perguntou ao terapeuta de referência qual era sua hipótese
diagnóstica do caso, ao que ele respondeu de maneira psicodinâmica, buscando um
entendimento histórico das vivências do paciente. Essa informação não pareceu de
grande valor à equipe, que questionou sua validade e imediatamente mudou o assunto.
Nada mais foi perguntado a ele ou a mim.
A psiquiatra encerrou o encontro dizendo que o trabalho estava no seu início,
que iriam investigar hipóteses diagnósticas e que não poderia adiantar mais nada
naquele momento. Frisou que as visitas podiam ser diárias, que o paciente poderia
freqüentar oficinas de Terapia Ocupacional e os espaços de convivência.
Na segunda vez que visitei o lugar, acompanhei-o ao centro comunitário, onde
os pacientes praticavam certos esportes, sendo as condições físicas e materiais do lugar
muito propícias. Não obstante, não eram acompanhados por funcionários e as
atividades pareciam atividades em si.
O paciente apresentava-se claramente em ritmo mais lento e frequentemente
dormia em qualquer canto, atitude que não lhe era comum, levantando a suspeita que
estava bastante medicado.
Ele se queixou das conversas que tinha com psicólogos e psiquiatras, pois
quando lhes contava algumas vivências e lembranças que tinha, eles respondiam que
‘isso era coisa de sua cabeça’ e que deveria esquecê-las. Nesse dia, não conversei
pessoalmente com membros da equipe.
Reclamou também das regras excessivas que marcavam o local, que eram
impedidos de acessar diversos espaços restritos aos funcionários, etc.
Tentando compreender essa vivência, pude pensar de imediato que esse hospital
tem diferenças significativas com relação aos manicômios. Estes, verdadeiros
“depósitos de gente”, não proporcionam um ambiente digno, sendo geralmente sujos,
mal cuidados e sem recursos materiais. A instituição que visitamos tem uma ambiência
bastante favorável, apesar de certas restrições, como de circulação.
Em um primeiro olhar, a oferta de cuidados e atividades da instituição pareceria
refletir um modelo de clínica ampliado, de atenção psicossocial: equipes
multidisciplinares, opções de atividade onde o sujeito pudesse ser ativo, preocupação
29
em organizar reuniões com a família, etc. No entanto, pudemos observar que tudo isso é
utilizado como acessório para o tratamento sintomatológico, de diagnóstico e
remoção/abrandamento dos sintomas, com elementos de tratamento moral. Ou, talvez,
pode-se dizer que na esteira da humanização dos serviços, essa instituição mudou a
parte mais aparente, mas preservou uma certa lógica tradicional em assistência
psiquiátrica. É o que afirmamos, em outro momento, como sendo uma reorganização
dos serviços, e não uma reforma radical.
A uniformização dos internos, bem como o corte de cabelo homogêneo,
representa, como já dissemos, uma prática de tratamento moral, que busca impor um
padrão claro, restrito e repetitivo para ater o paciente à certeza cotidiana. O desprender-
se dos objetos de pertence importantes para o sujeito, também revela um modelo que
muitas vezes não trabalha com a singularidade, com aqueles recursos que ajudam o
sujeito a construir e suportar sua existência no mundo.
Ao mesmo tempo em que a família é introduzida no tratamento, o é de maneira
insatisfatória, como um acessório para o tratamento sintomatológico: os familiares tem
a função de garantir que a medicação seja tomada e que o tratamento seja levado à cabo.
Suas angústias, fantasias e implicações não são trabalhados como parte do tratamento –
o que teria efeito na saúde mental dos familiares e do próprio paciente e é parte
importante no modelo da atenção psicossocial.
O discurso da equipe já prevê, de alguma maneira, a carreira do doente mental,
onde o sujeito estaria condenado a sucessivas internações, alternando-se com momentos
de tratamento ambulatorial; podemos observar isso a partir de certos comentários dos
profissionais. Além disso, a idéia de que há uma parte saudável da personalidade no
doente mental que se preserva e que deve ser trabalhada, remete diretamente ao modelo
clínico dos tempos de Pinel, muito distinta da concepção psicanalítica da psicose (ainda
que a psicanálise do ego tenha preservado essa idéia) ou da atenção psicossocial, como
veremos.
O encontro fez notar também o imenso peso que se dá ao diagnóstico e
utilização de medicamentos. Em qualquer contexto, esses aspectos seriam parte
importante do tratamento; no entanto, nesse modelo eles tem um relevo imensamente
maior do que outras estratégias, como terapias – individual e grupal –, trabalho com
família, oficinas terapêuticas e de cooperativismo, articulações comunitárias,
acompanhamento terapêutico, etc.
30
Em suma, no nosso entendimento esse hospital retrata um modelo de assistência
psiquiátrica, pautado sobretudo no tratamento psiquiátrico sintomatológico e que é
muito presente ainda nos dias de hoje. A seguir, discutiremos outras visões possíveis,
através do exame daquilo que sejam as contribuições psicanalíticas para uma clínica
das psicoses, e o modelo da atenção psicossocial,
II. O modelo psicanalítico
Como vimos, Paris foi a cidade em que a psiquiatria mais se desenvolveu nos
primeiros tempos, sendo os outros lugares um pouco reprodutores do que lá acontecia.
Paris avançara na implementação da psiquiatria, naquele tempo, muito mais que a Viena
freudiana. E, não à toa, foi no estágio lá realizado por Freud que, aquele que seria o pai
da psicanálise, pôde interessar-se pelas doenças mentais, principalmente através do
contato com Jean Martin Charcot no Hospital da Salpêtrière (Rodrigué, 1995).
Poucos mencionam o curioso fato de que Pinel, após dirigir o Hospital de
Bicêtre foi trabalhar no Hospital da Salpêtrière, esse mesmo que Charcot ingressaria
muitos anos depois, na ocasião da divisão administrativa do hospital em dois setores:
um para os alienados – denominação clássica dos psicóticos – e outro para epilépticos e
histéricas (Roudinesco & Plon, 1998). Enquanto o setor dos alienados seguiu a tradição
pineliana, Charcot foi nomeado diretor do outro setor, e impressionava Freud tanto pelo
seu conhecimento sobre os fenômenos histéricos (sempre se apoiando nas evidências
clínicas), mas principalmente pelas fantásticas apresentações públicas, nas quais
produzia e desfazia sintomas histéricos em suas pacientes.
Divisão dos setores do hospital, mas práticas semelhantes: se do lado dos
alienados, o interrogatório psiquiátrico buscava produzir no louco o reconhecimento de
sua própria condição – e assim legitimar a custódia –, no caso da histeria, o médico
literalmente produzia a doença. Ouçamos, a esse respeito, o psicanalista e biógrafo
renomado de Freud, Emilio Rodrigué (1995):
Como ocorrera com a bruxa no Santo-Ofício, e o psicótico no asilo, a crise histérica passa agora a ser fabricada com grande regularidade nas apresentações clínicas da Salpêtrière. O objetivo da hipnose era o controle da situação. Através da sugestão hipnótica, o médico obtém um conjunto de sintomas bem definidos: a histeria, lembra Foucault, torna-se um produto do desejo do médico (p. 229).
31
Ao final, o trabalho de Charcot culminou com a “teoria do trauma” –
parcialmente superando a situação que descrevemos –, pois introduzia a importância da
história na manifestação da doença: através de entrevistas, poder-se-ia identificar o
evento traumático responsável pelo desencadeamento da crise histérica. Com a inserção
da história, mesmo que o referencial etiológico para Charcot permanecesse como
orgânico e hereditário, dava-se um passo importante para permitir o surgimento da
psicanálise.
No entanto, a inevitável constatação de que conteúdos sexuais sempre apareciam
de modo central no discurso histérico, fez com que Freud fosse à busca da dimensão da
sexualidade no sofrimento daquelas pacientes e, posteriormente, em tudo aquilo que
constitui o sujeito. E nesse caminho, nem Charcot nem tampouco Josef Breuer
acompanharam Freud, que empreendeu a construção da psicanálise de maneira solitária.
É interessante notar como a histeria teve um lugar social bastante semelhante ao
da dita loucura em diversos momentos da história. Ao longo de séculos, a mulher tinha
uma representação bem próxima da animalidade, em especial a histérica (Roudinesco &
Plon, 1998), assim como o louco, desarazoado e bestial. O contexto pineliano deu a
ambos os fenômenos o estatuto de doença mental, mas, como vimos, sem ainda
oferecer-lhes voz e um digno cuidado terapêutico.
Foi somente com Freud que um novo lugar à histeria é oferecido, passando-se do
modelo anátomo-patológico, em que o sintoma histérico representaria algum tipo de
defeito no corpo orgânico, para uma compreensão positiva da histeria, em que haveria
um sentido na história do sujeito para a formação de tais sintomas. A correspondência
entre o sintoma e seu correlato anatômico e funcional, que Charcot buscava empreender,
é superada em Freud através de uma nova compreensão do corpo: o corpo representado
(Birman, 1991). O sujeito é capaz de representar no corpo as marcas traumáticas de sua
história; sendo assim, não pode-se correlacionar o sintoma a uma certa disposição
anatômica, já que seu sentido se encontra arraigado na história singular do sujeito.
Esse novo paradigma proposto por Freud, sem dúvida, promove um novo
entendimento da clínica – primeiramente, no campo da histeria, mas depois estendido às
outras neuroses e psicose –, o que definitivamente distanciará a psicanálise do modelo
médico-psiquiátrico. Se, de um lado, este último trabalha sobretudo com a idéia de que
o sintoma representa uma falha, a psicanálise opera o sintoma como uma forma de
verdade, uma maneira de expressão daquele sujeito.
32
Evidentemente, essa notável diferença irá produzir mudanças nas posições e
posturas de terapeuta e paciente na psicanálise, em relação à clínica de Charcot, Pinel ou
Bernheim (outro importante mestre para o jovem Freud, adepto incondicional da idéia
de sugestionabilidade). O termo clínica foi preservado na psicanálise, mas, certamente,
foi lhe dado um sentido absolutamente inédito e radicalmente distinto da passividade
que o sentido etimológico evoca.
Não cabe aqui uma reflexão minuciosa sobre as características da clínica na
psicanálise, em contraposição a outros modelos; no entanto, vale citar algumas das
mudanças fundamentais propostas a partir de Freud, para identificarmos a
especificidade da clínica psicanalítica.
Um primeiro ponto diz respeito à ênfase atribuída ao olhar e a escuta. No seu
método clínico, Charcot trabalhava fundamentalmente com o olhar: tanto nos
espetáculos visuais que oferecia com as histéricas da Saltpêtrière, como nas descrições
clínicas que construía a cada caso, pautadas sobretudo no que era visto (Birman, 1991).
O olhar, no dispositivo médico-psiquiátrico, possui até hoje um valor inestimável.
Freud, por sua vez, construiu uma clínica da escuta. Com a associação livre, empregada
no lugar da sugestão hipnótica, concede-se a palavra ao paciente, que pode falar tudo
que lhe venha à cabeça, sem censurar-se e nem tampouco sofrer censura do analista. O
próprio setting analítico é inicialmente construído privilegiando a palavra em detrimento
do ver e ser visto: contato visual indireto, luz baixa, etc.
Evidentemente, nesse dispositivo onde a fala e a escuta são privilegiados, o
paciente ocupa uma posição consideravelmente ativa, muito diferente do sujeito frente
ao olhar médico.
Outra mudança fundamental postulada pela Psicanálise propõe a passagem da
assepsia médica para o campo da transferência, ou seja, da objetividade para a inter-
subjetividade. Ou, pode-se dizer ainda, a noção de transferência supera os limitados
métodos empreendidos por seus imediatos precursores (e até pelo jovem Freud): o
método sugestivo-hipnótico (Charcot e Bernheim) e o catártico (Breuer).
Enquanto que, na clínica fora do modelo psicanalítico, não exige-se a presença
afetiva do terapeuta e do paciente – pelo contrário, frequentemente busca-se eliminar
esse tipo de variável –, a transferência é condição sine qua non para o tratamento
psicanalítico.
No percurso de Freud, a transferência foi ganhando significativa importância,
chegando a se tornar, por excelência, a ferramenta mais importante no trabalho
33
analítico. São distintas as definições desse conceito, tanto em Freud quanto em seus
principais sucessores. No entanto, desde sua formulação e adoção em detrimento da
sugestão, a transferência nunca foi relegada a um segundo plano. Aqui, utilizaremos sua
definição por Freud em A dinâmica da transferência (1912⁄1993), por nos parecer
madura e consistente, ainda que não abarque ainda a transferência nas psicoses.
Todo ser humano realiza investimentos pulsionais, sobre os mais variados
objetos, com vistas a obter satisfação. Parte desses investimentos consegue ser
trabalhado pela parte consciente do aparelho psíquico, permitindo ao sujeito um relativo
manejo dessas pulsões na realidade concreta. No entanto, uma parte considerável dessa
energia permanece em estado inconsciente, sendo investida sobretudo no campo da
fantasia.
Quando a necessidade de amor do sujeito não está plenamente satisfeita pela
realidade, o que ocorre na maior parte das vezes, os objetos colocados frente a ele serão
investidos consciente e inconscientemente de expectativas, idealizações, desejos. Na
situação clínica, o analista é evidentemente investido pelo paciente, e isso é a condição
que poderá permitir a superação das resistências e uma possível transformação subjetiva
do analisando. Quando não se estabelece algum tipo de transferência, seja ela de caráter
amoroso ou hostil, não se pode fazer nada em análise – dirá Freud.
Claro que, quando o paciente empreende esse investimento ao analista, projetará
nele figuras identificatórias importantes de sua vida – como imagos materna e paterna –
o que permitirá recordar vivências primitivas, revivê-las com o analista e elaborá-las.
A técnica da transferência envolveria, evidentemente, um aprofundamento maior
que não nos convém neste trabalho. No entanto, é fundamental ressaltar aquilo que
Freud afirma e reafirma: “no es correcto que durante el psicoanálisis la trasferencia se
presente más intensa y desenfrenada que fuera de él”3 (Freud, 1912⁄1993, p. 99). A
transferência estaria plenamente presente em outros contextos e, dirá Freud, ela é vista
com grande intensidade nas instituições de tratamento das doenças nervosas, só que,
nesse contexto, ela não será trabalhada para além da sugestão. Portanto, a transferência
corresponde a uma propriedade da neurose (e, em seguida, da psicose), e não do
contexto psicanalítico estrito.
3 “Não é correto que durante a análise a transferência se apresente mais intensa e desenfreada do que fora dela”, em castelhano. Optamos, neste trabalho, pela tradução castelhana das obras de Freud, em detrimento da brasileira, pois esta apresenta diversas imprecisões.
34
Nesse sentido, o trabalho com a transferência é uma marca do trabalho do
psicanalista, que certamente o singulariza frente ao modelo institucional dominante,
marcado fundamentalmente pelo paradigma médico-psiquiátrico. Não porque não haja
transferência no contexto não-analítico, mas sim porque o psicanalista opta por trabalhá-
la, seja qual contexto o for, ao contrário de outras linhas terapêuticas.
Outro grande mérito freudiano que merece ser citado corresponde ao
apagamento das fronteiras entre normal e patológico, que se faziam tão nítidas no
discurso psiquiátrico. Já em A interpretação dos sonhos (1900/1993), Freud identifica o
sonho como um mecanismo análogo aos fenômenos presentes na neurose e na psicose:
delírios, fobias, obsessões, etc. Nesse momento, Freud começa a constatar e postular
que o aparelho psíquico é, em qualquer condição, palco de um intenso conflito de
forças, e que através da ação da defesa ganha diferentes destinos e maneiras de
expressão desse conflito. Em Psicopatologia da vida cotidiana (1901/1993), os sonhos,
chistes, atos falhos e lapsos são entendidos finalmente como expressões desse conflito
inconsciente e que, sendo assim, está absolutamente presente no psiquismo dos ditos
“normais”.
As nuances entre, por exemplo, neurose, psicose e perversão, não devem
estabelecer-se do ponto de vista classificativo, ou seja, buscando suas características
independentemente da experiência clínica. É a relação analítica, e sobretudo a forma
como se estabelece a transferência, que permitem estabelecer essas diferentes nuances.
Segundo Birman (1989), na psicanálise “existiria menos uma preocupação nosográfica
do que uma postura de escuta sustentando o desdobramento diferenciado dessas
estruturas no plano inter-subjetivo” (p. 137). As diferentes organizações psíquicas,
pode-se dizer, não ganham autonomia como uma doença em si, algo que poderia ser
exteriorizado da clínica, pois dependem intrinsecamente da relação analítico-
transferencial. Na psicanálise, não pode-se depreender essa doença e estabelecer sua
universalização, o que corresponde a uma importante característica do modelo
sintomatológico, como vimos.
Por fim, as noções de cura e doença em psicanálise também destoam das
concepções secularmente assumidas pelo modelo médico. Enquanto que o médico
objetiva extirpar a doença e, dessa maneira, reestabelecer a condição de saúde que a
precedia, isso não é possível nem sequer almejado na relação analítica. Nesta, a
condição anterior à doença é justamente aquilo que culminou na situação atual e
35
portanto não é o reestabelecimento a uma situação anterior que a análise propõe. Nas
palavras de Mezan (2006):
A atividade psicanalítica se distingue de todo e qualquer projeto médico pela simples razão de que este visa à ‘restauração da saúde’, isto é, à eliminação dos fatores nocivos que desencadeiam uma doença, e o retorno ao statu quo ante. Nada mais distante do projeto analítico, em que a associação e a interpretação não podem ser reduzidas a restauração alguma, pois o statu quo ante conduziu justo à situação problemática em que se encontra o analisando (p. 160)
Para pensar o trabalho psicanalítico, evocamos novamente Joel Birman (1996),
que pensa a clínica psicanalítica como uma estilística da existência. Grosso modo, o
paciente em análise deve dar-se conta do desamparo que o percorre de fio à pavio
(condição que denomina como feminilidade, ou seja, ausência de qualquer referência
fálica), e frente a isso, criar um estilo para si, uma maneira singular de existir no mundo.
Essa idéia representa, certamente, um contraponto à noção de cura vigente no
pensamento médico-psiquiátrico.
Por tudo o que pincelamos até agora a respeito da clínica psicanalítica –
especialmente na sua relação com o discurso médico-psiquiátrico –, não seria um
exagero afirmar que a psicanálise representou, na virada do século XIX ao XX, um forte
contraponto ao discurso cientificista e ao homem da razão do Iluminismo; para tanto,
Freud precisou reverter significativamente a lógica psiquiátrica, que estava muito mais
identificada ao projeto racional da modernidade.
A própria expulsão da loucura do universo da razão, sendo reduzida à condição
de falha e não de verdade (como opera a psicanálise), permite a nós compreender o
lugar social que ocuparam psiquiatria e psicanálise: a primeira, um dispositivo que fez
valer sobretudo o racionalismo, e a segunda uma abertura para o campo da desrazão,
deslocando o sujeito para o campo do inconsciente e do pulsional, apostando na loucura
como uma forma de verdade e sendo a clínica um dispositivo de escuta e de articulação
dessa verdade, na tentativa de produzir um sentido.
Pois bem, passaremos agora a discutir a especificidade da clínica psicanalítica
no campo das psicoses, sintetizando algumas das contribuições freudianas e pós-
freudianas.
Como sabemos, Freud nunca exerceu a clínica com pacientes psicóticos. Em
certos momentos, chegou até a afirmar que esses pacientes não se beneficiariam pelo
36
método psicanalítico, pois não poderiam desenvolver a neurose de transferência
necessária ao processo, permanecendo sua libido investida no próprio eu.
Ao mesmo tempo, desde o início de sua produção, Freud indicava que não era
somente nas neuroses que havia um saber do sujeito sobre si próprio, portanto o
sintoma não seria algo a ser extirpado e sim decifrado, mas também nas psicoses havia
um saber, uma verdade. Os delírios – assim como sonhos, lapsos, atos falhos, chistes ou
conversões histéricas – não seriam aberrações desprovidas de significação, mas
justamente a expressão dessa verdade do sujeito, que poderia ser alcançada através da
relação transferencial (Birman, 2001).
Portanto, quase paradoxalmente, a construção freudiana foi progressivamente
permitindo uma nova escuta do psicótico, bem distinta daquela empreendida pela
psiquiatria – isso porque, como afirmamos, os pressupostos psicanalíticos implicavam
em uma abertura para a desrazão, e sendo assim, nada mais expoente da desrazão que a
própria experiência da loucura.
O texto freudiano Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia
(dementia paranoides) descrito autobiográficamente (1911⁄1993), mais conhecido
como “O caso Schreber”, foi o marco de entrada definitivo da Psicanálise no campo das
psicoses – ainda que as condições para tal alcance já vinham sendo assentadas nos anos
anteriores.
Não à toa, o texto não foi bem recebido pela psiquiatria da época, pois a
principal idéia proposta ali por Freud é a de que o delírio é uma tentativa de cura (e
aqui cura não é colocada no sentido médico, como vimos); na acepção psiquiátrica, o
delírio seria por excelência o representante da condição patológica do sujeito, sua
inadequação absoluta à ordem racional. Para Freud, o trabalho delirante permitiu que o
quadro de Schreber se estabilizasse, podendo assim sair de uma internação de nove
anos, retornar ao convívio social e retomar suas tarefas de vida.
Schreber passou por uma primeira crise, e foi internado na clínica do Dr.
Flechsig durante seis meses, aparentemente com um quadro de intensa hipocondria.
Retomou suas atividades e, pouco tempo depois de ser nomeado presidente do Superior
Tribunal, teve sua crise mais aguda, com seguidas tentativas de suicídio, agressões ao
médico (que seria para ele um “assassino de almas”), pensamento confuso, enfim, um
verdadeiro doente dos nervos, como se definia (Freud, 1911⁄1993).
Tempos depois, já na clínica do Dr. Weber, Schreber passou a apresentar
mudanças subjetivas significativas: demonstrava interesse pelos fenômenos da ciência e
37
cultura, tinha idéias e pensamentos ricos, coerentes e lineares, com boa memória e
lógica de raciocínio. Não obstante, na descrição de Weber, tinha um núcleo patológico
fixado, que não condizia com a realidade objetiva, que era um delírio paranóico
complexo e que formava um sistema completo (Freud, 1911/1993).
Para Freud, esse delírio complexo e articulado que Schreber desenvolveu foi o
que o permitiu curar-se, ou melhor, voltar a viver no mundo de maneira possível. Antes,
o jurista pensava que era seu médico (Fleschig) que tentava transformá-lo em mulher, o
que o aterrorizava; com o delírio plenamente construído, essa tentativa era obra de
Deus, proveniente do plano divino, e dessa maneira lhe seria possível viver no plano
mundano. Segundo Tenório (2001), “foi o trabalho continuado de elaboração delirante
que modificou o que antes era uma maldade perpetrada contra ele em uma iniciativa
divina, harmônica com a ordem das coisas e com seu bem-estar pessoal” (p. 82).
Poderíamos ir longe em Schreber, o que não caberia exatamente às intenções de
nossa pesquisa. No entanto, parece-nos precioso destacar que, mesmo Schreber tendo
conseguido articular uma maneira de estar no mundo satisfatoriamente, seu médico, a
esse tempo, resistiu imensamente à conceder-lhe a alta, em função do delírio que
apresentava – mesmo que esse não prejudicasse seu lugar no convívio social. O
pensamento do Dr. Weber, pode-se dizer, traduz um pensamento da psiquiatria daquele
contexto, em que esse núcleo delirante consistia em algo da ordem do patológico e que,
dessa maneira, deveria ser extirpado.
Extirpar esse delírio seria destituir qualquer possibilidade de estar no mundo
para Schreber, mas seria muito difícil para essa psiquiatria reconhecer essa faceta
positiva do delírio que, mesmo incoerente com a razão objetiva, tinha uma função
restauradora para o sujeito que é por ele acometido.
O não-reconhecimento desse movimento curativo do delírio pela psiquiatria
estaria, segundo Birman (2001), baseado no próprio discurso científico pelo qual ela se
fundamenta. Qualquer produção que não possa ser reconhecida e compartilhada
universalmente, no paradigma racionalista, representaria uma antiverdade, como, por
exemplo, um delírio.
De volta ao mundo, Schreber conseguiu a publicação de suas memórias,
defendendo-as de maneira estupenda frente à ordem judicial, e sempre reconhecendo a
existência de seu delírio.
Na psicanálise, o delírio, portanto, ocupará um lugar muito distinto do modelo
médico-psiquiátrico, podendo ser um movimento restaurador do sujeito e de sua
38
possibilidade de estar no mundo, por mais que não tenha qualquer sentido aparente à luz
da razão. Não se trata de acreditar piamente no delírio, como se de fato Schreber fosse
ser transformado em mulher por Deus, mas sim em apostar que isso representa uma
verdade singular daquele sujeito, uma construção dele sobre si que lhe permite enlaçar-
se no social, enfim, realizar uma obra, enquanto a Psiquiatria tenderia a identificar esse
gesto com o que Foucault denominou ausência de obra (Foucault, 1972/2007).
Não só na paranóia de Schreber, mas também na esquizofrenia (e, como vimos,
em qualquer sintoma neurótico), a equação do sintoma como forma de verdade a ser
decifrada segue valendo. Mesmo o delírio esquizofrênico sendo estilhaçado, totalmente
invadido pelo horror do Real e muitas vezes assustador para nós que o escutamos, é
portador de verdade e sentido; assim, caberá ao analista suportar esse caos, escutar e
ajudar o paciente a decifrar esse tal sentido, absolutamente singularizado na história
desse sujeito.
Portanto, observamos que o sintoma no discurso psiquiátrico é compreendido
sobretudo como doença, como uma anomalia no corpo, à ser extirpada ou reduzida.
Nesse sentido, a fala do paciente é examinada à luz dos critérios de verdade ou erro, ou
seja, se o que diz possui correspondência com a realidade externa, ou se destoa dela
(Birman, 1991). No campo da loucura, essa posição se radicaliza: frequentemente o
profissional de saúde mental tenta convencer o paciente dessa incongruência entre seu
pensamento e a realidade objetiva. Isso é coisa da sua cabeça, dizia uma das terapeutas
à meu paciente de Acompanhamento Terapêutico na ocasião daquela internação,
quando ele a relatava algumas de suas vivências (factuais ou não, pois isso não o é
relevante na escuta psicanalítica).
Claro que, de certo modo, a psiquiatria de hoje não é a mesma que a do início do
século XX, e não precisamos enxergar com maus olhos certos avanços na
psicofarmacologia, por exemplo. No entanto – e isso vai de encontro também com o que
postulamos no subtítulo anterior –, essa significação da produção delirante como doença
não só permanece, como inclusive foi radicalizada através dos recentes avanços
neurocientíficos. E é por esse motivo que vale atualmente resgatar o discurso
psicanalítico na sua radicalidade, a saber, da compreensão da loucura como uma forma
de verdade que ganhará significação dentro da história do sujeito.
Antes de prosseguir, vale ressaltar a importância de algumas contribuições pós-
freudianas à clínica das psicoses. Diversos analistas lançaram-se à prática terapêutica
39
com esses pacientes, e essa experiência clínica favoreceu uma construção teórica e
metodológica que amplia as elaborações freudianas.
D. W. Winnicott, por exemplo, avançou significativamente na compreensão das
patologias pré-edípicas, aquelas que remetem a vivências muito primitivas no
desenvolvimento do bebê (ou criança), e que portanto mobilizam defesas igualmente
primitivas. Como em Freud, a psicose em Winnicott não é a ruptura com a realidade,
mas sim a defesa mobilizada em função dessa ruptura.
Sabemos como as condições ambientais são, para Winnicott, absolutamente
fundamentais para o desenvolvimento do sujeito. Um primeiro momento de relação de
dependência absoluta entre mãe e bebê é necessário, seguido de momentos de ilusão,
atividade criadora em que o bebê sente que o mundo corresponde ao que fantasia e, em
seguida, a necessária desilusão. Nesse processo, desenvolve-se gradativamente uma
certa autonomia, e um certo eu organizador do sujeito. Para que esse desenvolvimento
se dê, é fundamental o suporte materno (ou de seus substitutos), para que se possa ter
uma vivência de razoável segurança e continuidade.
Quando isso não se realiza, e o bebê fica suscetível à vivências de intensidade e
ansiedade extrema, o incipiente psiquismo acaba defendendo-se como pode, procurando
assegurar sua sobrevivência – tornando-se, inclusive, aversivo aos contatos ambientais.
Como não há um eu formado, as defesas mobilizadas são de caráter psicótico, por
exemplo: retorno a um estado de não-integração, despersonalização, perda do senso de
realidade (regredindo ao narcisismo primário), e dificuldade para relacionar-se com os
objetos (Ribeiro, 2007).
O trabalho que Winnicott propõe com esses pacientes é, como era de se esperar,
pautado na transferência. O analista deve suportar essa convocação transferencial do
paciente para um estado de não-diferenciação, e através de experiências de segurança e
continuidade que podem ser proporcionadas, ir progressivamente inserindo a necessária
diferenciação (Ribeiro, 2007). Na transferência, retoma-se o primitivo e oferece-se uma
nova vivência, permitindo uma retomada do desenvolvimento subjetivo do analisando.
A escola francesa de psicanálise também foi fundamental na construção e
teorização da clínica das psicoses. A partir da formulação do estádio do espelho
(Lacan, 1949/1998), e da constituição do sujeito que dele advém, pôde-se pensar a
gênese e as vicissitudes do fenômeno psicótico, onde a relação mãe-bebê não seria
barrada através da interdição paterna: haveria a forclusão (expulsão total) do
40
significante Nome-do-Pai, impedindo sua ascensão ao registro simbólico, o que em
última instância impediria o sujeito de ocupar um lugar desejante.
Novamente, estaria em jogo nas psicoses um mecanismo de defesa, nesse caso o
da forclusão, ao invés do recalque neurótico ou a negação perversa. A psicose
representaria, paradoxalmente, o lugar que lhe foi designado pelo outro como sujeito e a
possibilidade de rebelar-se desse lugar através do delírio. “A psicose será a reação do
sujeito ao lugar que lhe foi destinado, acomodação e insurreição possível” (Ribeiro,
2007, p. 122).
O trabalho clínico, evidentemente, não propõe a dissolução do delírio, já que
este poderia representar um movimento de singularização, sendo assim um primeiro
passo para estabelecer uma comunicação entre ele e o mundo – um discurso dirigido ao
outro, levando em conta o interlocutor (Ribeiro, 2007).
Em O psiquiatra, seu “louco” e a psicanálise, Maud Mannoni (1971)
simultaneamente realiza uma crítica às instituições psiquiátricas tradicionais e sugere –
a partir de Lacan – as características do trabalho psicanalítico com a psicose. Mannoni
frisa a posição de escuta e não-saber que o analista deve ocupar, em oposição ao saber
do qual o psiquiatra geralmente se investe; a proposta anti-psiquiátrica, no seu entender,
assemelha-se significativamente à psicanalítica, ao deixar a loucura falar.
Evidentemente, para ela a problemática psicótica se encontraria na relação do sujeito
com a palavra, com a linguagem, e nesse sentido uma instituição deve oferecer espaços
onde o delírio pode ser acolhido (a autora cita as comunidades terapêuticas de Ronald
Laing) e onde o paciente possa violar as regras familiares (que o alienaram, prenderam-
no ao registro imaginário) sem ser repreendido.
Essas contribuições e a de outros analistas, como Sandor Ferenczi e Melanie
Klein, não poderão ser exploradas nesta pesquisa, apesar da relevância que possuem no
campo psicanalítico das psicoses. Fica aqui somente uma menção ao leitor que quiser se
aprofundar no tema.
Pois bem, cabe agora levantar uma questão antes de passarmos ao próximo
ponto. Se afirmamos que a psicanálise representa, desde o início do século XX, um
importante contraponto ao discurso psiquiátrico hegemônico – e se reconhecermos que
ela desenvolveu-se consideravelmente, formando uma grande quantidade de analistas e
instituições de pertinência – por que motivo ela não foi eficiente, já naquele tempo, na
desconstrução do asilo e do olhar psiquiátrico sobre a loucura? Ou seja, se ela alcançou
tanto prestígio e poder nos âmbitos da ciência e da cultura, por que não protagonizou
41
uma transformação institucional profunda no campo da saúde mental, sendo esse feito
realizado somente a partir dos movimentos de reforma psiquiátrica?
Essa questão é complexa e de difícil resposta. No entanto, pode-se identificar um
processo que, sem dúvida alguma, produziu marcas significativas nos modos de
inserção da psicanálise nas instituições psiquiátricas. Diversos autores trabalham a idéia
de que a psicanálise sofreu um intenso processo de institucionalização – também
denominado como psiquiatrização ou psicologização da psicanálise –, onde a
radicalidade da proposta psicanalítica sucumbiu aos referenciais psiquiátricos, em
função de sua aceitação mais ampla no meio social e científico; com isso, a psicanálise
teria, no campo da saúde mental, reproduzido o modelo psiquiátrico, virando do avesso
a proposta freudiana, mas ao mesmo tempo falando em nome dela (Birman, 1989;
Castel, 1978b; Bezerra Jr., 1992).
Nesse sentido, a psicanálise acabou recuperando critérios psiquiátricos como o
de cura, com limites bem definidos entre saúde e patologia, ou mesmo utilizando a
teoria psicanalítica com o viés de diagnóstico, no maior estilo psiquiátrico. A escuta da
atenção flutuante, sempre aberta ao inédito, sucumbiu a uma escuta já carregada de um
referencial, onde o sujeito ficaria inevitavelmente preso a uma categoria nosográfica.
Segundo Bezerra Jr. (1992),
O processo de psicologização da psicanálise, tantas vezes criticado como agente de esterilização, manifesta-se frequentemente dessa forma: transformando o que deveria ser uma escuta aberta numa bateria de frases e palavras que acaba por reduzir qualquer experiência de um psicótico a uma meia dúzia de definições já conhecidas de antemão (p. 33).
Essa esterilização, portanto, corresponde à perda da radicalidade da proposta
psicanalítica em função de sua aceitação mais ampla no contexto institucional e social.
As associações psicanalíticas são frequentemente entendidas como as agentes que
propiciaram essa reaproximação entre psiquiatria e psicanálise, pois preocuparam-se
sobretudo com a hegemonia do poder, disfarçando-o sob o discurso do saber (Ferraz,
2002).
Não obstante, foi no andar do século XX que os efeitos da institucionalização
puderam sentir-se à prática psicanalítica. Sem dispor de medicamentos muito eficientes,
a psiquiatria adotou a psicanálise como um importante referencial para construir seus
primeiros manuais e estabelecer critérios diagnósticos, até que a psicofarmacologia a
substituísse - o que corresponde a um processo recente.
42
Efetuou-se um certo conluio entre psicanálise e psiquiatria, de maneira que o
pensamento psicanalítico serviu, muitas vezes, de subsídio para uma prática asilar de
tratamento. A doença era legitimada a partir do quadro referencial psicanalítico.
Essa prática só pôde ser criticada e transformada, sobretudo, a partir dos
movimentos de reforma psiquiátrica desde os anos 50. Como veremos, isso possibilitou
uma nova entrada da psicanálise às instituições psiquiátricas, que não o caminho do
alienismo.
III. A atenção psicossocial
O conceito de atenção psicossocial nos fornece um bom referencial para pensar
a clínica no paradigma da reforma psiquiátrica. Segundo Tenório (2001), a atenção
psicossocial pode ser definida como “o conjunto de dispositivos e instituições que
fazem com que o cuidado em saúde mental tenha uma incidência efetiva no cotidiano
das pessoas assistidas” (p. 55). Trata-se de um campo com diversos referenciais teóricos
(dentre eles a psicanálise), e com uma oferta diversificada de equipamentos de saúde
mental e serviços por eles prestados. Pode-se compreender essa nova proposta – não por
acaso – como uma transformação radical do modelo que imperou historicamente, onde a
psiquiatria seria o saber de referência fundamental.
Na atenção psicossocial, propõem-se novos olhares e novos cuidados muito
diferentes do modelo tradicional (sintomatológico), e onde certas noções muito
arraigadas na saúde mental são necessariamente repensadas ou, até mesmo, descartadas.
A compreensão da psicose como uma doença, por exemplo, é substituída por uma
condição de existência; as noções de tratamento e cura são recolocadas à luz da
autonomia; a loucura, geralmente silenciada nas instituições, deve ganhar a máxima
expressividade possível e; a carreira do psicótico entre o ambulatório e a internação,
sempre de acordo com a intensidade dos sintomas, é rompida pela formulação de um
projeto terapêutico, pensado em direção à vida.
As novas referências em que se apóiam as práticas de atenção psicossocial
devem ser examinadas com um pouco mais de cuidado neste texto; mas antes, devemos
algum esclarecimento sobre sua origem e filiação.
Ainda segundo Tenório (2001), são três vertentes que fundamentam esse novo
modelo clínico na reforma psiquiátrica brasileira: o da psiquiatria democrática italiana,
da psicoterapia institucional francesa e da reabilitação psicossocial. Esta última, mais
43
aceita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não se relaciona a uma experiência
específica de transformação institucional – como foram a francesa e a italiana –, mas
teria a questão da existência como fundamento, de modo que tratar seria “ajudar a
recuperar a competência social” (Tenório, 2001, p. 54). Apesar de seu caráter
eminentemente pedagógico, a ênfase no aspecto da existência ergueria a reabilitação
psicossocial a um plano importante na fundamentação do campo da atenção
psicossocial.
Mas, certamente, foram as experiências francesa e italiana que exerceram maior
influência sobre nossa reforma psiquiátrica, e consequentemente sobre a clínica. Não se
trata aqui de confrontar as duas e em seguida eleger um modelo, como muito se fez e
ainda se faz no campo da reforma, mas de observar que ambas trouxeram riquíssimas
contribuições para a atenção psicossocial, e ambas tem suas insuficiências.
Boa parte dos nossos serviços, na atualidade, que estão alinhados com o modelo
da reforma, buscam articular essas duas contribuições com os desafios e possibilidades
do contexto brasileiro; dessa maneira, não são a transposição de um referencial para
outra realidade, nem tampouco renegam as contribuições que esses modelos podem ter
para nós.
Como mencionamos no primeiro capítulo, a vertente italiana propõe a
desinstitucionalização, sendo essa instituição a própria doença mental e não somente o
hospital psiquiátrico. A psiquiatria teria seu olhar voltado somente para a doença, sendo
o isolamento uma das estratégias privilegiadas de observá-la e tratá-la. Dessa maneira, o
sujeito doente seria forçosamente esquecido nessa clínica, em função do protagonismo
da patologia.
A psiquiatria democrática reverterá a lógica, colocando a doença entre
parênteses e trabalhando com o sujeito, em especial na sua articulação com o campo
social. Entende-se o sujeito como cidadão, e trabalha-se para que ele possa exercer seu
papel ativo na sociedade: no lugar do tratamento psiquiátrico strictu sensu, procuram-se
criar possibilidades de trabalho, entretenimento e moradia para os usuários.
Portanto, se há uma desconstrução da idéia de doença mental, também se
desconstrói a clínica, já que ela se ofereceria como solução a esse fato que é construído
socialmente e institucionalizado: a doença. Porém, isso não significa que a psiquiatria
de Trieste tenha abolido a clínica, e sim que ela foi radicalmente transformada, a ponto
de se tornar totalmente dessemelhante à clínica médico-psiquiátrica.
44
Mencionamos no início deste capítulo que o termo clínica evoca remete a um
modelo onde o paciente é passivo frente aos cuidados que recebe. A clínica, para o
movimento italiano, está justamente nesse protagonismo dos usuários, na postura ativa
que ocupam frente ao tratamento. A clínica, quase paradoxalmente, não deveria ficar
restrita à dimensão tradicionalmente clínica (Amarante, 2003), privilegiando-se os
movimentos em direção ao espaço social.
Os alcances conquistados por essa desinstitucionalização e construção de uma
cidadania ativa são absolutamente louváveis, permitindo à loucura um lugar
absolutamente inédito e que prescinde de qualquer hospital psiquiátrico.
No entanto, a opção de uma clínica que se faz principalmente através do
protagonismo social, subvalorizando dispositivos como os de psicoterapia individual,
grupal ou familiar, gera uma certa dificuldade para o modelo, que acaba tendo que
recorrer pesadamente à estratégias psicofarmacológicas. Vejamos isso no relato de Jairo
Goldberg (1994), a partir de sua visita à Trieste em 1991 (tempo em que Basaglia já
havia falecido):
Nota-se uma dificuldade em lidar com os usuários que nitidamente apresentam um quadro psiquiátrico: confusão, delírios e alucinações. Parece que a equipe tende à redução de todos os casos a um mesmo problema psiquiátrico, medicando a todos com altas doses de psicofármaco, geralmente intravenoso (p. 85).
Outro colega4, com relação ao estágio que realizou em Trieste, chegou à
conclusão semelhante a partir de sua experiência. Observou que, a certo tempo, a
atividade laboral dos usuários era interrompida por um funcionário que dizia “Hora da
terapia!”. Essa era justamente a hora em que os usuários tomavam a medicação e, em
seguida, voltavam ao trabalho; não se tratava de algum tipo de psicoterapia, como
poderíamos imaginar.
De certa maneira, pode-se entender a opção tomada por Basaglia e seus
companheiros. A psicanálise italiana, no momento da desinstitucionalização, já se
assemelhava bastante à psiquiatria; os psicólogos, em geral, estavam muito
identificados com os hospitais psiquiátricos italianos – em Trieste, boa parte deles
trabalharam no manicômio local.
Portanto, consideramos que a psiquiatria democrática italiana protagonizou uma
transformação extremamente importante no campo da saúde mental, fornecendo
4 Martin Aguirre, em comunicação pessoal.
45
estratégias e dispositivos muito valiosos para a construção de nossos serviços. Mas,
como toda experiência, tem suas imperfeições, como o abuso do psicofármaco em
detrimento do uso da palavra, fato que não é característico do modelo francês e que
examinaremos agora.
Como vemos a partir da experiência paradigmática de La Borde, a psicoterapia
institucional também propõe uma terapêutica ativa, onde os psicóticos participam
vigorosamente do cotidiano e da construção da instituição. Participam de todas as
assembléias, propõem e conduzem os ditos ateliês, trabalham através de cooperativas,
etc. Até aí, não estariam postas diferenças gritantes frente ao modelo italiano, exceto
pelo ênfase dada ao próprio espaço institucional, transformando-o em recurso
terapêutico ao invés de aboli-lo.
A característica que de fato singularizaria a psicoterapia institucional seria,
segundo Goldberg (1994): “a de considerar a prática a instância terapêutica por
excelência no interior das instituições psiquiátricas” (p. 66), sendo prática entendida
como “uma rede de relações terapêuticas (transferenciais) que envolve os indivíduos no
movimento permanente de produção da instituição – só ela é capaz de fazer emergir [...]
a psicose” (p. 66-7).
A instituição, portanto, deve-se construir em função da psicose, para acolher e
trabalhar aquilo que há de específico nessa condição de existência. Trata-se de
reconhecer que o psicótico apresenta determinada características que precisam ser
contempladas pelo espaço institucional, além de outras faces da loucura (muito mais
produtivas) que só podem aparecer a partir de determinadas condições.
Para pensar e implementar a articulação entre o sujeito psicótico e a instituição,
a psicanálise apresenta-se como ferramenta de suma importância. Em um seminário
proferido em La Borde, Oury (1988⁄1989) sugere que a oferta de atividades da
instituição se constrói a partir da maneira com que o psicótico transfere. A transferência
na psicose é dissociada, pois o sujeito é capaz de investir objetos das mais variadas
ordens, e desinvestir com a mesma facilidade. Dessa maneira, La Borde oferece a
possibilidade de inúmeros ateliês e oficinas processarem-se ao mesmo tempo, e a
possibilidade deles perenizarem e se dissolverem está dentro do enquadre. Quando não
há mais investimento, passa-se a uma nova atividade; o que caracteriza a instituição
como um lugar de muito movimento e inovação.
O modelo clínico da psicoterapia institucional, portanto, constrói a instituição a
partir da especificidade da psicose, e desse modo são valiosos certos conceitos
46
psicanalíticos. Jean Oury vai além, propondo que, se abrirmos mão desses conceitos, o
trabalho pode aproximar-se de práticas muito características dos modelos asilares:
Se não levarmos em conta os conceitos como o inconsciente, a transferência, a pulsão [...] escorregamos rapidamente para uma organização de serialidade, com uma hierarquia medonha e no fim das contas uma organização concentracionária (1988⁄1989, p. 12).
Portanto, esse referencial clínico do qual a psicoterapia institucional não abre
mão marcará uma diferença notável em relação ao modelo italiano. Para tratar a psicose
é necessário, antes de tudo, analisar a instituição, e os fenômenos centrais identificados
pela psicanálise estarão atravessando todas as relações institucionais.
A partir de vários relatos, podemos identificar que La Borde esteve sempre
articulada com as cidades próximas, estabelecendo relações de troca materiais e afetivas
(Goldberg, 1994; Guattari, 2004). No entanto, não se deve desdenhar o fato do
estabelecimento estar muito distante, criando uma espécie de microssociedade cujo
funcionamento independe significativamente do resto. Por isso, a psicoterapia
institucional sofreu imensas críticas, sobretudo dos italianos, cuja prática privilegiava a
relação dos usuários com os ditos normais.
É a partir das contribuições e imperfeições das experiências supracitadas que a
atenção psicossocial será construída. Muitos são os equipamentos e dispositivos que se
constroem, cada qual com suas nuances e mais ou menos identificadas com o modelo
francês ou italiano. Aqui, vamos nos ater ao modelo dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), mas sem negar o papel protagônico dos outros serviços, como
Centros de Convivência, Moradias-assistidas, etc. Essa indicação se faz necessária,
principalmente porque se observa na reforma psiquiátrica brasileira mais recente um
processo de capsização da saúde mental, em que esse dispositivo se sobressai, apagando
o resto da rede.
Vejamos, então, qual é o modelo clínico presente nos CAPS de nosso país.
Como mencionamos, o primeiro CAPS foi criado em 1987, dirigido por Jairo Goldberg,
um psiquiatra e psicanalista que esteve em contato com as experiências de Trieste, La
Borde e Setúbal (Portugal) nos anos anteriores (Goldberg, 1994).
A reestruturação dos modelos de atenção à saúde que se processava naquele
contexto em São Paulo não dava conta de um suporte diferenciado para os quadros
psicóticos mais graves, tarefa que o CAPS se ocupou de realizar. Um serviço que, a um
47
só tempo, compreendesse a patologia articulada com o contexto institucional, e que
oferecesse um cuidado singular ao sujeito, realizando uma verdadeira clínica da psicose
(idem).
Na sua estrutura, esse CAPS ofertou cuidados intensivos e a longo prazo a seus
pacientes, permitindo que eles pudessem vincular-se efetivamente à instituição
(inclusive produzindo-a), ao contrário da rotina de encaminhamentos sucessivos entre
os serviços – condição a qual os pacientes ficavam condenados, já que nenhum serviço
até então estava pensado em função da psicose.
O local foi organizado da maneira mais acolhedora possível – ao contrário das
características tradicionais dos serviços de saúde –, para permitir que a condição
psicótica se expresse em toda sua intensidade. Pode-se dizer, por essas razões, que
favorecesse o estabelecimento da transferência, ao invés da relação médica asséptica.
A medicação é receitada de maneira controlada e pensada caso a caso, de modo
que o psicótico possa participar ativamente do cotidiano, das atividades. Estas são
variadas, verbais e não-verbais, além de reuniões e assembléias em que todos
participam, bem como tempo de circulação livre pela instituição, que não são
entendidos como tempo ocioso e sim produtivo.
Para serem admitidos, os pacientes encaminhados passam por triagem e um
tempo significativo de permanência na instituição, inclusive participando das atividades,
condição necessária para observar se um vínculo é criado ou se outro lugar lhe
corresponderá melhor. Se admitidos, elabora-se um projeto terapêutico – absolutamente
singular e pensado frente às dificuldades e possibilidades daquele sujeito – e estabelece-
se um contrato de trabalho com o paciente, permitindo recontratos com o caminhar do
tratamento.
As atividades, para mencionar algumas, são oficinas de costura, fotografia,
pintura, expressão corporal... Além das diferentes psicoterapias: individuais, grupais,
familiares (pois a família é aproximada significativamente do tratamento). Adianto já
que, no âmbito dos CAPS, o que está em jogo nas oficinas não é somente a qualidade do
trabalho final realizado pelo psicótico, mas o trabalho subjetivo depreendido na tarefa
(Tenório, 2001), em que pode-se expressar o sofrimento e desenhar tentativas de
elaboração.
Não obstante, frente à constatação de uma melhora significativa na condição
clínica dos usuários, criou-se uma associação, denominada Franco Basaglia,
“introduzindo-se como verdadeira instância de implicação social da vida do paciente”
48
(Goldberg, 1994, p. 127). A associação ocupava-se de assessorar o CAPS no âmbito das
relações do paciente com a comunidade, para que, por exemplo, pudesse ingressar em
determinado trabalho ou vender suas próprias produções. Vale salientar que certos
usuários também participavam na gestão dessa associação, não sendo um órgão tutelar e
sim pensando a emancipação deles.
Na breve descrição que fizemos acima, pode-se observar claramente a influência
dos projetos estrangeiros que citamos. A preocupação com a instituição, entendo-a
como um local que “dá a cara” da patologia, podendo facilitar o aparecimento de faces
mais produtivas ou não, corresponde ao pensamento da psicoterapia institucional; o
manejo transferencial, cujo fenômeno se processaria em todo o âmbito da instituição,
também tem essa filiação. A articulação com a comunidade, com os serviços de saúde, o
investimento em um espaço extra-clínico (ou, talvez, da clínica ampliada), possui um
acento marcadamente italiano, ainda que esteja presente também em menor grau no
modelo francês.
Pois bem, o “CAPS Itapeva” tornou-se um modelo de referência, inclusive
formando diversos profissionais nesse novo paradigma da saúde mental. A portaria
CAPS de 2002 reconheceu este serviço como estratégico na atenção à saúde mental,
sugerindo a criação de inúmeros outros, e também vinculou-os ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Sua ação foi complexificada, de modo que os serviços se dividissem e
trabalhassem no território, e ocupassem um papel central na rede de atenção à saúde
mental. A missão dos CAPS ficou definida como:
Dar um atendimento diuturno às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias (BRASIL, 2004, p. 12).
Hoje em dia, ainda que existam certas características bastante uniformes em
todos os CAPS, pode-se observar que cada um estabelece ênfases específicas e opta por
estratégias que lhe são particulares, devido às características e formações de seus
profissionais, das características do território em que está estabelecido, etc.
Concluímos, portanto, que a clínica na atenção psicossocial assume uma face
radicalmente diferente da acepção do termo. Se lançarmos um olhar desde a psiquiatria
tradicional para a atenção psicossocial, suas práticas certamente seriam entendidas
como extra-clínicas, pois seu enfoque não é a doença e o tratamento que lhe
49
corresponde, mas o trabalho territorial, multiprofissional, pensando e repensando o
lugar e as características da instituição, mas também trabalho fora do setting tradicional,
articulando-se com a comunidade... Enfim, ampliando o trabalho em função do bem-
estar dos usuários, o que envolve movimentos amplos e muito exóticos ao trabalho
estrito com a doença.
Alguns denominam esse modelo como clínica ampliada, por localizar-se fora
das categorias tradicionais da clínica; nós, seguindo Tenório (2001), não vemos a
necessidade dessa diferenciação e manteremos o nome clínica, pois trabalhar como se
trabalha na atenção psicossocial seria verdadeiramente realizar a boa clínica, como
“atividade que se faz junto ao paciente, orientada pela singularidade de cada caso e pela
implicação ética do agente do cuidado” (p. 72).
Com o terreno preparado, podemos agora passar às discussões.
50
DISCUSSÃO
As entrevistas5 foram todas extremamente ricas e, felizmente, abordaram um
amplo leque de temas que se impõem cotidianamente ao trabalhador da saúde mental.
Há material significativo para tecermos a discussão que nos propusemos, a saber, das
vicissitudes do trabalho psicanalítico no dia-a-dia dos CAPS, sendo esse trabalho
enxergado de pontos de vista diferentes e pautado nas experiências de distintos CAPS.
Mais além do tema desta tese, a fala das entrevistadas percorreu assuntos
valiosíssimos, do ponto de vista de quem viveu e vive ativamente as transformações no
campo da saúde mental, como por exemplo: como os serviços de saúde foram
reorganizando-se progressivamente a partir dos anos 1980; como cada gestão do
município facilita ou dificulta essas transformações; como são as formas de
financiamento do CAPS; como as características da cultura contemporânea tem efeitos
na subjetividade e, consequentemente, nos campos do consultório privado e da saúde
mental; etc.
Do nosso ponto de vista, esses são temas absolutamente pertinentes para
qualquer trabalhador e pesquisador da reforma psiquiátrica, e devem ser discutidos por
todos nós. No entanto, desenvolver uma pesquisa acadêmica também é colocar-se
perante a castração, frente a nossos limites e impossibilidades; é impossível contemplar
todos esses temas, mas sim sublinhar sua relevância para que a discussão se projete em
outros âmbitos. Faremos aqui um recorte, privilegiando as falas referentes à prática
psicanalítica no cotidiano dos CAPS.
De início, vamos identificar aqueles conteúdos que correspondem à nossa
pesquisa na fala das três entrevistadas. Em seguida, caberá o trabalho de articulação
dessas idéias, inclusive relacionando-as a alguns elementos que discutimos nos
capítulos anteriores.
I. Com a palavra: as entrevistadas
Isabel Marazina é argentina, país onde realizou sua formação analítica e teve
suas primeiras incursões em instituições de saúde mental. Como sabemos, a Argentina
5 As entrevistas completas estão em anexo. A partir de agora, as citações entre aspas e sem referência a uma obra específica referem-se à fala dos entrevistados, e o leitor interessado poderá explorá-las em seu estado bruto no final da tese.
51
teve importantes experiências inovadoras em psiquiatria, mas que foram consumidas
poucos anos depois pela feroz ditadura militar. Já em São Paulo, com sua bagagem,
Isabel foi convidada a supervisionar algumas das primeiras equipes que buscavam
implementar um modelo inovador em saúde mental, como alguns Ambulatórios na
cidade de São Paulo – que depois se converteram em CAPS -, os NAPS de Santos e os
CECCOs. Atualmente, segue realizando o trabalho de supervisão clínico-institucional
com algumas equipes de CAPS.
Para tal trabalho, Isabel utiliza a psicanálise como um importante referencial – a
entrevistada ressalta conceitos e textos como as obras sociais de Freud, os quatro
discursos e a psicanálise em extensão de Lacan -, além da análise institucional. Esta
teoria, segundo ela, “ajuda a poder pensar, dentro, inclusive, da própria psicanálise, em
momentos em que o saber instituído faz obstáculo à possibilidade de produção de um
conhecimento singular, novo”. Nesse sentido, o trabalho de supervisão envolve a
dimensão clínica, mas contemplando os inevitáveis atravessamentos políticos que
podem prejudicar o trabalho clínico.
A esse respeito, Isabel afirma:
“se você não pode sustentar uma leitura do que é exigido pela instituição, como munícipe, como funcionário, como profissional dentro desse estabelecimento e separa o que são determinante políticas de determinante clínicas, você pode acabar fazendo política no lugar de clínica. Se você não entende que você tem que por uma barreira à demanda, para poder trabalhar e sustentar que o seu trabalho não se rege pelo critério de produtividade burocrático e, sim, pelo critério de produtividade clínica, por exemplo, você vai acabar respondendo à demanda institucional, de maneira cega e sem se dar conta que, dessa maneira, sua clínica fica absolutamente falseada”
Não obstante, Isabel aponta uma dificuldade que acaba fazendo-a privilegiar a
supervisão de caso, ou seja, sobre os casos clínicos que a equipe traz, no lugar de uma
“supervisão mais abstinente”. Isso porque há “uma dificuldade que é comum a quase
todos os lugares, [que] é essa defasagem entre o progressivo do dispositivo e o
regressivo da formação”. Em seu ponto de vista, na sua maioria os profissionais não têm
uma formação que corresponda ao trabalho que os CAPS se propõem a fazer, salvo em
algumas escolas de excelência. Enquanto o CAPS tem uma proposta complexa e
inovadora, que é de acompanhar o sujeito, de atender à “singularidade desse sujeito,
clínica e socialmente”, os profissionais chegam aos serviços com uma formação
atrasada, que corresponde a um modelo tradicional de saúde mental. Dessa maneira, a
supervisão acaba precisando cumprir um papel formativo, para diminuir essa
52
defasagem, e ater-se ao caso clínico é uma estratégia para aproximar o trabalho do
profissional e a proposta do equipamento.
Uma das características das pessoas formadas no modelo tradicional seria a de
que elas “estão acostumadas a se manejar em seu quadradinho, ou seja, não podem
pensar em um diagnóstico interdisciplinar, um diagnóstico em situação. E, portanto,
também não podem pensar estratégias que impliquem, em princípio, na complexidade
do campo”. A formação, assim sendo, não prepara para o trabalho interdisciplinar, tende
a restringir-se totalmente à especificidade da profissão, “em seu quadradinho”. No
entendimento de Isabel, “a primeira coisa que temos que pensar é que o campo da saúde
mental é um campo sempre multidisciplinar”.
Para a entrevistada, a psicanálise possui um lugar nesse campo multidisciplinar,
junto ao espaço de outros saberes. Isso em função da postura clínica em que o
psicanalista deve se colocar, que é antes de tudo uma postura de escuta. Para escutar, é
necessário despojar-se do saber e, a partir do que se compreende, construir saídas para o
sofrimento junto ao paciente; não há propostas prontas, ou de antemão. Nas palavras de
Isabel:
“a postura clínica implica uma série de questões. Em princípio, implica você suspender o seu saber, para poder escutar. E, fundamentalmente, certa clínica da escuta, implica para você se deslocar do lugar daquele que sabe e tentar construir, com o paciente, alguma possibilidade de entendimento e de estratégia para lidar com o seu sofrimento. Eu acho que isso é uma postura clínica. O método clínico não propõe, primeiro escuta e, depois, constrói. E reconstrói”.
Além disso, segue a entrevistada, a psicanálise está referida a “uma ética que nos
leva a um saber inacabado”, reconhecendo que nunca se sabe tudo, e que portanto os
outros saberes tem seu lugar na construção desse conhecimento. Por isso, alerta: deve-se
tomar cuidado, pois “não queremos que [a psicanálise] seja uma visão de mundo, não
queremos transformá-la em uma ideologia, senão perde potência”. Pois, como ideologia,
a psicanálise estaria posicionada muito mais como resposta do que como um saber
aberto e inacabado.
Por sua postura clínica de escuta e sua ética, a psicanálise estaria, portanto,
convocada a trabalhar na multidisciplinaridade. E segundo Isabel, essa é a maior tarefa:
“parece que o desafio da clínica psicanalítica nas instituições é se deixar atravessar
também por outros saberes”, o que seria diferente da prática no consultório.
53
Ser atravessada por outros saberes, porém, sem perder a especificidade da clínica
psicanalítica, que é essa clínica da singularidade. Nas suas palavras, temos que “ter
claro e certo que há uma clínica da singularidade – isso é a marca da psicanálise – que
pode ser implementada em conjunto, formando um campo interdisciplinar, que permita
pensar dispositivos que abranjam, em si, uma demanda maior”. No seu entender, essa
tensão entre a escuta do singular e a construção do coletivo precisa ser sustentada pelo
psicanalista no CAPS.
Nesse âmbito da construção do coletivo com o qual o CAPS se propõe a
trabalhar – tanto na interdisciplinaridade da equipe, como nas atividades dos pacientes e
na articulação com a comunidade –, a entrevistada aponta que a psicanálise de grupos é
um importante recurso a ser utilizado, do qual os trabalhadores andam afastados
ultimamente. “Mas não por uma questão de grupalizar para atender mais gente, senão
porque o grupo é um lugar privilegiado para você entender [e trabalhar] a demanda
social”. Em tempos de uma sociedade individualista e de mercado, o trabalho grupal
pode ir na contramão dessa ordem, justamente produzindo laço social. Isabel
exemplifica: “se você se propõe a fazer uma articulação com uma escola, a sua
capacidade de trabalho se exponencializa quando você trabalha com um grupo de
professores, não com um a um”. Portanto, faltaria essa formação mais próxima de um
entendimento e manejo grupal para os profissionais em CAPS, segundo a entrevistada,
o que novamente remete ao “regressivo da formação” que apontamos.
Outro tema que abordamos na entrevista diz respeito não só à psicanálise na
instituição, mas ela própria como instituição. Com relação ao próprio trabalho grupal na
psicanálise, por exemplo, Isabel aponta que os analistas sofreram, em grande escala, “a
deformação do ideário um por um”, em que o trabalho individual de análise se
sobressaiu totalmente em relação ao grupal. Pensar a psicanálise nas instituições hoje
envolveria uma prática mais voltada para o coletivo, como vimos acima.
Para a entrevistada, os próprios nomes de Freud e Lacan podem ser entendidos
como “homens de seus tempos”, no sentido de que estavam atravessados
inevitavelmente pelo tempo histórico em que viviam, o que refletia em suas teorizações:
o primeiro, por exemplo, teria uma posição em relação à mulher influenciada por seu
contexto e isso precisaria ser repensado atualmente; Lacan, por sua vez, admirou-se pelo
estruturalismo de modo a não conseguir sair dessa determinação. Por fim, Isabel afirma
que “é importante pensar que esta psicanálise nossa está atravessada também pelo ar dos
tempos”, o que a faz pensar que “nós estamos atravessados inevitavelmente pela
54
instituição psicanalítica”. Mas apesar disso, conclui afinal que “se a gente consegue
sustentar essa tensão entre o que nosso instituído psicanalítico nos demanda e o que
vem nos desafiar, creio que a nossa clínica pode ser muito mais rica”.
Novos tempos, novas subjetividades – a entrevistada menciona que, na sua
prática clínica na atualidade, acaba fazendo muitas intervenções de uma maneira que
“era impensável fazer na época de um sujeito freudianamente constituído”.
Para finalizar, vale mencionar algo de Isabel sobre a prática institucional em
relação à prática do consultório. No seu entendimento, sua “clínica de consultório tem
ganhado enormemente com o [seu] trabalho nas instituições. Não é o contrário”. E isso
se justifica pelo aprendizado na dita “construção do coletivo” que se pode protagonizar
nas instituições, desde que o analista tenha humildade e não chegue a elas querendo “ser
a voz da verdade”, investido de “uma espécie de soberba intelectual e teórica” – algo
que seria freqüente nos psicanalistas quando adentram as instituições.
Clarissa Metzger ingressou nos serviços substitutivos de saúde mental através
da prática de acompanhamento terapêutico. Como sabemos, o “AT” é um dispositivo
que advém justamente com a reforma psiquiátrica, como uma clínica cujo setting é o
próprio espaço da cidade. Frequentemente, articulam-se contratos entre acompanhante,
acompanhado e uma instituição de referência, como os CAPS, que se favorecem
amplamente desse dispositivo como parte do tratamento.
Junto a isso, Clarissa realizava sua formação como psicanalista e atendia em
consultório. Há alguns anos, trabalha como contratada em um CAPS, que possui a
característica peculiar de ser vinculado a uma instituição acadêmica. Essa especificidade
dá a ela o papel de supervisionar equipes de estagiários, além do trabalho habitual de
assistência aos pacientes.
A entrevistada aponta que essa função de assistência pode se dar através de um
olhar individualizado para o paciente, como em conversas nos espaços de convivência,
por exemplo. Mas, a peculiaridade do CAPS está, sobretudo, em realizar um trabalho
“calcado no grupal”: grupos terapêuticos de diversas propostas, oficinas, etc. À exceção
das situações que exigem um trato individual, busca-se trabalhar o grupo como um todo,
de maneira dinâmica e processual – já que, como aponta Clarissa, no CAPS há “um
entrecruzamento das atividades em que, às vezes, uma atividade que você fez um dia vai
rebater lá, no outro dia”.
A esse respeito das atividades na instituição, Clarissa menciona, por exemplo,
um grupo que fundou e coordenou cuja proposta é ler e produzir poesias, em que muitos
55
dos efeitos acabam aparecendo em outros espaços no decorrer do tempo. A mescla de
pacientes do intensivo e semi-intensivo, aliás, seria um dos componentes mobilizadores
dessa atividade, segundo a entrevistada.
Dessa forma, a instituição busca acolher os movimentos dos usuários de maneira
não-fragmentada, como um processo, para que no cotidiano do CAPS possam sentir-se
“os reflexos das atividades, das intervenções, dos acontecimentos”. Por outro lado, a
própria oferta de atividades é bastante heterogênea, o que é construído à luz da
transferência:
“a proposta é que [o CAPS] tenha [...] grupos muito heterogêneos, justamente pensando que os pacientes se vinculam a coisas totalmente diferentes, que a transferência é fragmentária mesmo e que um paciente vai ter uma transferência especial com um certo grupo e não tanto com outro”
Unidade do trabalho institucional contemplando a fragmentariedade da
transferência psicótica, portanto.
O tema colocado da transferência conduziu a entrevista imediatamente ao
assunto do lugar da psicanálise no trabalho institucional. Clarissa apontou que não
trabalha com a “distinção entre psicanálise e psicanálise aplicada”, como outros
analistas fariam. Sua posição é de que:
“psicanálise é uma teoria e, enfim, você faz uso dela para uma série de coisas, para entender acontecimentos da cultura, para o acompanhamento terapêutico, para o atendimento clínico em consultório e, também, para o atendimento e o trabalho institucional”
Dessa forma, não é o setting que determina se se está ou não sendo psicanalista –
Clarissa afirma que sua escuta “está aqui e está lá”, ou seja, no consultório e na
instituição. No entanto, o setting pode determinar a intervenção que irá ser feita, porque,
por exemplo, na instituição “você não tem um contrato de análise com aqueles
pacientes”, e por outro lado, nela “as coisas estão muito mais em cena” do que no
consultório, em que as intervenções são mais verbais. Portanto, a escuta é a mesma,
enquanto que as intervenções têm suas nuances de acordo com o enquadre.
Ao mesmo tempo, a própria referência à psicanálise pode ajudar a optar por
certas conduções clínicas e intervenções, e não por outras. O espaço permitido ao
delírio, exemplifica Clarissa, é muito distinto quando você o entende como sinal de
doença ou como tentativa de cura. Então, “ter essa escuta para as questões mais
56
delirantes, mais da singularidade”, irá marcar de certa maneira o trabalho psicanalítico
nos CAPS.
Outro aspecto no qual a psicanálise contribuiria diz respeito à direção do
tratamento. Clarissa evoca um caso clínico, famoso na literatura da reforma
psiquiátrica, onde a equipe do CAPS mobiliza-se intensamente para arrumar a casa de
um paciente que está absolutamente degradada. Após algumas tentativas, conseguem
convencer o paciente e arrumar a casa, mas pouco depois ela se encontra novamente na
mesma condição. O paciente dizia esperar uma indenização milionária do governo para
consertá-la e, enquanto isso não acontecesse, a casa precisava permanecer daquele jeito.
Ou seja, aquilo representava um movimento singular daquele sujeito, que era
insuportável para a equipe sustentar e imaginar que era possível viver daquela maneira.
“Talvez você tenha que aceitar que ele vai continuar vivendo de um jeito que você acha
muito difícil”, afirma a entrevistada, e conclui a esse respeito:
“pela via da psicanálise, da sua própria análise e da teoria psicanalítica, acho que você tem sustentação para suportar mais esse tipo de coisa e ter um pouco mais de discernimento no que lhe motiva a fazer certas intervenções”.
Portanto, a psicanálise (seja por qual via, análise pessoal, teoria ou escuta)
contribuiria para estabelecer uma direção de tratamento para o paciente na instituição,
segundo Clarissa.
Vamos escutá-la agora com relação ao trabalho da própria equipe: como
supervisora, Clarissa opta sobretudo pela discussão de caso, através das questões que os
estagiários vivem no trabalho e levam à ela – dificuldades, impasses, angústias. Já os
grupos são discutidos imediatamente após sua realização, buscando pensar e tornar
processual o que acontece, seguindo a idéia que mencionamos antes.
A equipe dos funcionários permanentes já realizou supervisão clínico-
institucional anteriormente, mas no seu entendimento, é uma equipe que possui esse
recurso de pensar-se em relação ao trabalho, procurando “discutir as situações de
equipe, as situações institucionais”, o que ajuda a “não cair em certos vícios
institucionais”. Essa postura da equipe está, para Clarissa, perpassada pela própria idéia
de inconsciente, afetando não só usuários mas também os próprios cuidadores. Segundo
ela, “tem coisas que vão escapar, [por]que o inconsciente tropeça, manca e a gente vai
ter que lidar com esse tropeços – e não só dos pacientes, também os nossos. E nem
sempre isso é fácil”. Essa característica da equipe, conclui, “colabora para uma postura
57
menos superegóica, em algum sentido, um pouco mais analítica, na hora em que a gente
se depara com as confusões institucionais”.
Clarissa também aborda a questão da multidisciplinaridade, como sendo
intrínseca ao trabalho do CAPS. Segundo ela, “o serviço de saúde mental, o CAPS, na
verdade, pela própria natureza de funcionamento, aquilo que ele se propõe a fazer, ele
precisa ser um lugar de encontro de várias teorias”. Além da psicanálise e a psicoterapia
institucional como referenciais, as questões médicas precisam ser contempladas, bem
como as da terapia ocupacional, etc. No seu entendimento, o psicanalista precisa estar
ciente disso, para fazer do CAPS “um serviço mais permeável a outras influências, para
além da psicanálise”.
Finalmente, falamos sobre a relação entre consultório e instituição: para
Clarissa, é importante se ter a clareza de que é psicanalista, mas que se está em “um
lugar onde a psicanálise é um dos discursos que está em jogo, não é o único”; já no
consultório, “o que está em jogo é a psicanálise, mais estritamente”.
Yanina Stasevskas, nossa última entrevistada, nos conta que seu interesse
profissional era trabalhar com movimentos sociais, desde a época da faculdade. Desde
aquele tempo, a psicanálise apresentou-se para ela como uma importante ferramenta
neste trabalho, e seu caminho foi justamente de buscar articulá-la com a esfera política.
Aproximou-se da saúde mental justamente porque, após graduar-se, era o campo
onde os trabalhadores estavam sustentando uma posição mais politizada e engajada
numa transformação social. Foi engajando-se nos serviços públicos, ao mesmo tempo
em que discutia as questões que se impunham no cotidiano junto a um grupo de
psicanalistas de formações distintas. Também manteve o trabalho de analista no
consultório desde que se formou, pois no seu entendimento isso lhe dava a
“oportunidade de ter uma precisão clínica maior”.
Quando o Hospital-Dia em que trabalhava converteu-se em CAPS, a
entrevistada foi convocada pela própria equipe para ocupar o cargo de direção, o qual
vem exercendo até a atualidade.
Yanina, de início, menciona os debates fervorosos em relação à psicanálise na
saúde mental, no momento em que a experiência de Santos se consolidava e os serviços
em São Paulo se territorializavam (gestão Erundina). Segundo ela, o pessoal de Santos
era “taxativamente contra a psicanálise”, o que constituiu “uma discussão muito rica”, e
não uma anulação de uma posição pela outra.
58
As leituras diferentes vão se compondo na psicanálise, segundo a entrevistada,
formando “uma espécie de colcha de retalhos”. Diferentemente das ciências de um
modo geral, a psicanálise permite uma leitura subjetiva da teoria, pois ela é apenas um
parâmetro entre o analista e o paciente: “a teoria, na psicanálise, é uma coisa muito
instrumental”. Dessa maneira, as discussões sobre esse tema, mesmo que venham de
posições marcadamente distintas, são produtivas e enriquecedoras para a entrevistada, e
a maneira pela qual o discurso psicanalítico se constitui permitiria essas diferentes
posições.
Já no trabalho em Hospital-Dia, Yanina estava inserida em uma equipe que
procurava trabalhar multidisciplinarmente. Para ela, naquela época “já se tinha um
pouco a convicção de que, em assuntos muito complexos, uma intervenção
multidisciplinar, de vários profissionais e vários discursos e vários saberes, eram
intervenções mais ricas”. Promovia-se “um campo de experiências mais rico para os
problemas vividos”. Ela mesma atendia como analista junto com uma psicodramatista e,
segundo ela, impunham-se questões do tipo: “como é que a gente podia trabalhar juntos,
se os pressupostos, os fundamentos teóricos e filosóficos eram tão diferentes”? No seu
entendimento, as diferenças são verdadeiras, mas a aliança é plenamente possível se
concorda-se com o projeto do HD como base comum de trabalho.
Outro desafio reconhecido pela entrevistada no trabalho interdisciplinar diz
respeito à linguagem utilizada. Seria impossível encontrar uma linguagem comum, mas,
na época do HD, utilizava-se muitas vezes o CID-9 (manual classificatório de tradição
médica), pois, apesar dos problemas, ele contemplaria a psicodinâmica, algo que teria
sido abolido no CID-10.
Quando da criação do CAPS, evidentemente, essa opção de trabalho em equipe
não só permaneceu, como se acentuou. Segundo Yanina, a própria definição de clínica,
daquilo que seria “o nódulo da clínica dos CAPS”, consiste em que “o dispositivo de
intervenção seja a interlocução com vários profissionais e que essa interlocução é
diferente e é percebida assim pelo paciente”.
Pois bem, identificamos pelas falas que, dentro das características desse modelo
de CAPS, muitas das estratégias utilizadas no tratamento derivam da psicanálise – ou
melhor, da articulação entre a psicanálise e os outros saberes. O contrato que se
estabelece entre o usuário e a instituição estaria nesse âmbito, pois se coloca no CAPS
de maneira absolutamente negociada com o paciente – e com a família – e é processual.
59
Na história manicomial, o contrato teria respondido a uma prática autoritária, e passa
agora a ser algo participativo.
A formulação de um projeto terapêutico é, para Yanina, outra marca do trabalho
no CAPS. A partir da triagem, ensaia-se um primeiro projeto; em função dos
movimentos do paciente na instituição, ele é repensado, podendo ser totalmente
reformulado. A marca – como na psicanálise – estaria na singularidade do projeto,
pensado absolutamente em função das características e possibilidades do sujeito em
questão. Mas, como afirma Yanina, “para a equipe, o [projeto] é multiprofissional”,
pensado desde os diferentes olhares.
Para Yanina, o conceito e o manejo da transferência têm papel fundamental no
trabalho do CAPS. Menciona ela que “o dispositivo [...] está centrado na questão
transferencial, porque é através da transferência que você consegue mover uma
mudança”. Ao citar um caso clínico, por exemplo, Yanina foi nos dando pistas a
respeito do trabalho em relação à transferência. De início, realizou-se “toda uma
campanha para ele [o paciente] se vincular, indiscriminadamente, com o CAPS”, em um
momento que pulava de instituição em instituição. Em seguida, o trabalho foi de
vinculá-lo às atividades, às quais ele não aderia; tentou-se implicar a família com o
CAPS; continuou-se procurando caminhos até que o acompanhamento terapêutico
apresentou-se como algo ao que ele aderia. Paralelamente, Yanina construía uma
conversa com ele, uma “conversa diferente”, que possibilitara a construção de uma
demanda de análise. Junto a isso, com o trabalho de ajuste da medicação e da assistência
social, alcançou-se resultados terapêuticos significativos, a ponto dele atualmente
prescindir totalmente do CAPS.
Segundo a entrevistada, enquanto que o modelo tradicional tem uma proposta do
fazer, ou seja, “de deter ou delírio ou terminar com as crises”, no CAPS “a grande linha
de abordagem do sujeito é psicanalítica”, onde se pensa “em um certo prognóstico sobre
a vida dele [do paciente], do que ele pode viver”. O tratamento seria parte importante –
inclusive contemplando as discussões psiquiátricas da medicação e da sintomatologia –,
mas há uma grande ênfase no dispositivo como um recurso de abrir para a vida.
Vincular-se a instituição, mas desenvolver uma autonomia que o permita desligar-se,
depender mais de relações exteriores ao tratamento. Nas suas palavras, pensa-se “muito
na questão da alta”, pois não desejam “capturar o sujeito”.
60
Por fim, Yanina falou sobre os limites e as impotências sentidas por ela e outros
trabalhadores no CAPS. Segundo ela, existiriam duas reais impotências – além de
outras menores, como as restrições impostas pela frágil formação de parte dos
profissionais. A primeira corresponde ao fato de que o projeto SUS para a saúde mental
não está totalmente implantado, e é impossível saber se ele será. Para ela, “não existe
uma vontade política tão forte o suficiente para, de fato, implantar”.
Esse entrave, de características mais políticas, tem efeito direto na clínica, no seu
entender, e por isso seria fundamental trabalhá-lo. Para Yanina, assim como a clínica
psicanalítica é uma ferramenta importante para trabalhar questões políticas maiores,
como os movimentos sociais, as questões políticas igualmente se impõem e podem ser
sentidos na clínica. Segundo ela, “quando a gente faz a clínica, todas essas discussões a
respeito do que está se processando, do que está acontecendo na Secretaria fazem parte
da clínica e intervém na clínica”. Portanto, no seu entendimento, clínica e política
influenciam-se mutuamente, definitivamente não sendo campos estanques.
Voltando às impotências, a segunda delas relaciona-se com a seguinte frase da
entrevistada: “na verdade, nós não temos a chave do mistério que é a psicose”. Para ela,
sabe-se bem pouco sobre esses quadros psicopatológicos com os quais o CAPS trabalha,
sendo um limite, por exemplo, para pensar “na questão do que isso acarreta de
sofrimento para a pessoa viver, na nossa sociedade, especialmente”. Por outro lado, há
uma ambigüidade nisso, conclui Yanina, porque essa é justamente a posição do analista
frente a qualquer paciente, onde nada se sabe à não ser o que este resolver lhe contar.
Nas suas palavras:
“toda vez, quando você, como analista, sentar diante de uma pessoa, por mais que você tenha estudos e preparo e por mais que você tenha digerido a teoria, você não sabe a respeito do sujeito, absolutamente nada, a não ser aquilo que o sujeito resolver lhe contar”.
Essa valiosa afirmação nos convoca para a articulação das falas entre si e com as
questões que propusemos no capítulo introdutório, no momento em que já trouxemos
muito daquilo que os entrevistados disseram sobre nosso tema de pesquisa.
II. Articulando as falas e retomando o problema de pesquisa
61
Uma das perguntas que nos fizemos na introdução, e que foi uma das referências
em nossas entrevistas, questionava qual seria a contribuição da formação psicanalítica
na atuação em CAPS para esses entrevistados, se é que contribui. Poderíamos ter
escutado, por exemplo, que o profissional restringe o pensamento analítico ao
consultório, sendo a instituição um campo de outra ordem, ao qual a psicanálise não
poderia ser empreendida.
Não obstante, pelo menos na visão dessas três entrevistadas, a psicanálise está
tanto no consultório quanto na instituição, mesmo que cada um apresente suas
especificidades e que abordaremos mais adiante. Nenhuma delas abdica de utilizar a
psicanálise no âmbito do CAPS, pois não é o consultório que delineia os limites de sua
utilização.
Não seria ousado dizer que a figura do psicanalista está frequentemente
associada ao trabalho no consultório. Afinal, foi dessa maneira que a psicanálise
começou; boa parte das instituições formadoras segue privilegiando esse campo de
atuação, e; a própria representação do analista na cultura – como, por exemplo, no
cinema – se dá pelo trabalho no consultório. Uma professora, ao falar sobre sua
formação analítica, menciona que as primeiras aulas que assistiu foram sobre como
montar uma sala – onde posicionar o divã, cadeiras, etc.6
Longe de desmerecer o trabalho em consultório, trata-se aqui de salientar uma
outra posição – evocada por nossas entrevistadas e sustentada por muitos analistas –, de
que não é o setting que define até onde se está trabalhando como psicanalista, sendo
que, fora das quatro paredes, estaria-se fazendo alguma outra coisa. Como vimos, para
Clarissa a psicanálise é uma teoria que permite uma escuta e certo tipo de intervenção,
que pode realizar-se tanto no consultório, como no entendimento da cultura, no
acompanhamento terapêutico e na instituição; para Yanina, o dispositivo analítico está
centrado na transferência, sendo através dela que se pode mover uma mudança, seja em
que contexto isso se estabelecer; segundo Isabel, ser psicanalista é uma questão de
postura, e portanto não de setting.
Ser psicanalista é uma questão de postura, aliás, é uma idéia desenvolvida
também por Ribeiro (2007). Segundo a autora, “a prática psicanalítica não está ligada a
um local, a um cenário específico sem o qual não poderia ser efetuada” (p. 63). No seu
entendimento, “quando o psicanalista adentra as instituições de saúde mental, é com os
6 Felicia Knobloch, em comunicação pessoal.
62
olhos e ouvidos atentos para os sentidos, para as transferências, contratransferências,
repetições e possibilidades de movimento que ele o faz” (p. 66). Essa idéia aproxima-se
da compreensão de nossas entrevistadas, onde uma certa escuta foi um dos principais
aspectos salientados sobre o trabalho psicanalítico no CAPS, sendo isso que
determinaria sua presença no serviço, e não um determinado enquadre.
Para isso, parece ser importante compreender que a transferência pode
tranquilamente se estabelecer na instituição, como podemos perceber nas palavras de
Tenório (2001) sobre sua prática em CAPS: “a experiência clínica mostra que a
transferência é um fenômeno produzido pelo paciente mais ou menos a nossa revelia”
(p. 68), não sendo a montagem do consultório imprescindível para que ela se dê. Aliás,
como vimos no capítulo anterior, o próprio Freud pensa a transferência como algo
produzido em qualquer relação humana (Freud, 1912⁄1993); mas também não podemos
quitar os méritos da psicoterapia institucional na formulação dessa concepção de
transferência mais firmemente. Ainda assim, salienta Tenório (2001), se quisermos
trabalhar com a transferência na instituição “é preciso que estejamos ali e representemos
uma oferta de trabalho” (p. 68), e por isso os equipamentos da reforma buscam
dispositivos para recolhê-la.
O lugar de não-saber ocupado pelo analista, como postura no trabalho
institucional, também seria uma marca importante de que não é o setting que define o
psicanalisar. A postura de escuta do analista, aliás, seria tributária à suspensão de todo
seu saber sobre o sujeito, que só assim poderia escutá-lo, e isso precisa ocorrer tanto no
consultório quanto na instituição. Para Isabel, aliás, essa é uma das grandes diferenças
entre a atuação tradicionalmente médica – identificada com o diagnóstico e prescrição
da medicação – e a psicanalítica; ou como recortamos na fala de Yanina: não se sabe
muito sobre a psicose, mas não-saber é justamente a posição inicial do analista frente a
qualquer paciente.
Ao mesmo tempo, ter uma escuta psicanalítica no consultório e na instituição
não significa que se possa proceder sempre da mesma maneira em ambos, justamente
porque o contexto admite certas especificidades. Por exemplo, como afirmou Clarissa,
as coisas em cena que são presenciadas na instituição convocam para certas
intervenções diferentes do mundo representacional que é evocado pelo enquadre
analítico tradicional. Ou, também, o fato de estar-se trabalhando em equipe no CAPS
pode impor diferenças de trabalho, assunto que trabalharemos mais adiante.
63
As entrevistadas trouxeram também suas maneiras singulares de distinguir os
dois trabalhos: para Yanina, o consultório oferece uma precisão clínica que contribui
com o trabalho institucional; para Isabel, é sobretudo o trabalho institucional que
contribui com o consultório, especialmente através das riquezas e dificuldades com que
se depara no CAPS. Para Clarissa, o CAPS é um lugar que envolve o reconhecimento
de parte do analista de que vários discursos estão presentes, dada a complexidade do
que se propõe a tratar, enquanto que o trabalho no consultório pauta-se mais
exclusivamente pela psicanálise.
Esse tema nos evoca para a discussão sobre o trabalho multidisciplinar no
CAPS, já que, se por um lado todas as entrevistadas apontam a psicanálise como uma
ferramenta fundamental no trabalho institucional e do qual não deveríamos prescindir,
por outro descartam-a como um discurso hegemônico ou dominante sobre os outros
saberes.
Como acabamos de ver, Clarissa aponta que o analista na instituição precisa
reconhecer que a psicanálise é um dos discursos que está em jogo, e não o único. É
necessário articular o trabalho analítico com o da assistência social, terapia ocupacional,
psiquiatria e etc., para atender satisfatoriamente à complexidade do trabalho com a
psicose.
Para isso, como vimos na entrevista de Isabel, é necessário que o analista tenha
uma certa humildade, que lhe permita escutar e articular seu trabalho com os outros
discursos. Em sua opinião, a entrada do psicanalista nas instituições ficou marcada por
uma certa soberba com relação aos outros saberes, algo que precisaria ser plenamente
superado para que ocorra um bom trabalho em equipe. Da mesma maneira, assim como
é necessário trabalhar junto a um psiquiatra que possa prescrever a medicação
adequada, é preciso que ele “nos escute quando a gente propor um trabalho em
conjunto”.
A partir das falas colhidas, pode-se constatar que a formação dos profissionais
exerce grande influência na possibilidade ou não de realizar um trabalho conjunto. E
isso diz respeito à formação analítica, mas também a qualquer das outras profissões em
jogo. Para Yanina, a má formação que prevalece nos profissionais que chegam aos
serviços é uma das limitações para o trabalho no CAPS – inclusive exigindo que a
equipe oferte uma capacitação aos funcionários recém chegados. Há quase um hiato
entre aquilo que o CAPS se propõe a fazer e aquilo que muito dos trabalhadores estão
habilitados.
64
Para Isabel, exceto alguns núcleos acadêmicos de excelência, a formação tende a
ir na contramão daquilo que o CAPS propõe como dispositivo. O profissional tende a
manejar seu trabalho estritamente dentro do seu próprio referencial, não consegue
“pensar estratégias que impliquem, em princípio, na complexidade do campo”, como
um “diagnóstico em situação” ou construído interdisciplinarmente.
Clarissa não chega a afirmar explicitamente que há uma defasagem na formação
dos profissionais, mas afirma que o trabalho de equipe e institucional ainda constitui um
grande desafio no cotidiano dos CAPS, o que nos sugere que é necessário caminhar sim
no aprimoramento dos profissionais.
Portanto, parece ser fundamental que as instituições de formação, sejam elas de
analistas ou de qualquer outra profissão envolvida, além de garantir o específico da
profissão possam contemplar a complexidade do trabalho que é pensado em instituições
advindas da reforma psiquiátrica.
Cabe agora retomar algumas idéias já mencionadas neste trabalho, pois não
devemos nos esquecer que a proposta complexa e multiprofissional do CAPS possui um
sentido bastante fundamentado, não sendo uma mera decisão arbitrária e, por isso,
descartável.
Em tempos manicomiais, a psiquiatria foi o saber único designado para tratar a
psicose e, como vimos, sua resposta à loucura costumava ficar restrita às internações
sucessivas e ao controle medicamentoso. As outras profissões, quando foram
adentrando essas instituições, ficaram absolutamente submetidas à decisão e à
prescrição do psiquiatra, figura central na condução de todo tratamento.
A carreira do doente mental, cuja construção era francamente agenciada por
essas instituições, parecia corresponder ao percurso natural da doença – como se a
condição psicótica acarretasse necessariamente na exclusão social, na cronificação, na
impossibilidade de construir caminhos existenciais, etc.
Desde as primeiras experiências inovadoras em psiquiatria, a psicose pôde
mostrar novas faces, totalmente exóticas àquela presente nas instituições tradicionais.
Observa-se que a forma pela qual se escolhe abordar a questão da loucura determina as
próprias possibilidades e limites do paciente e que, o modelo psiquiátrico dominante
vinha fazendo muito pouco em termos de tratamento, e muito menos na transformação
do lugar social da loucura.
Encarando a psicose e suas respectivas instituições como uma temática
complexa, e que envolveriam formas de abordagem igualmente complexas, a reforma
65
psiquiátrica vêm possibilitando um novo lugar social para a loucura. Atua-se em
inúmeras frentes, como na modificação de leis, na busca de outros paradigmas, na
criação de novos dispositivos, etc. O âmbito clínico-institucional também é
problematizado e pensado de novas maneiras, alargando enormemente o olhar
sintomatológico (mas sem necessariamente excluí-lo), visando uma problemática maior:
a existência.
Focando na questão mais específica da clínica, vimos que as instituições
produzidas no âmbito da reforma psiquiátrica trabalham todas nesse paradigma da
complexidade: enxergando não só a doença, mas a família, a comunidade, as
possibilidades de cada sujeito – para citar alguns elementos –, e repensando
permanentemente a própria instituição. No lugar do trato simplificado com a loucura e
que pouco oferecia à vida do paciente, protagonizado pelo modelo sintomatológico,
opta-se por uma clínica ampliada – pensada na complexa articulação de diferentes
olhares.
Portanto, abdicar do olhar complexo e multiprofissional em instituições como o
CAPS seria voltar a um olhar unívoco e portanto restrito, para uma questão
extremamente complexa e desafiadora que é a de um novo trato com a loucura – em que
não existem respostas prontas e onde tudo deve ser pensado e repensado à luz de um
compromisso ético-político.
Nesse âmbito, o trabalho em equipe, sem hierarquias gritantes, onde diferentes
olhares podem compor um pensamento e uma ação corresponde a um dos eixos
fundamentais para realizar o trabalho proposto pelos CAPS. Não à toa, todos os
exemplos de equipamentos citados pelas entrevistadas trabalham com essa estratégia, o
que nos permite pensá-la como um eixo fundamental do CAPS, mas que
simultaneamente constitui-se como um de seus maiores desafios – especialmente frente
às dificuldades no âmbito da formação dos profissionais, como pudemos ouvir das
entrevistadas.
No início dessa pesquisa, havíamos levantado a seguinte questão à ser
investigada: se o trabalho no CAPS exigiria transformações da psicanálise em algum
sentido. Na medida em que as entrevistadas discorreram sobre as diferenças dos
settings, em relação ao consultório e a instituição, além das invariâncias do trabalho
psicanalítico, observamos essa questão sendo contemplada; e não podemos deixar de
frisar que a principal transformação que se exige dos psicanalistas diz respeito ao
trabalho interdisciplinar do CAPS, em que seu saber se articulará com outros.
66
Através das entrevistas, somadas à literatura que alguns psicanalistas produziram
sobre o trabalho no CAPS, não nos resta dúvida de que a psicanálise pode contribuir
enormemente no cotidiano do serviço, não precisando ficar “para o lado de fora” dele.
No entanto, para que passemos ao exame dessas contribuições com maior rigor,
precisamos sublinhar que a psicanálise não está e nem poderia estar acima dos outros
discursos em jogo no CAPS; o analista não pode posicionar-se tal como o psiquiatra o
fez no modelo tradicional, ou seja, soberano em qualquer decisão que se deva tomar
sobre os rumos do serviço e dos tratamentos empreendidos. Em suma, o psicanalista no
CAPS deve preservar a ética do saber inacabado, o que o implica na construção
necessariamente coletiva do CAPS.
Passemos agora a algumas contribuições advindas da psicanálise, nunca
perdendo de vista a ressalva que apontamos sobre o trabalho coletivo e
multireferenciado.
Muito se falou sobre os trabalhos grupais que se realizam no CAPS. Seja por
excesso de demanda, ou por um estilo de trabalho que se construiu a partir da reforma
psiquiátrica, é nítida a opção no CAPS por grupalizar ao invés do trabalho
classicamente à dois.
Além da própria equipe do CAPS formar-se como um grupo, tema que
discutiremos mais adiante, as oficinas – de ênfase psicoterapêutica ou não – realizam-se
também em grupo. Sabemos todos que atender em grupo não significa “atender
individualmente junto”; o trabalho distingue-se significativamente do individual e
assume características bastante peculiares.
Algumas teorias foram desenvolvidas para assegurar esse trabalho na sua
especificidade, desde a gestalt, o psicodrama e, é claro, a psicanálise de grupos.
Analistas como Wilfred Bion, René Kaës e Didier Anzieu repensaram alguns conceitos
psicanalíticos na experiência grupal, como a transferência, as fantasias, ansiedades, o
próprio lugar do analista na terapia, etc. Vale lembrar também de Enrique Pichón-
Rivière, psicanalista argentino que a partir de seu trabalho na saúde mental construiu a
teoria dos grupos operativos, articulando a psicanálise com contribuições marxistas
(Fernandez, 2006).
Em linhas gerais, na psicanálise de grupos privilegia-se o entendimento e a
interpretação do grupo como um todo e não de cada indivíduo isoladamente; ao invés da
história e do mergulho vertical sobre cada interioridade, como na análise clássica,
ocupa-se da dimensão horizontal do inconsciente, que ocorre no aqui e agora do grupo.
67
A transferência, na dinâmica do grupo, ao invés de condensar-se no analista como no
modelo bipessoal, pode cindir-se e investir toda sua positividade em um membro e sua
faceta negativa em outro.
Em Pichón, a função do coordenador pode ser a de problematizar os
totalitarismos do grupo, sendo este mais operativo quanto mais puder abrigar a
heterogeneidade. Articular a dinâmica do grupo com a realização de uma tarefa seria
contemplar o analítico e a aprendizagem, fundamental na produção de saúde mental.
A análise institucional também contribui no trabalho dos grupos ao situá-los em
dada instituição, pois o grupo não estaria imune aos atravessamentos institucionais,
como um “grupo-ilha”. Como mencionou Clarissa, o coordenador de grupo tem “uma
escuta que se volta para todo um grupo dentro de uma instituição”.
Todas as entrevistadas mencionaram os trabalhos grupais realizados no CAPS e,
se compreendemos que definitivamente atender individualmente ou em grupo não é o
mesmo, é necessário que os coordenadores de grupo estejam aparelhados desse
referencial. Isabel pode ter sido “porta-voz” – se me permitem empregar um termo de
Pichón – ao mencionar que, no seu entendimento, os profissionais de hoje possuem
pouca formação em teorias de grupo, um dispositivo importante para ser recuperado.
Outro ponto em que a psicanálise tem a contribuir diz respeito a uma intervenção
que não se restringe ao paciente, podendo a própria instituição ser objeto de análise.
Como vimos, nos hospitais psiquiátricos tradicionais toda ação terapêutica volta-se
exclusivamente para o paciente; a instituição não é entendida como um agente que
produz saúde ou adoecimento, a depender da maneira em que se organizar o serviço,
idéia que só foi instaurada a partir da psicoterapia institucional.
Lembremos, por exemplo, do Hospital de Saint-Alban, onde os pacientes
obtiveram melhoras clínicas significativas após a reconfiguração da instituição, quando
– quase ao acaso – ela se tornou espaço de trocas materiais e subjetivas entre pacientes,
camponeses e refugiados políticos (Moura, 2003). Frente a esse tipo de constatação, dirá
a psicoterapia institucional, deve-se tratar a instituição antes de empreender qualquer
tentativa de cura individual (Guattari, 2004).
Na reforma psiquiátrica brasileira, a idéia de que a instituição deve
permanentemente pensar a sua prática, de maneira geral, foi incorporada. Todos os
CAPS citados por nossas entrevistadas, por exemplo, utilizam estratégias para refletir-
se como equipe e como instituição: contratam supervisão clínico-institucional,
promovem reuniões periódicas, criam conselhos gestores, etc., algo que está
68
fundamentado na percepção de que os cuidadores também são sujeitos do inconsciente e
que, portanto, tropeçam – como bem sintetizou Clarissa –, sendo necessário lidar com
esses tropeços. Algumas vezes, uma simples mudança de parte da equipe pode produzir
grandes efeitos no tratamento – por exemplo, como mencionou Isabel, as reuniões de
família do CAPS que supervisionava eram marcadas pela equipe em horário comercial,
e a ausência do pai era interpretada como resistência, e não como um compromisso com
o sustento da família; repensar esse simples fato permite dar novos caminhos ao
tratamento.
Com isso, estamos abordando outro questionamento que formulamos no início
da pesquisa: o uso da psicanálise restringe-se ao trato com o paciente, ou serve ao
entendimento da equipe e da instituição? Certamente, um psicanalista nas instituições
tradicionais estaria autorizado a interpretar o paciente, mas jamais poderia tecer uma
compreensão psicanalítica de algo que ocorre na dinâmica da equipe, por exemplo. Já
no âmbito do CAPS, pode se pensar que essa mesma dinâmica está influindo
diretamente na condução clínica de determinado caso, e se for possível transformá-la, os
efeitos sobre o paciente serão importantes.
Dessa maneira, a psicanálise apresenta-se como um importante instrumental para
pensar não só no paciente do CAPS – aquele que encarna a desrazão – mas também o
inconsciente atravessando outras instâncias que não são problematizadas habitualmente,
como a própria equipe cuidadora ou a ambiência da instituição.
Todas as nossas entrevistadas mencionaram a importância dessa auto-análise por
parte da equipe. Para Clarissa, é esse exercício analítico que permitirá à equipe a “não
cair em certos vícios institucionais”, não entrar no circuito da repetição, como poderia
se denominar em psicanálise. Para Yanina, a análise da equipe permite trabalhar os
limites com que ela se depara nessa clínica; segundo Isabel, a análise da instituição
ajuda a discriminar quando se está fazendo clínica de fato, ou quando a política está
atravessando a prática clínica, sem que a equipe possa se dar conta disso.
Portanto, pode-se afirmar que no trabalho do CAPS a psicanálise não se
restringe – e nem deveria restringir-se – aos seus dois protagonistas clássicos, o
terapeuta e o paciente. Não só é possível, é inclusive fundamental pensá-la em
segmentos mais amplos, como uma ferramenta para a equipe pensar suas potências,
limites, sintomas, fantasmas, cruzamentos transferenciais, etc. Claro que, nesse
alargamento do papel da psicanálise, deve-se levar em conta a questão da política, da
gestão do CAPS, pois ela não se dissocia da clínica e do trabalho cotidiano (Moura,
69
2003); assim, não entendemos a análise institucional como uma mera transposição da
psicanálise à instituição desconsiderando todas as peculiaridades que o contexto
institucional impõe, sobretudo no âmbito político.
Por fim, trata-se de recolocar a última questão que nos fizemos e identificar se
avançamos no seu entendimento. Desejávamos entender, afinal, o que significa ser
psicanalista no CAPS, uma pergunta ampla e complexa mas da qual podemos extrair
aquilo que há de mais importante do trabalho analítico nessas instituições.
Remetendo-nos novamente às entrevistas, devemos destacar que o ofício do
analista é entendido na maior parte das vezes como uma clínica da singularidade, ou
como escuta da singularidade. Vale sublinhar que singularidade, no nosso
entendimento, nada tem a ver com individualidade, pois este conceito remete muito
mais à idéia de uno, ao indivisível e independente – e isso se aproxima de uma
concepção racionalista de homem.
O sujeito psicanalítico não guarda relações com essa concepção; ele está de
imediato lançado na dependência para com o outro, não pode se desenvolver senão pelo
outro. Sua constituição se dá pelos ideais, por suas identificações, pelos objetos que
investe e desinveste, pela maneira na qual é desejado, etc. É nesse sentido que Freud,
em texto célebre, pensa qualquer psicologia imediatamente como uma psicologia social,
pois mesmo em um mergulho interno o que o sujeito encontra é o outro, com o qual se
identifica, rivaliza, deseja, etc (Freud, 1921⁄1993).
Portanto, singularidade não é individualidade, mas sim uma história
absolutamente única do sujeito em relação à alteridade, e em determinado contexto.
Nunca se sabe o que esse encontro do sujeito com o Outro vai proporcionar, e é por isso
que o analista, antes de tudo, escuta. Não se sabe nada do sujeito de antemão, exceto
aquilo que resolver nos contar – como nos ensina Yanina – e poderíamos acrescentar:
em uma relação de transferência, que também é única com o analista (ou com a
instituição, em função do tema que estamos abordando).
Essa construção à respeito da singularidade nos leva a pensar que, em
psicanálise, cada situação é única e demanda uma resposta nova – o analista não dá
receitas nem tem fórmulas, dizia Isabel. Trabalhar com a singularidade é trabalhar caso
a caso, com o que cada situação nos desafia, o que definitivamente não significa
entender individualmente ou dar respostas somente individuais.
No nosso entendimento, a formulação do projeto terapêutico que se realiza com
aquele – e não para aquele – que procura o CAPS, contribui largamente para a
70
compreensão do que seja o trabalho com a singularidade que o analista propõe. No
momento em que o paciente consegue se vincular à instituição – quando se constitui a
transferência –, a equipe pensa junto com ele um projeto singular de trabalho: quantas
vezes irá freqüentar o serviço, de que oficinas irá participar, em que sentido caminhará
sua inserção, etc. Isso não significa levar à cabo um tratamento individual, pois esse
sujeito é entendido na sua história afetiva e com o outro – e não um conjunto de sinais e
sintomas – e a transformação só pode se dar na produção de novas marcas subjetivas. E
o coletivo tem sido uma aposta do CAPS para produzir essas novas marcas, através de
novas relações alteritárias.
Quando compartilhamos nossos casos clínicos em supervisão – especialmente
dessa clínica sui generis que é a da psicose –, frequentemente me vejo impressionado
com a singularidade de cada caso contado, pois ele é absolutamente único e não pode
ser generalizado sob nenhuma hipótese. Único mas não como algo sozinho, isolado, e
sim como uma história relacional muito particular, onde o sofrimento só pode ser
cuidado na reconfiguração dessas relações, e na produção de outras tantas novas.
Mas vale alertar que a singularidade não pertence somente ao campo da relação
bipessoal terapeuta-paciente, pelo menos desde que a psicanálise ampliou-se para
segmentos mais amplos como o entendimento da instituição. Quando uma equipe
depara-se com uma determinada questão e se está disposta a não travar frente a ela, terá
de inventar uma saída inovadora, singular, reinventar a instituição; não há um modelo
que possa ser implementado de cima-abaixo e que resolva a questão. Nesse sentido, a
produção da singularidade se aproxima da idéia de movimento com a qual a reforma
psiquiátrica se associa, no lugar das instituições estanques, instituições totais.
Vemos então que a ótica da singularidade guarda relações próximas com a
proposta dos CAPS, em especial se o singular for pensado à luz do coletivo. Dessa
maneira, é bastante plausível pensar na psicanálise inserida no CAPS, com sua escuta
singular mas também com propostas singulares, saídas novas para aonde o desejo está
travado, obliterado. Mas é necessário ler isso cuidadosamente, pois não basta o título de
psicanalista para produzir o novo.
Eis uma posição cuidadosa de o analista sustentar, pois sabemos que a
psicanálise entrou de diferentes maneiras na saúde mental, algumas vezes produzindo o
novo, mas em outras aproximando-se do discurso psiquiátrico dominante e estanque.
Não à toa, Isabel nos alertou que implementar a psicanálise nos CAPS implica em “se
questionar e suspender diagnósticos” e “não utilizar as categorias psicanalíticas como
71
diagnósticos psiquiátricos”, assunto que, aliás, mencionamos no capítulo anterior.
Trabalhar dessa maneira certamente seria caminhar na contramão da clínica da
singularidade.
72
CONCLUSÃO
Nesta pesquisa, partimos da constatação de que não há um lugar unívoco para a
psicanálise na reforma psiquiátrica e, mais especificamente, nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). Nosso desejo foi de nos aproximarmos do cotidiano desses CAPS,
e em especial dos desafios de várias ordens que esse dia-a-dia impõe ao psicanalista
nesses serviços. Com isso, poderíamos ter mais elementos para afirmar, afinal, porque a
psicanálise é importante nesse contexto, e como o é, ou se simplesmente não o é – ao
invés de assumir uma posição ideológica que, muitas vezes, passa ao largo da realidade
vivida nos serviços.
Seria ingênuo supor que encontraríamos uma definição perfeita do que é o
trabalho psicanalítico no CAPS, uma resposta livre de conflitos e da qual tanto o autor
quanto o leitor poderiam satisfazer-se como a uma fórmula mágica. Aliás, se
alcançássemos uma resposta absoluta e que não produzisse nenhum novo
questionamento, o leitor poderia convencer-se de que a procura foi superficial ou
mesmo tendenciosa.
No entanto, não há dúvidas de que avançamos significativamente frente aos
questionamentos que tínhamos. Obtivemos diversos elementos que nos ajudaram a
compreender o cotidiano do psicanalista no CAPS: as ferramentas que utiliza, sua
leitura da instituição e da formação, o entendimento próprio da clínica e de sua teoria,
etc.
Para citar exemplos: convencemo-nos de que a psicanálise não deve ficar restrita
ao consultório, pois possui ferramentas imprescindíveis para o trabalho que o CAPS se
propõe; a psicanálise oferece elementos tanto às intervenções com pacientes, quanto
com a equipe e toda a instituição, e; a psicanálise de grupos é um dispositivo que deve
ser retomado, visto que no CAPS o grupo é uma estratégia política e terapêutica.
Mas certamente, dentre todos os aspectos que identificamos, há uma afirmação
que pode ser formulada e que sintetiza o nó da questão, aquilo que se apresenta como
mais relevante nesta pesquisa e que dará margem à outras futuras. A afirmação pode ser
formulada da seguinte maneira: o trabalho psicanalítico no CAPS está exatamente na
tensão entre a clínica da singularidade e a construção da multidisciplinaridade.
Passemos a destrinchar essa frase. O psicanalista tem a contribuir no CAPS com
o trabalho sobre a singularidade, o que implica desde despojar-se de diagnósticos, de
73
soluções a priori, para poder constituir uma escuta e, em seguida, ajudar a produzir o
novo. Aquilo que é a boa clínica psicanalítica – com o perdão do juízo – não pode nunca
generalizar os sujeitos com que se defronta, pois cada um deles é fruto de uma
complexa história afetiva consigo e com os outros; frente a isso, cada caso demanda
uma solução que só pode ser construída em uma nova relação, na transferência com o
psicanalista e – no caso do CAPS – com a instituição.
O psicanalista, vale dizer, parte de poucas premissas, tal como a transferência, o
inconsciente e a pulsão, que estariam presentes em qualquer relação humana. Mas o
resto é a própria clínica, é a construção que se faz junto ao paciente, sem que se saiba
muito de antemão. É essa a posição ética e clínica que ocupa o psicanalista.
Isso diferencia o trabalho do psicanalista dos outros profissionais; sabemos, por
exemplo, que quem medica não ocupa (e nem deve ocupar) esse mesmo lugar – imagine
só se o psiquiatra tivesse que esquecer temporariamente tudo o que sabe para poder
escutar o paciente, isso certamente o impediria de medicá-lo corretamente! Para as
outras profissões envolvidas o mesmo raciocínio é válido, já que todas têm a sua
especificidade e sua contribuição, e que é necessariamente distinta da do psicanalista.
É justamente nesse ponto que a tensão se coloca – tensão que parece ser
necessária por um lado, para produzir movimento, mas que pode ser absolutamente
paralisadora – entre sustentar a especificidade do seu trabalho, mas poder articulá-la
com o fazer coletivo, com a abordagem multiprofissional do CAPS.
Como não deslizar para uma compreensão psiquiátrica do trabalho com a
psicose, em que não se suspende o saber? Como não ceder ao convite de ser um
“trabalhador de saúde mental”, e fazer tal como outro profissional poderia fazer? Como
garantir a especificidade do trabalho analítico, mas dialogando proveitosamente com os
outros profissionais?
Observamos que a formação desses profissionais é um importante caminho que
pode permitir o profissional dispor daquilo que seu referencial o nutre, na sua
especificidade, mas ao mesmo tempo estar amplamente aberto aos outros olhares, às
visões de outros profissionais. Uma posição quase paradoxal, dirá o leitor, mas
aparentemente um desafio necessário.
São essas algumas das questões que se abrem, e que mereceriam outros trabalhos
para respondê-las, sendo que, por hora devemos nos contentar com o norte de sustentar
uma clínica da singularidade junto à construção da multidisciplinaridade. Frente a isso,
74
parece necessário inventar novas maneiras de lidar com essa tensão, caminhos
singulares que possam alimentar, mais ainda, a riqueza do trabalho nos CAPS.
75
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMARANTE, P. A (clínica) e a Reforma Psiquiátrica. In Amarante, P. (org.). Archivos
de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003.
______. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2007.
BERGER, E., MORETTIN, A., BRAGA NETO, L. Introdução à clínica do
Acompanhamento Terapêutico. In Equipe de acompanhantes terapêuticos do
Hospital-dia A Casa (org.). A rua como espaço clínico. São Paulo: Escuta, 1991.
BEZERRA Jr., B. Da verdade à solidariedade: a psicose e os psicóticos. In Bezerra Jr.,
B. & Amarante, P. (orgs.). Psiquiatria sem hospício – contribuições ao estudo
da reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992.
BIRMAN, J. Freud e a experiência psicanalítica. Rio de Janeiro: Taurus-Timbre
editores, 1989.
______. Freud e a interpretação psicanalítica. Rio de Janeiro: Ed. Relume-Dumará,
1991.
______. Por uma estilística da existência. São Paulo: Ed. 34, 1996.
______. Despossessão, saber e loucura: sobre as relações entre psicanálise e psiquiatria
hoje. In Quinet, A. (org.). Psicanálise e psiquiatria: controvérsias e
divergências. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.
______. O mundo como errância e catástrofe (prefácio). In Ribeiro, A. M. Em busca de
um lugar: itinerário de uma psicanalista pela clínica das psicoses. São Paulo:
Via Lettera, 2007.
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS: os centros de atenção
psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
76
CAMPOS, G. W. Saúde Paidéia. São Paulo: Ed. Hucitec, 2003.
CASTEL, R. A Ordem Psiquiátrica: a idade de ouro do alienismo. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1978.
______. O psicanalismo. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978.
CESARINO, A. C. Uma experiência de Saúde Mental. In Lancetti, A. (org.).
SaúdeLoucura, n. 1, São Paulo: Ed. Hucitec, 1989.
COOPER, D. Psiquiatria e Antipsiquiatria. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1982.
CUNHA, M. C. P. O espelho do mundo – Juquery, a história de um asilo. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986.
DERRIDA, J. Fazer justiça a Freud: A história da loucura na era da psicanálise. In
Roudinesco, E. (org.). Foucault: leituras da história da loucura. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1992.
FERNANDEZ, A. M. O campo grupal. Notas para uma genealogia. São Paulo: Ed.
Martins Fontes, 2006.
FERRAZ, F. C. Normopatia: sobreadaptação e pseudonormalidade. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2002.
FOUCAULT, M. O poder psiquiátrico (1973-1974). São Paulo: Ed. Martins Fontes,
2006.
______. História da loucura: na idade clássica (1972). São Paulo: Ed. Perspectiva,
2007.
FREUD, S. La interpretación de los sueños (1900). In Obras completas. vol. IV/V. 2ª
ed. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1993.
77
______. Psicopatología de la vida cotidiana (1901). Op. cit., vol. VI.
______. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia
paranoides) descrito autobiográficamente (1911 [1910]). Op. cit., vol. XII.
______. La dinámica de la trasferencia (1912). Op. cit., vol. XII.
______. Psicología de las masas y análisis del yo (1921). Op. cit., vol. XVIII.
GOLDBERG, J. Clínica da psicose: um projeto na rede pública. São Paulo: Té Cora
Editora, 1994.
GUATTARI, F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34, 1998.
______. Psicanálise e transversalidade. São Paulo: Idéias e Letras, 2004.
LACAN, J. O estágio do espelho como formador da função do eu (1949). In Escritos.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
LANCETTI, A. Loucura metódica. Lancetti, A. (org.). SaúdeLoucura, n. 2, São Paulo:
Ed. Hucitec, 1991.
MANNONI, M. O psiquiatra, seu “louco” e a psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1971.
MEZAN, R. Freud, pensador da cultura. São Paulo: Cia. das Letras, 2006.
MOURA, A. H. Psicoterapia Institucional e o Clube dos Saberes. São Paulo: Ed.
Hucitec, 2003.
NICÁCIO, M. F. Da instituição negada à instituição inventada. In Lancetti, A. (org.).
SaúdeLoucura, n. 1, São Paulo: Ed. Hucitec, 1989.
78
PACHECO, R. Que psicopatologia para o campo da saúde mental?. In Merhy, E. E. &
Amaral, H. (orgs.). A reforma psiquiátrica no cotidiano II. São Paulo: Ed.
Hucitec, 2007.
PELBART, P. Manicômio mental – a outra face da clausura. In Lancetti, A. (org.).
SaúdeLoucura, n. 2, São Paulo: Ed. Hucitec, 1991.
OURY, J. A transferência (1988/1989). Seminário apresentado na clínica de La Borde,
França, nos anos de 1988-1989.
RIBEIRO, A. M. Em busca de um lugar: itinerário de uma psicanalista pela clínica das
psicoses. São Paulo: Via Lettera, 2007.
RODRIGUÉ, E. Sigmund Freud. O século da psicanálise 1895-1995. São Paulo:
Escuta, 1995.
ROTELLI, F. A experiência de desinstitucionalização italiana: o processo de Trieste.
Cadernos Polêmicos 2. Plenário dos Trabalhadores em Saúde Mental, São Paulo,
1987.
ROUDINESCO, E. Leituras da história da loucura (1961-1986). Roudinesco, E. (org.).
Foucault: leituras da história da loucura. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
1992.
ROUDINESCO, E. & PLON, M. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 1998.
SARACENO, B. Reabilitação psicossocial: uma prática à espera de teoria. Pitta, A.
(org.). Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Ed. Hucitec, 2001.
SILVA, M. V. O. O movimento da Luta Antimanicomial e o movimento dos usuários e
pacientes. Conselho Federal de Psicologia (org.). Loucura, ética e política:
escritos militantes. São Paulo: Ed. Casa do Psicólogo, 2003.
79
TENÓRIO, F. A Psicanálise e a clínica da Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro: Ed.
Rios Ambiciosos, 2001.
I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, ________________________________________________, R.G:______________,
declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) para a pesquisa de campo do pesquisador Bruno Espósito, desenvolvida na Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP). Fui informado(a), ainda, que a pesquisa é orientada pela Profa Maria Claudia Tedeschi Vieira, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone n° 3670.8320 ou e-mail [email protected]
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, consistem em compreender como diferentes psicanalistas entendem o papel da psicanálise nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em São Paulo.
Fui também esclarecido(a) que a utilização das informações por mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.
Minha colaboração se fará por meio de entrevista semi-dirigida, a ser gravada a partir da assinatura desta autorização, observação e aferição. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo(a) pesquisador(a) e/ou seu(s) orientador(es) / parecerista / coordenador(es).
Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar o(a) pesquisador(a) ou sua orientadora, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CEP - PUC/SP), situado na Rua Ministro de Godoy, 969 - Térreo, Perdizes, São Paulo (SP), CEP:05015-000, Telefone: 3670.8466.
O pesquisador principal da pesquisa me ofertou uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimento.
São Paulo, de de 2008.
Assinatura do(a) participante:
Assinatura do pesquisador: