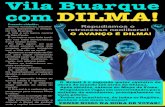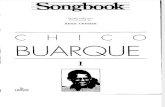Buarque, Luís_heráclito e Heraclitismo No Cratilo de Platão
-
Upload
geraldo-barbosa-neto -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Buarque, Luís_heráclito e Heraclitismo No Cratilo de Platão
-
desgnio 15 jul/dez 2015
135
* Departamento de Filosofia
da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Brasil -
Luisa Buarque*
Heraclitism and Heraclitus in Platos cratylus
BUARQUE, L. (2015). Herclito e heraclitismo no Crtilo de Plato. Archai, n. 15, jul. dez., p. 135 -141
DOI: http://dx.doi.org/10.14195/1984-249X_15_13
HERCLITO E HERACLITISMO NO CRTILO DE PLATO
RESUMO: Este artigo aborda o tratamento dado por
Plato, no dilogo Crtilo, a certos temas heraclticos.
A partir de uma anlise da refutao da personagem Crtilo por
Scrates, que ocorre ao final do dilogo, pretende-se mostrar o
jogo explcito e implcito com o chamado fluxo heracltico e a
unidade dos contrrios que o autor Plato capaz de forjar.
Jogo que faz com que, por fim, Scrates capture Crtilo com
a ajuda da armadilha criada por seus prprios argumentos.
PALAVRAS -CHAVE: Crtilo, nomes, heraclitismo,
fluxo, Plato.
ABSTRACT: This paper develops the treatment given by
Plato to certain Heraclitic subjects in the Cratylus. Beginning
with an analysis of the refutation of the character Cratylus
by Socrates, which occurs at the end of the dialogue, it aims
to approach the explicit and implicit game with the so called
Heraclitean flux and unity of the opposites which Plato, as
an author, is capable of forging. Game that is responsible,
in the end, for Socrates capturing Cratylus with the trap
made by his own arguments and conceptions.
KEYWORDS: Cratylus, names, Heraclitism, flux, Plato.
Quando se trata de rastrear a importncia de Herclito para o dilogo Crtilo, logo se depara
o intrprete com um clebre problema: estava ou
no o autor Plato ciente das possveis divergncias
entre o obscuro texto de Herclito e as suas mais
disseminadas interpretaes, muito frequentemente
reduzidas quase que inteiramente ao tema do tudo
flui? Em realidade, tal pergunta perpassa as vrias
obras de Plato em cujos contextos o pensamento
de Herclito mais detidamente examinado, tais
como o Teeteto, por exemplo. Isso ocorre porque,
ao que parece, h nelas uma espcie de jogo com o
peso que Herclito adquirira em todo o subsequente
pensamento filosfico, e com a denncia da leitura
que seus representantes, isto , aqueles que ado-
tam seu ponto de vista, haviam feito a respeito do
pensamento do mestre. No Crtilo, isso ocorre por
meio de uma espcie de hipstase do pensamento
heracltico: medida que a importncia do tema do
fluxo aumenta no dilogo, diminui a importncia de
Herclito em particular para a obra. O Efsio, alis,
nunca est sozinho ao afirmar que tudo se transforma
incessantemente. O que se revela aos poucos que a
quase totalidade da cultura grega j era heracltica
avant la lettre uma leve troa, quase uma acusao
de plgio bem de acordo com o peculiar tom cmico
do dilogo em questo de modo que toda vez que
1 Agradeo aos alunos
do curso de ps, 2013/1,
Tpicos Especiais de Filosofia
da Linguagem, sem cujas
sugestes este texto no
existiria. Agradeo tambm,
e muito especialmente,
ao Carlos Lvy pelos
valiosssimos comentrios e
sugestes.
-
136
se introduz a questo do fluxo por meio de um
plural, de um coletivo, da meno a um grupo (cf.
402a3, com Herclito a ensinar velhas mximas do
tempo de Reia e Crono, que j tinham sido ditas por
Homero2, mas tambm 411b -c e 440c2).
No entanto, no apenas no tema do fluxo,
reconhecido por ser o mais marcadamente heracl-
tico aos ouvidos da poca, que o dilogo se detm.
Antes de mais nada, trata -se de um dilogo sobre
ta onomata, os nomes, as palavras significativas
em geral, e sobre sua relao com as coisas extra-
-lingusticas, e tal tema tambm parece ter sido
tratado por Herclito, bem como herdado por seus
seguidores (os trs exemplos mais clebres, dentre
os fragmentos de que dispomos, so: Fragmento
LXVII, Deus: dia -noite, inverno -vero, guerra -paz,
saciedade -fome, mas se altera como o fogo quando
se confunde fumaa, recebendo um nome conforme
o gosto de cada um, Fragmento XXXII, Um, o nico
sbio, consente e no consente em ser chamado pelo
nome de Zeus, e Fragmento XLVIII, O nome do
arco, vida; sua obra, morte3). Ora, precisamente
nesse ponto que une a possibilidade de nos per-
guntarmos acerca das coisas que nos rodeiam com
o exame das palavras que usamos para design -las
que se encontra o foco de Plato nesse dilogo que,
no por acaso, homnimo do mais conhecido dos
ultra heraclticos. Minha proposta aqui, para diz -lo
brevemente, focar a ateno mais particularmente
em Crtilo, tomado como representante da classe dos
heraclticos, e tentar mostrar que tal personagem
submetida, no dilogo platnico, a um tipo bem
especfico de elenchos; e, finalmente, que esse pro-
cesso elnctico centra -se precisamente no problema
da relao entre a linguagem e um mundo que flui.
Esse elenchos, ademais, ter grandes consequncias
para a sua vida, caso aceitemos (no necessariamen-
te como historicamente correta, mas ao menos como
suficientemente conhecida por Plato) a anedota
aristotlica que conta que Crtilo, a certa altura da
vida, pra de falar e apenas aponta para os objetos
(supostamente por ter -se tornado mais heracltico
do que Herclito, ao concluir que sequer uma nica
vez possvel entrar no mesmo rio). O que essa
personagem escolhida - literalmente a dedo - por
Plato para dar ttulo ao dilogo tem a nos dizer? E
que relao possui a posio sustentada por ela em
relao ao tema dos nomes com os fragmentos de
Herclito que possumos hoje? Essas so as inda-
gaes que me guiaro ao longo do presente texto.
Ora, sabemos todos que Crtilo sustenta,
desde o incio do dilogo, haver uma correo,
ou justeza, natural dos nomes. Ao longo de todo
o texto, ele mantm firmemente a posio de que
qualquer nome naturalmente adequado para a coisa
a que se refere, se for de fato um nome. Alm disso,
o jovem no fala muito, como j foi amplamente
notado. No explica a sua posio, expressa -se como
que por meio de orculos - obscura e enigmatica-
mente, emulando talvez o seu mestre Herclito.
Cabe primeiro a Hermgenes, depois a Scrates, a
explicao da posio de Crtilo, e nunca ficamos
suficientemente informados quanto a se o jovem
de fato pensava aquilo tudo, ou se finge j haver
pensado o que Scrates argumenta, aproveitando -se
de tal argumentao para corroborar suas incipientes
hipteses. Mas o fato que, como tambm j foi
amplamente notado, a posio de Crtilo acerca
dos nomes casa mal com o heraclitismo que ele
conhecido por professar, e que de fato professa
durante boa parte do dilogo. Como algum que
afirma que tudo muda constantemente pode sus-
tentar simultaneamente que as palavras fixas se
assemelham naturalmente a coisas que, segundo ele
mesmo, nunca esto fixas?
Uma hiptese para solucionar tal problema
afirmar, com Sedley e Ademollo, que o jovem Crtilo
com que nos deparamos inicialmente no ainda
heracltico, e vai passando a crer na teoria do fluxo
ao longo do dilogo4. Essa hiptese , inclusive,
bastante interessante para a presente argumenta-
o, mas no necessria. Admitamos por enquanto,
como se costuma fazer, que Crtilo j demonstrava
tendncias heraclticas, digamos, e que Scrates
aborda o problema do fluxo justamente por causa
disso. Ainda assim, parece -me que a observao
sobre a incoerncia entre a fixidez das palavras e a
transformao das coisas lanada para o dilogo
de trs para diante, ou seja, da concluso para o
comeo. Ela no se coloca e no precisa se colocar
na parte inicial da obra. E isso, no porque l no
haja Herclito nem heraclitismo (de fato no h,
2 Cito sempre a traduo de
Carlos Alberto Nunes.
3 Para Herclito, cito sempre a
traduo de Alexandre Costa.
4 Ademollo (2011, p. 487);
Sedley (2003, p. 171).
-
desgnio 15 jul/dez 2015
137
mas o prprio Scrates no tardar a introduzi -los,
em 401d), mas sim porque, mesmo quando passa a
haver, essa presena no gera a esperada contradi-
o entre a noo de um fluxo inconstante versus
palavras constantes. A soluo para esse problema
que no se pe simples: as palavras so fixas,
mas dizem fixamente que tudo passa. Todas elas,
quando avaliadas etimologicamente, nos informam
uma nica coisa, a saber, que nada fica, que tudo
se esvai, que tudo corre e flui. E como elas o fazem
efetivamente durante a chamada parte etimolgica?
Ora, de um lado, as palavras que designam coisas ex-
celentes e belas exprimem a necessidade do fluxo; de
outro, aquelas que designam coisas vis exprimem a
estagnao e tudo o que, em geral, faz obstculo ao
fluxo incessante. Essa a concluso que predomina
ao longo de boa parte da conversa entre Scrates e
Hermgenes, e o silncio de Crtilo nesse contexto
parece ser o silncio arrogante e impertinente de
quem pensa: eu no disse?
Todavia, insistamos ainda na tantas vezes
formulada pergunta: por que Crtilo fala to pou-
co? Muitas razes so apontadas para isso, todas
elas plausveis: ele no capaz de justificar aquilo
que sustenta, quer dissimular a ignorncia com um
silncio aparentemente sugestivo etc5. Eu gostaria
de acrescentar a elas uma outra explicao, que me
interessa aqui justamente para melhor esclarecer
o que me parece ser o percurso da personagem ao
longo do dilogo, bem como aquilo que eu estou
chamando aqui de um elenchos bem peculiar. Ora,
Crtilo fala to pouco, dentre outros motivos, porque
no precisa falar, j que as palavras dizem tudo
por ele6. Basta saber examin -las. O que eu quero
dizer o seguinte: em um mundo cratlico, onde os
nomes so naturalmente corretos, porque sempre
semelhantes s coisas que designam, bastam os
nomes. No so necessrias explicaes adicionais,
pesquisas, definies, perguntas, muito menos
dialtica. Pronunciar um nome j , ao menos para
o bom entendedor, revelar de uma vez por todas a
essncia das coisas, de modo que os discursos ficam
to curtos quanto a quase monossilbica resposta
inicial de um Crtilo que tanto demora a entrar na
conversa, e cujas afirmaes tambm j eram eco-
nmicas antes da chegada de Scrates (como indica
o resumo que Hermgenes faz da discusso prvia
que os dois jovens haviam travado). Dito de outro
modo, Crtilo fala pouco porque, para ele, tudo o
que se pode dizer j est dito nos nomes das coisas.
Nomear suficiente para descobrir, conhecer, apren-
der e instruir sobre a natureza movente (kinesis) do
ente nomeado, e sobre a natureza mutante (alloiosis)
dos entes em geral.
Quando finalmente for invocado cena, entre-
tanto, Crtilo ser posto contra a parede7; Scrates
ir lhe mostrar, por meio de uma srie de passos
importantes, que seu pensamento no suficien-
temente bem fundado, a ponto de no sucumbir
refutao filosfica. O primeiro passo ser atacar a
compreenso de semelhana que permeia a explica-
o cratlica das palavras. Como visto antes, para
Crtilo, os nomes so naturalmente corretos porque
semelhantes s coisas que designam, na exata medida
em que so capazes de informar sobre suas naturezas.
E mais: se so semelhantes, simplesmente o so e
todos podem reconhecer tal semelhana; correspon-
dentemente, se so diferentes, simplesmente no
so os nomes das coisas, pois dessemelhanas no
so adequadas para informar. Brevemente: ou bem o
nome semelhante e nomeia, ou bem diferente e
no nomeia. Antes de mais nada, portanto, Scrates
ir mostrar a Crtilo que a noo de semelhana
comporta graus, isto : uma imagem pode ser mais
ou menos similar ao original a que remete, sem que
com isso deixe de ser uma imagem.
Esse ponto da demonstrao essencial
porque, se uma palavra for apenas fracamente se-
melhante coisa que designa, ento dar -se - o caso
de que, enquanto imagem mal -formada, ela preci-
sar de retoques, ou seja, de anlises e de exames.
A estratgia de Scrates em tal ocasio consiste
em, propondo uma forte analogia entre palavras e
pinturas, tentar fazer Crtilo admitir que os nomes,
enquanto imagens, podem ser belos, contendo todos
os elementos necessrios para informar acerca da
natureza do ente designado, ou feios, no contendo
todos os elementos em questo, mas nem por isso
deixando de ser nomes (431d). E a resposta de
Crtilo consiste em retrucar que, quando trocamos
(acrescentando, subtraindo ou deslocando) a letra
de um nome, no escrevemos mais o mesmo nome,
5 Cf., por exemplo, Nightingale
(2006).
6 No quero insistir aqui numa
coerncia da personagem, como
se ela j houvesse pensado no
mtodo etimolgico e chegado
concluso de que as palavras falam
por si. Penso muito mais em uma
coerncia dramtica relativa ao
dilogo, que inclui o delineamento
de um percurso dramtico da
personagem. Trata -se, ao fim e ao
cabo, de uma posio que tambm
acaba por ser problematizada por
Scrates, independentemente do
fato de ela poder ser atribuda a
Crtilo desde o incio, ou apenas
aps ele passar a despos -la, a
partir da prpria demonstrao
socrtica.
7 importante lembrar que
isso s ocorre aps o prprio
Hermgenes ter sido questionado,
e ter sido refutado um relativismo
possivelmente ligado sua posio
convencionalista e contratualista.
Ou seja: h um desenho nas
refutaes socrticas do Crtilo
que coincide com o movimento
dramtico do dilogo, e
corresponde sua estrutura. Aqui,
tentarei esmiuar especificamente
o elenchos de Crtilo, sendo
necessrio, portanto, deixar de
lado o elenchos de Hermgenes.
Mas registro que a obra como
um todo caracterizada por uma
justaposio de dois elenchoi em
um movimento de ascenso.
-
138
e sim um outro nome (432a). Caso extremo, mas
plausvel (no reino dos nomes prprios, d -nos Ade-
mollo um exemplo interessante: Creon que vira Cleon
pela simples substituio de uma letra por outra).
Porm, a resposta de Scrates a tal colocao
nada banal exemplar. Talvez no no que diz respeito
ao detalhe da possibilidade de se escrever uma palavra
apenas retirando, adicionando ou trocando uma letra
de outra palavra, mas sim no que tange justamente ao
heraclitismo. Diz Scrates (432a10 -b6): bem poss-
vel que se passe conforme dizes com o que s existe
necessariamente, ou no existe, por meio de nmeros.
O nmero dez, por exemplo, ou outro qualquer que te
aprouver: se acrescentares ou suprimires alguma coi-
sa, tornar -se - imediatamente outro nmero; mas no
que diz respeito qualidade ou representao geral
da imagem, no tem aplicao o que dizes, porm o
contrrio, no havendo absolutamente necessidade de
serem reproduzidas todas as particularidades do objeto,
para que se obtenha a sua imagem. Como escreve L.
Palumbo, parafraseando essa mesma passagem:
Neste ponto Scrates reprova Crtilo por confundir
entes cujo ser depende da qualidade com entes cujo ser
depende da quantidade. No ltimo caso, uma variao,
por menor que seja, os transforma em outro. No primei-
ro caso, uma variao pequena deixa -os serem o que
eram, e a imagem pertence a este caso. 8
Ora, talvez seja lcito afirmar que, se aplicada
ao problema da mudana incessante dos entes, a
afirmao socrtica teria ensinado a Crtilo - caso
ele estivesse disposto a ouvi -la - que no pelo
fato de que um ente se transforma qualitativa-
mente que ele deixa automaticamente de ser o
que , merecendo um outro nome. Ou, ainda mais
resumidamente: seria preciso fazer distino entre
a alterao (alloiosis) por quantidade (poson) e a
alterao por qualidade (poion). E mais: sobretu-
do pelas qualidades que as similaridades se fazem
ver, e, portanto, por elas que uma coisa pode ser
a imagem de outra (da ser esse comentrio uma
primeira lio sobre a natureza da imagem)9.
Valeria tambm perguntar, embora Scrates
ainda no formule tal questo explicitamente aqui:
quando que uma mudana qualitativa to grande
a ponto de gerar, no a mesma qualidade em outro
grau, nem a mera omisso da referida qualidade,
mas a prpria qualidade oposta? Em outras palavras:
quando que uma semelhana enfraquecida se torna
uma diferena integral, dando lugar contrariedade?
(Seria possvel evocar aqui, a ttulo de ilustrao
da pertinncia do tema para Herclito, o fragmento
LXXXVIII: O mesmo vivo e morto, acordado e ador-
mecido, novo e velho: pois estes, modificando -se, so
aqueles e, novamente, aqueles, modificando -se, so
estes). Este assunto aparecer um pouco adiante na
manobra refutativa de Scrates, e aparentemente de
modo incidental; mas antes de chegar a ele mister
prosseguir no rastreamento de seus argumentos.
Aps haver formulado o comentrio a propsi-
to dos graus de semelhana e da natureza qualitativa
da imagem, Scrates ilustrar a sua explicao com o
clebre exemplo dos dois crtilos, onde, alm do que
havia sido observado antes, ser tambm demons-
trado que graus de semelhana so ao mesmo tempo
graus de diferena. Ou seja, qualquer imagem, para
ser imagem, tem de ter sempre alguma distino em
relao ao original, e, consequentemente, no ser
nunca uma restituio perfeita do mesmo. Por um
lado, seria possvel afirmar que, sendo imperfeita com
relao ao original mas remetendo a ele, a imagem
ser necessariamente insuficiente. No entanto, im-
portante esclarecer: ela ser insuficiente se encarada
como um original enfraquecido. Se encarada como o
que , a saber, como imagem, faz -se mister perceber
justamente que ela precisa guardar diferenas, por
ser outra (e deparamo -nos aqui com uma segunda
lio sobre a natureza da imagem: se fosse idntica,
ela perderia seu carter imagtico e tornar -se -ia um
idem, um redobro, um duplo da coisa).
Retornando agora, finalmente, para o tema dos
nomes: se Crtilo continuar sustentando, como con-
tinuar at o final, que os nomes so imagens, ento
a concluso que, como toda imagem, eles sero
eventualmente insuficientes, exigindo explicaes
adicionais. E nem por isso, evidentemente, deixam
de ser nomes, como a imagem de Crtilo continua
sendo a sua imagem mesmo que no contenha em
detalhes todos os elementos que o prprio Crtilo
contm (mais do que isso, preciso corroborar: essa
a condio sine qua non para a imagem de Crtilo
8 Palumbo (2013, p. 9).
9 O que leva a pensar que,
de alguma forma, o raciocnio
postula implicitamente que todas
as mudanas qualitativas pelas
quais algo pode passar sem que se
destrua inteiramente podem ser
tomadas como imagens distintas
de uma mesma coisa. Poder -se-
-ia consider -lo como um passo
platnico em direo a um certo
essencialismo ausente do texto
heracltico? Seria um tema a se
pensar, tambm sugerido pelo
Crtilo.
-
desgnio 15 jul/dez 2015
139
ser uma imagem, e no um segundo Crtilo; no
apesar das diferenas que a imagem imagem, mas
precisamente por causa delas). o que Scrates vai
argumentar em 433b, onde mostra muito claramente
que, ou bem Crtilo admite que o nome, enquanto
imagem, pode ser um mau nome e nem por isso
deixa de nomear, ou bem ele precisar renunciar
afirmao de que o nome uma imagem da coisa que
designa. Crtilo, no entanto, no o tipo de inter-
locutor que se deixa convencer facilmente. Apesar
de ter concordado com os passos do raciocnio, ele
no aceita a sua concluso. Responde com um firme
e convicto: Creio que no vale a pena, Scrates,
prosseguirmos, pois repugna -me chamar de nome o
que malformado (433d1). Como indica a resposta,
tudo flui menos o imvel Crtilo, que continua agar-
rado sempre mesma viso e no se deixa convencer
pela argumentao socrtica.
No obstante, o prximo passo ser fatal para
o quase inaltervel interlocutor socrtico. Tomando
o exemplo do substantivo sklerotes - que logo
substitudo pelo adjetivo skleron - e recordando
uma parte anterior da discusso qual Crtilo havia
assentido integralmente, a saber, aquela onde S-
crates mostrara a Hermgenes que os elementos das
palavras (letras) de alguma maneira indicam certas
qualidades das coisas designadas (por exemplo, o
i indica a sutileza, o o a circularidade etc.), as
personagens percebem que o termo em questo
possui uma contradio interna: um lambda e um
rho, sons que servem para evocar, respectivamente,
a maleabilidade e a dureza10. Uma s palavra contm
em si o spero e o macio. No se trata mais apenas
de no conter todos os elementos necessrios para
informar a respeito da natureza da coisa designada
- no caso de sklerotes a dureza - mas trata -se de
fornecer informaes contraditrias, como o retrato
de um que se parea mais com o outro, ou ainda,
um retrato metade homem, metade mulher (retiro
o exemplo de Ademollo). Agora no estamos mais
apenas diante de uma semelhana fraca, estamos
diante de uma diferena integral, de uma oposio,
de uma contrariedade. O que nos sugere esse oximo-
ro, em termos heraclticos? Ora, talvez signifique, em
certo sentido e grosso modo, o cerne do problema da
harmonia e unidade dos contrrios. No so, afinal,
dia e noite um e o mesmo?11 Skleron: trata -se de
uma palavra heracltica12, na medida exata em que
contm ao mesmo tempo a si mesma - isto , seu
significado ordinrio, a dureza e asperidade - e o
seu sentido contrrio, a maciez e a maleabilidade.
E, no por acaso, justamente na armadilha
da mais heracltica de todas as palavras - porque no
diz apenas o dessemelhante, mas mesmo o diverso,
a completa alteridade que para um heracltico conti-
nua sendo o mesmo - que Crtilo ter forosamente
de cair. Porque agora, para saber a quem atribuir esse
retrato andrgino, para saber que estamos falando
disso e no daquilo (neste caso de dureza e no de
maciez), ele no tem mais a quem recorrer, seno
ao costume ou hbito (ethos). Essa brecha que se
abre em sua porta suficiente para que invadam
a festa tambm, junto com o costume, muitos
outros intrusos, a saber, todos os componentes do
vocabulrio hermognico elencados no incio do
dilogo: a conveno (suntheke), o acordo (homo-
logia) e a lei (nomos). Trocando em midos: para
ser extremamente coerente tambm com a afirmao
heracltica de que tudo um, Crtilo s poderia
empregar palavras do tipo de skleron. Segundo a
brincadeira socrtica, todo heracltico digno desse
patronmico deveria recorrer apenas a palavras-
-oximoros13. S assim uma coisa e seu contrrio
estariam simultaneamente indicadas, guardando uma
certa fidelidade natureza dos entes designados.
Mas nesse caso j no se saberia com certeza se
uma palavra -imagem decididamente imagem de
uma coisa, e no de outra; qualquer imagem pode
ser imagem de qualquer coisa, e a conveno
necessria para determinar a que original devemos
atribuir cada uma; dito de outro modo, nunca se
saberia exatamente de que se est falando a cada
vez, e apenas a conveno seria capaz de sanar a
dvida e, por meio de um acordo, compreender o que
o outro tem em mente ao pronunciar um determinado
termo14. Em suma: Scrates responsvel aqui por
mostrar a Crtilo, implicitamente, que ele no est
sendo suficientemente heracltico ao sustentar que
h uma estabilidade do fluxo, e que as palavras po-
dem indic -la. Agora, Crtilo levado a pensar que,
para serem naturalmente semelhantes realidade,
todas as palavras deveriam ser como skleron. E, no
10 importante lembrar que essa
discusso tem em vista o problema
dos prota onomata, os nomes
primrios, os tomos lingusticos,
digamos assim, a partir dos quais as
palavras se formam, por aglutinao
e tambm por deformao.
Esses nomes primrios foram
submetidos, ao longo do tempo, a
transformaes e deformaes. Como
me alertou C. Lvy, possvel pensar
que h uma espcie de fluxo das
palavras a partir de um ponto inicial
(outro passo em direo a um certo
essencialismo?). O proton onoma
como o enraizamento da linguagem,
seu solo arcaico.
11 Essa , evidentemente, uma
meno ao Fragmento LVII,
Mestre de quase todos, Hesodo;
esto convencidos de ele saber a
maioria das coisas, algum que no
reconhecia dia e noite, pois um.
Mas tambm poderamos evocar
uma srie de outros fragmentos, tais
como o LXXXVIII, O mesmo vivo e
morto, acordado e adormecido, novo
e velho: pois estes, modificando-
-se, so aqueles e, novamente,
aqueles, modificando -se, so estes,
e o X, Conjunes: completas
e no -completas, convergente
e divergente, consonante e
dissonante, e de todas as coisas um
e de um todas as coisas.
12 Conforme sugesto de Antonio
Queirs.
13 No posso deixar de mencionar
aqui as possveis palavras cratlicas
de Caetano Veloso em Outras
Palavras, tais como guerrapaz,
ciumortevida, frturo, homenina
etc.
14 claro que seria possvel
apelar (como fizeram outros autores
pr -socrticos) para a noo de
predominncia: indica -se o que
predomina a cada momento. Mas me
parece ser exatamente isso que est
implicado na brincadeira do skleron,
termo que, como apontam alguns
comentadores, sai no empate.
No predomina ali nem a dureza,
nem a maciez, nem o rho nem o
lambda, de tal modo que at mesmo
o predomnio posto de lado. E
esse tema ser abordado quando
Scrates, logo mais, comparar o
problema de decidir qual das duas
concepes rivais indicadas pelos
nomes da lngua grega est correta
com concorrentes em disputa
eleitoral. Devemos decidir pela
contagem de votos? Parece que, no
referido caso, ver o que predomina,
conhecer a maioria, no serve como
mtodo adequado para decidir
acerca do problema.
-
140
entanto, essa mesma admisso faz ruir a sua posio
inicial, j que o que naturalmente semelhante a
uma coisa tambm naturalmente semelhante ao
seu contrrio, e todas as palavras podem ser simul-
taneamente aplicadas quilo e ao contrrio daquilo,
a Hermgenes e ao outro de Hermgenes, a Crtilo
e ao outro de Crtilo, e assim por diante.
Essa demonstrao apenas implcita no passo
do skleron se tornar finalmente explcita em 440a -e,
passagem que consiste em um socrtico golpe final
a realmente silenciar o jovem Crtilo. Ali, Scrates,
mostrar finalmente para seu interlocutor que no
basta falar pouco ou escolher as palavras certas. Para
ser coerente, preciso calar. Os passos so breves. Em
primeiro lugar, ainda em 439e: o que nunca se en-
contra no mesmo estado no pode ser alguma coisa,
e, correspondentemente, o que o mesmo (o que
alguma coisa, o que algo) no pode transformar -se
inteiramente sem deixar de ser o que era15. Em segui-
da: isso que se transforma nunca poder ser conhe-
cido por ningum, pois no instante preciso em que
o observador se aproximasse dele para conhec -lo,
ele se transformaria noutra coisa diferente (allo kai
alloion), de forma que no se poderia conhecer a sua
natureza ou o seu estado (440a1 -3). importante
notar que esse passo do argumento se apia sobre a
imediatamente anterior afirmao de que qualquer
coisa que nunca16 se mantivesse no mesmo estado
estaria se tornando algo qualitativamente distinto
no instante mesmo em que um conhecedor tentasse
conhec -lo. E que essa integral mudana qualitativa
implicaria tambm uma mudana quantitativa. Ou
seja: a distino feita anteriormente entre mudana
qualitativa e mudana quantitativa colapsa diante
da verso radical do fluxo. Crtilo talvez devesse
responder que no o caso de postular que tudo est
mudando em todos os aspectos, mas, ao contrrio,
ele parece estar cada vez mais convencido disso.
Logo, a concluso inevitvel: No h conhecimen-
to que conhea o objeto do conhecimento que no se
encontra em nenhum estado (440a5). Finalmente,
em 440b: o prprio conhecimento precisa perma-
necer sendo conhecimento para existir. Em suma: o
conhecimento exige ao menos trs estabilidades, a
saber, a do conhecedor, a do prprio conhecimento
e a do objeto conhecido.
Como Crtilo continua irredutvel, se diz expe-
riente em tal questo e reafirma a sua adeso opinio
de Herclito (quanto mais reflito e me ocupo com
ela, tanto mais sou inclinado a aceitar a opinio de
Herclito, 440e2), incitando Scrates a refletir melhor
sobre o assunto, ento ele ser obrigado, ao menos,
a acatar a inegvel concluso que deriva do que aca-
bara de ouvir: se de fato tudo muda constantemente
em todos os aspectos, ento no h nem conhecedor
estvel, nem objeto para ser conhecido. E mais: as
palavras nunca sero naturalmente adequadas para
dizer a realidade, pois, para que fossem, em ltima
instncia elas precisariam ser incessantemente cam-
biantes, ou, alternativamente, seria necessrio usar
um nome diferente a cada vez (o absurdo das duas
situaes dispensa comentrios). Sua afasia passa a
ser o nico retrato possvel, ou ao menos o mais fiel,
da transformao de todas as coisas a fim de evitar a
justa acusao de contradio performativa falar que
nada permanece usando um vocabulrio que pressupe
existncias minimamente estveis que possam ser no-
meadas Crtilo silencia, e aponta. Em suma: na fico
cmica de Plato, Crtilo se cala por culpa de Scrates.
Em suma, para retomar e concluir: no incio do
percurso, a palavra cratlica podia dizer tudo. Ela era
um duplo da realidade, espelhando -a tal como .
medida que Crtilo toma contato com os argumentos
socrticos, a palavra vai se tornando, primeiro, uma
imagem que pode guardar graus de deformao da
realidade, e, finalmente, uma imagem decisivamente
deturpadora da realidade, de modo que deve ser
abandonada. A fala de Crtilo, ento, se torna he-
racliticamente una com o seu contrrio: o silncio,
considerado a partir de ento como a imagem mais
capaz de retratar a realidade. Esse elenchos socrtico
, todavia, de um tipo bem sui generis, haja vista
que brota de um insucesso. Scrates no consegue
fazer Crtilo se desvencilhar de seu heraclitismo. Pelo
contrrio, responsvel por faz -lo enredar -se cada
vez mais em suas malhas. Porm, decididamente, faz
com que ele seja mais coerente com a sua posio.
Scrates, por sua vez, entre um Crtilo que
pouco fala porque as palavras j podem dizer tudo e
um Crtilo que silencia porque elas no podem dizer
nada, parece querer assegurar a possibilidade de se
falar. Talvez seja lcito afirmar com Aristfanes que
15 Esse argumento lembra
significativamente a Odisseia,
versos 455 -460, onde Menelau
est narrando a sua aventura com
Proteu, esse monstro multiforme
que vira leo, drago, pantera,
javali, gua e rvore, e que
preciso agarrar com as mos para
fazer falar. Parece que Scrates
observa que, enquanto no se
fixa, Proteu no fala porque de
fato nada .
16 A expresso utilizada na
passagem citada logo antes, 439e,
o advrbio medepote.
-
desgnio 15 jul/dez 2015
141
Scrates um grande tagarela: ele recusa toda a
mentira (ou toda a impossibilidade de verdade), mas
tambm toda a verdade (ou toda a impossibilidade
de mentira); ambas culminariam no silncio cratlico.
Referncias bibliogrficas
Fontes primrias
HERCLITO (2005). Fragmentos Contextualizados. Prefcio, apresentao, traduo e comentrios de Alexandre Costa. Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda.
PLATO (2003). Cratyle. Texte tabli et traduit par L. Mridier. Paris, Belles Lettres.
PLATO (1998). Cratyle. Prsentation et traduction indite par Catherine Dalimier. Paris, G F Flammarion.
PLATO (2001). Teeteto; Crtilo. Traduo direta do grego de Carlos Alberto Nunes. Coordenao de Benedito Nunes. Belm, Editora Universitria UFPA.
PLATO. (1967). Protagoras; Euthidme; Gorgias; Mnexne; Mnon; Cratyle. Traduction, notices et notes par mile Chambry. Paris, GF Flammarion.
Fontes secundrias
ADEMOLLO, F. (2011). The Cratylus of Plato: a commentary. Cambridge: Cambridge University Press.
BARNEY, R. (2001). Names and Nature in Platos Cratylus, New York/London, Routledge.
CASERTANO, G. (2005). Discorso, verit e immagine nel Cratilo. CASERTANO, G. (ed.). Il Cratilo di Platone: struttura e problematiche. Napoli, Loffredo Editore.
CASSIN, B. (1987). Le Doigt de Cratyle. Revue de Philosophie Ancienne. Bruxelles, t. 5, n. 2.
GOLDSCHMIDT, V. (1940). Essai sur le Cratyle: contribution lhistoire de la pense de Platon. Paris, Librairie Ancienne Honor Champion.
MOURAVIEV, S. N. (1985). La premire thorie des noms de Cratyle (essai de reconstruction). CAPASSO, M. et elii (eds). Studi di filosofia preplatonica. Napoli, Bibiopolis, p. 159 -172.
PALUMBO, L. (2013). Linguaggio e rappresentazione nel Cratilo di Platone. Conferncia realizada na PUC -Rio em 13/5/13.
NIGHTINGALE, A. W. (2002). Subtext and Subterfuge in Platos Cratylus. MICHELINI, A. (ed.). Plato as Author. Leiden, Brill, p. 223 -240.
SAUDELLI, L. (2011). Heraclito Latino. Rio de Janeiro, Anais de Filosofia Clssica, v.5, n. 9. Disponvel em:
SEDLEY, D. (2003). Platos Cratylus. New York, Cambridge University Press.
Submetido em Maio de 2015 e
aprovado em Junho de 2015.