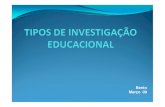chamados “ciclos econômicos” e as características Sobre os ... · individuo, mulato,...
Transcript of chamados “ciclos econômicos” e as características Sobre os ... · individuo, mulato,...
1
Associativismo e Experiência Política em Francisco Dias Bittencourt (Curitiba, 1900 - 1925)
Pamela Beltramin Fabris
(Mestra em História UFPR)
Francisco Dias Bittencourt, nascido no Paraná, era negro e pintor. Foi um membro ativo de diversas sociedades e clubes da capital paranaense. Nos jornais curitibanos da época encontramos seu nome na Sociedade Protetora dos Operários onde foi conselheiro fiscal, tesoureiro e orador durante a primeira década do século XX. Participou e ainda teve cargos na Sociedade Beneficente 13 de Maio, na Sociedade Beneficente Trabalhadores da Herva Matte, na Sociedade Protetora dos Bolieiros, entre outras. Em 1913, Bittencourt presidiu a União Central do Brasil, entidade cujas ações se destinavam a promover o fortalecimento da classe trabalhadora local. Os anos que compreenderam a trajetória e a experiência política de Bittencourt foram marcados pelo fortalecimento da racialização na sociedade brasileira que acabava de passar pelo processo de pós-abolição. Este trabalho tem como objetivo problematizar a atuação e a presença de Francisco Dias Bittencourt enquanto representante afrodescendente da classe trabalhadora curitibana durante a Primeira República. Parte-se da ideia de que a inserção de Bittencourt em diversas frentes de organização do trabalho era uma estratégia de participação política. Uma importante historiografia já apontou as diversas dificuldades e descaminhos vividos por afrodescendentes no período que sucedeu o regime escravista no Brasil. Mesmo com imensas dificuldades, Bittencourt ocupou cargos importantes e participou ativamente de uma série de lutas operárias. Palavras-chave: movimento operário; racialização; imprensa; associações
No site oficial do governo do Estado do Paraná é possível localizar um texto
intitulado “História do Paraná”.1 Trata-se de um pequeno texto abordando os
chamados “ciclos econômicos” e as características do povoamento do território.
Sobre os povos que fazem parte da “História do Paraná” encontramos ligeiras
menções a respeito de povos indígenas, bem como a presença européia, explorada
um pouco mais afundo no texto. Sobre afrodescendentes, livres ou escravizados,
nenhuma palavra. Tal fato é apenas mais um indício do já conhecido caso de
apagamento da memória da presença negra na história no Paraná.2
1 UM POUCO DE HISTÓRIA. In: Secretária de Cultura. Disponível em: http://www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1. Acessado em 10 jun. 2016. 2 Sobre este tema, ver: MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. História e Memória da Escravidão no Paraná: possibilidades de uma produção na perspectiva da História Pública. In: Anais do 7º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. 2015
2
Já, no campo da historiografia, tratando do recorte temporal referente a este
trabalho – 1900 a 1925 –, de acordo com a historiadora Beatriz Loner, nos últimos
anos vem crescendo o interesse historiográfico sobre as condições de vida de
afrodescendentes no período que sucedeu a abolição no Brasil3. Se no âmbito
nacional tal assertiva parece de fato se confirmar, a mesma situação não se aplica à
Curitiba, onde a invisibilidade da presença de afrodescendentes no campo dos
estudos permanece. Buscar romper, ainda que minimamente, com este silêncio –
ensurdecedor – referente à ausência de estudos sobre afrodescendentes no pós-
abolição, em Curitiba, faz parte dos objetivos deste trabalho4.
Assim como nas demais cidades brasileiras desta época, também em
Curitiba, discursos inspirados em ideias como as de “Modernização”, “Civilização”,
“Progresso”, “Higienismo”, “Darwinismo Social” e “Política de Branqueamento”
circulavam por diferentes espaços e deixavam marcas na sociedade as quais não
podem ser menosprezadas. Porém, ao mesmo tempo, este período – início do
século XX – também ficou marcado por uma forte organização do movimento
operário brasileiro.
Foi nesse ambiente, permeado pela discriminação racial, mas ao mesmo
tempo de fortalecimento das classes trabalhadoras, que Francisco Dias Bittencourt,
negro, pintor e militante, traçou sua trajetória política em Curitiba.
O orador e a língua
Já era início de noite de uma segunda-feira, dia 29 de agosto de 1910,
quando Francisco Dias Bittencourt, acompanhado de Benedito Tibúrcio Machado,
entrou no açougue do suíço Gotlieb Mauer, localizado no Largo da Ordem, com o
intuito de levar para a sua família uma língua de boi. A carne seria consumida no
jantar daquela noite, mas Bittencourt notou que a mesma apresentava um aspecto
estranho e, desconfiado, saiu em busca de ajuda. A desconfiança de Bittencourt, ao 3 LONER, Beatriz Ana. Trajetórias de “setores médios” no pós-emancipação: Justo, Serafim e Juvenal. In. XAVIER, Regina Célia Lima. (Org.) Escravidão e Liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise. São Paulo: Alameda, 2012. p.418 - 442. 4 Trata-se aqui de um esboço de uma pesquisa que ainda encontra-se em sua fase inicial, cujo objetivo principal é problematizar a inserção política de afrodescendentes em Curitiba durante os anos finais do Império até o ano de 1920.
3
que tudo indica, tinha sua razão de ser: há pouco tempo atrás a imprensa curitibana
vinha alertando a cidade do perigo iminente da febre aftosa; “em diversas
localidades do Estado reina a febre aphtosa”5.
Francisco Dias Bittencourt, novamente acompanhado de Benedito Tibúrcio
Machado, saiu pelas ruas da cidade carregando consigo a carne; conversou sobre a
mesma com pessoas de seu convívio que encontravam-se na rua XV de Novembro,
foi até as redações dos dois maiores jornais da cidade em circulação na época,
Diário da Tarde e A República, para contar sobre o caso e seguiu sua empreitada
até a polícia, onde deixou a língua para que exames pudessem ser realizados.
No dia seguinte os jornais já noticiavam o fato e graças a eles foi possível
saber que o caso da língua rendeu um inquérito policial cujos depoimentos foram
publicados na imprensa. No depoimento que Francisco Dias Bittencourt deu a polícia
ficamos sabendo que o mesmo tinha 32 anos, era casado, natural do Paraná, sabia
ler e escrever e que seu ofício era o de pintor. Na sua narrativa sobre o fato,
Bittencourt teria procurado argumentar que nutria uma desconfiança sobre a carne
que comprou na companhia do seu amigo, o “operário” Benedito Tiburcio Machado,
mas que não tinha o intuito de “produzir escândalos nem ferir individualidades”.6 No
dia do ocorrido, no caminho para as redações dos jornais, Bittencourt teria
encontrado os “amigos” Wallace de Mello e seu irmão Candido de Mello na
movimentada rua XV de Novembro. O primeiro o teria aconselhado a não comer a
carne e procurar a polícia.
Outro depoimento publicado pela imprensa foi o de Augusto Mauer, 20 anos,
filho do dono do açougue, e quem atendeu Bittencourt no ato da compra. Na sua
concisa versão dos fatos (ao menos a que foi publicada na imprensa), constata-se
apenas a informação que “apareceu no açougue do seu pai Gotlieb Mauer um
individuo, mulato, acompanhado de outro da mesma cor” que comprou uma língua
“sã e perfeita”7. Ao lhe apresentarem a língua supostamente contaminada teria dito
que não podia afirmar que era “a mesma que vendeu ao já referido mulato”.8
5 Diário da Tarde, 7 de abril de 1910. Curitiba. p.2. 6 A República, 31 de agosto de 1910. Curitiba. p.2 7 idem. 8 idem.
4
O próximo a ter seu depoimento publicado foi Wallace de Mello, 36 anos,
natural de Sergipe e despachante da Estada de Ferro. Segundo o jornal, esta
testemunha teria afirmado apenas que um “mulatinho, estatura baixa” foi ao
encontro dele e de seu irmão mostrando uma carne que, a seu ver, continha uma
“ferida redonda”.9
Na edição seguinte foram publicados ainda os depoimentos de Gotlieb Mauer
e de Benedito Tiburcio Machado. O primeiro, dono do açougue, com poucas
palavras, teria dito que “não conhece a pessoa que no referido dia comprou a língua
em questão, mas que seu filho lhe contara ter sido esta comprada por um mulatinho,
ficando outro na occasião a porta”10; encerrou seu depoimento com uma breve
defesa das condições higiênicas do abatedouro onde costumava comprar carnes.
Por fim, temos o depoimento de Benedito, 37 anos e natural do Paraná (não
há informações sobre sua profissão), que além de reiterar o que seu amigo já havia
afirmado, teria acrescentado que ambos foram em busca de médicos que pudessem
examinar a suposta ferida na língua. Mostrando conhecimento do ambiente em que
viviam, foram até o clube da elite da cidade, Club Curytibano onde encontraram o
médico Moura Brito que teria dito “que nada tinha a ver com isso”11, recusando o
convite de Bittencourt para analisar a dita língua.
Os laudos de três médicos solicitados para examinar o caso foram unânimes
quanto ao resultado: a língua não estava infectada com a temida doença da febre
aftosa. O jornal ligado a situação governista, num tom de caso encerrado, logo tratou
de acusar os envolvidos de “terroristas” que desejavam “caluniar autoridades infringir
prejuízos aos industriais da carne verde, ao mesmo tempo alarmando sem razão
alguma o publico.12”
O sujeito central neste caso da língua, Francisco Dias Bittencourt, será
também o personagem principal deste texto. Quando do ocorrido no açougue,
Bittencourt, além de pintor, era um membro ativo de algumas sociedades de cunho
classista de Curitiba. Ao longo de sua vida, se destacou exercendo cargos como o
9 idem.
10 A República, 2 de setembro de 1910.Curitiba. p.2 11 idem. 12 A República, 3 de setembro de 1910. Curitiba. p.1
5
de orador, secretário, tesoureiro e conselheiro fiscal pelas entidades por onde
passou. Foi professor numa escola noturna destinada a trabalhadores e redator do
jornal O Operário. Antes, porém de adentrar mais profundamente no universo da
experiência operária de Bittencourt, voltemos ao caso da língua, cujos
desdobramentos parecem nos oferecer importantes pistas do ambiente em que o
mesmo traçou sua trajetória política.
No dia seguinte a divulgação de seu depoimento pela imprensa, Wallace de
Mello procurou o Diário da Tarde a fim de reparar um erro. O jornal, a seu pedido,
publicou a seguinte nota: o Sr. Wallace de Mello não taxou de mulatinho o Sr.
Francisco Dias Bittencourt, a quem não procurou deprimir em seu depoimento,
como parece da nota fornecida pela policia.13
Surgem daí alguns questionamentos: a quem interessava “aumentar” o
conteúdo do depoimento de Wallace acrescentando “mulatinho” ao descrever
Bittencourt? Ou ainda, o que teria motivado Wallace a reparar o erro? A
preocupação de Wallace de Mello em tornar pública tal nota, bem como a
despreocupação dos demais depoentes que fizeram o uso da palavra “mulato” ou
“mulatinho” em seus depoimentos, são sintomáticos de uma característica da
sociedade brasileira: a da cor como marcador social da diferença.14 Como
apontaram Lilia Schwarz e Hebe Mattos, a Primeira República acompanhou o
fortalecimento das teorias científicas racistas e “do uso cotidiano da linguagem racial
como forma de hierarquizar e definir lugares sociais”.15
Como indica o depoimento de Wallace, o uso da expressão “mulatinho” era
uma forma de “deprimir” o sujeito, de marcar uma inferioridade em sua existência em
decorrência da sua cor. É possível que a proposital escolha de acrescentar
“mulatinho” para descrever quem era Bittencourt fizesse parte da estratégia das
autoridades, para desqualificar o mesmo, muito embora Bittencourt tivesse adotado
uma postura moderada no decorrer do caso. De um lado, a desconfiança do
“mulatinho” Bittencourt, de outro a palavra das autoridades curitibanas que, por meio
13 Diário da Tarde, 2 de setembro de 1910. Curitiba. p..2 grifo meu 14 SCHWARZ, Lilia. População e Sociedade. In: SCHWARZ, Lilia Moritz (Org). História do Brasil Nação. Editora Objetiva, 2012. v.3. p.36 15 MATTOS, Hebe. A Vida Política. In: SCHWARZ, Lilia Moritz (Org). História do Brasil Nação. Editora Objetiva, 2012. v.3. p.108
6
do jornal A República, se esforçavam para tentar afastar o fantasma da aftosa da
cidade. Ainda neste sentido, o modo como o termo foi manejado nos depoimentos
da família Mauer nos parece, de fato, uma tentativa de afirmar uma certa
hierarquização social. Proprietária do açougue, certamente, para a família, também
estava em jogo a preocupação com a idoneidade da imagem de seu
estabelecimento, a qual muito provavelmente seria prejudicada caso a suspeita de
vendas de carnes contaminadas se espalhasse pela cidade. Pois, ainda que o laudo
dos peritos apontasse para a sanidade da carne, permanecia em Curitiba um clima
de desconfiança.
De outra forma, Wallace de Mello, preocupado com o tom pejorativo do termo,
tratou de contornar a situação e uma das possíveis motivações que o levaram a tal
ato poderia ser em decorrência da relação que mantinha com Francisco Bittencourt;
quando do ocorrido, Wallace e Bittencourt eram sócios da Sociedade Protetora dos
Operários (SPO) e o primeiro, naquele momento, ocupava o importante cargo de
presidente da mesma. 16
Bem como outros espaços daquela época, a SOP, fundada em 1883,
constitui-se como um local de agregação de trabalhadores e trabalhadoras de
diversos ofícios cujos interesses em comum ajudaram a manter uma entidade
centenária. Em seu Estatuto consta que o objetivo da sociedade era auxiliar seus
sócios “em caso de moléstia, morte ou invalidez, perseguições e promover todos os
meios de instrucção e recreio que estiverem ao seu alcance.”17
Assim como Wallace, Bittencourt era um sócio ativo da SPO. Por meio do
Livro de Sócios da sociedade, pode-se constatar que entre 1901 (então com 23
anos) e 1911, Bittencourt, fez parte da entidade18 e nas atas das reuniões do
conselho da mesma, encontra-se, por diversos momentos, o registro “o sócio
Francisco Bittencourt pediu a palavra”. Suas constantes intervenções nas reuniões
demonstram a atitude de alguém que estava a par dos assuntos ligados ao cotidiano
da sociedade. Talvez essa seja uma das razões de Bittencourt ter alcançado
16 Livros de Atas da Sociedade Protetora dos Operários: 1903 a 1914. Acervo do centro de documentação da Casa da Memória de Curitiba. 17 Estatuto da Sociedade Protetora dos Operários, 1897. 18 Neste ano Bittencourt pagou apenas quatro mensalidades e seu nome desapareceu da lista de sócios. Livro de Sócios da Sociedade Protetora dos Operários, 1898 até 1921.
7
diversos cargos na SPO. Entre 1905 e 1906 obteve votos entre os seus pares para
atuar como Conselheiro Fiscal da associação, em 1907 como Tesoureiro e durante o
ano de 1908 assumiu a importante função de Orador, ao mesmo tempo em que
também era orador na “Sociedade Beneficente Trabalhadores da Herva Matte”19.
Se a princípio o caso da língua de boi parece tratar apenas de mais um
acontecimento trivial do cotidiano, ao cruzar fontes históricas é possível extrair do
caso uma complexidade invisível a uma primeira vista. Ao constatar algo de suspeito
na carne, Bittencourt poderia simplesmente ter descartado a mesma, mas optou por
expor e esclarecer o fato, optou por não se calar diante da situação mobilizando toda
uma rede de contatos. Sua ação mostra uma certa prática articulada: conversou com
o presidente da SPO e procurou as redações dos jornais (antes de ir a polícia). Em
suma, sua atitude nesse caso parece estar em confluência com a sua própria
experiência de inserção no espaço político de Curitiba, o que se deu, inclusive, pela
sua capacidade oratória.
Para Beatriz Loner, a função de orador numa sociedade destacava-se na
medida em que “no passado era a este cargo que tocava ser o porta voz da entidade
em momentos solenes ou de representação junto ás demais.”20 Também pensando
na estruturação e no modo de agir das classes operárias neste período, Cláudio
Batalha chama a atenção para a indumentária de trabalhadores em momentos como
os de greves, manifestações e participação em festejos, pois o que se nota, através
de imagens da época, é que nestes momentos era comum o uso de uma vestimenta
formal (ternos, chapéus, bengalas...), muito diferente das roupas que estes
trabalhadores usavam cotidianamente; para Batalha, “o traje nas manifestações é
apenas um dos elementos visíveis da adesão a uma linguagem política
compreensível para todos, também traduzida em outras convenções adotadas pelas
manifestações”.21 Se a indumentária fazia parte de uma estratégia dos trabalhadores
para “tornar eficaz e abrangente a mensagem política que as manifestações
19 A República, 26 de fevereiro de 1908. Curitiba. p.1 20 LONER. Op.cit. p.430 21 BATALHA, Claudio H.M. A Geografia Associativa: associações operárias, protesto e espaço urbano no Rio de Janeiro da Primeira República. In. AZEVEDO, Elciene... [et al.]. Trabalhadores na Cidade: cotidiano e cultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. p.259
8
pretendem transmitir”22, é possível que o conteúdo da fala do orador caminhasse
nesta mesma direção. Daí que o orador, mais do que alguém apto para representar
a sua entidade, era alguém responsável por tornar inteligível os anseios, as ideias os
propósitos de daquele grupo de trabalhadores.
E a desenvoltura de Francisco Dias Bittencourt na oratória parecia ser
socialmente reconhecida. Além de orador da SOP e na Herva Matte, Bittencourt
ainda exerceu essa mesma função, durante os anos de 1912, 1914 e 1915, em outra
importante sociedade, a Sociedade 13 de Maio.23 Fundada ainda 1888, tal
associação que também mantinha um caráter mutualista, era, segundo um jornal da
época, uma “aggremiação da classe preta”.24
Mas a experiência de Francisco Bittencourt nesses espaços de luta o levou
ainda mais longe. Em 1913 apareceu em Curitiba a, até hoje desconhecida,
organização operária União Central do Brasil, cujo presidente foi Francisco Dias
Bittencourt. Um dos meios de atuação de tal entidade se dava pelas divulgações de
seus princípios e ações no jornal O Operário25. De tiragem quinzenal, a primeira
edição do jornal foi lançada em 24 de dezembro de 1913 e os redatores
responsáveis pelo órgão eram Ernesto Schneider e, novamente ele, Francisco Dias
Bittencourt.
Em destaque na sua primeira edição, o jornal afirmava os ideais e objetivos
daquela organização:
A União Central do Brazil e a Secretaria Internacional Operária convidam todos, aquelles que se animam a enfrentar o Capitalismo e o Indiferentismo; (...) proteger a luta que sustentamos para melhoramento da nossa situação econômica. Appelamos para todos os operários justos, e para todos aquelles que sentem com os oprimidos; mulheres e homens, pais e mães; collocar-se nas fileiras, daquelles que há mais que 25 annos lutam para a grande e livre organização operaria internacional e para ampararmos a Imprensa Operaria. (...) Ao contrario nunca desaparecerá a opressão do tempo mediano, e a escuridão da escravatura moderna, que alastra-se e cria raízes no Brazil... Avante com a grande Organização!26
22 idem. 23 Em 1908, Bittencourt já consta como Secretário nesta mesma Associação. Diário da Tarde, 19 de junho de 1908. Curitiba. p.1 24 Operário Livre, 7 de novembro de 1897. Curitiba. p.2 25 Este jornal encontra-se microfilmado na Biblioteca Pública do Paraná que possui apenas o primeiro número em seu acervo. 26 O Operário, 24 de dezembro de 1913. Curitiba. p.1
9
Diferente das mutualistas, aqui o objetivo da entidade era mais amplo,
tratava-se de combater o “Capitalismo e o Indiferentismo”. Salta ainda aos olhos a
ligação sugerida na fonte acima: ao que tudo indica, tratava-se de uma entidade
curitibana, de orientação socialista, ligada à luta internacionalista, possivelmente a
Internacional Operária ou Segunda Internacional. Infelizmente, no momento, ficamos
apenas no campo da especulação. No entanto, cabe aqui acrescentar que o jornal
circulou pelo exterior: em 27 de janeiro de 1914, o periódico, Diario Espanhol,
informa que recebeu o segundo número do jornal O Operário, “órgão da União
Central”, cujos redatores eram Francisco Dias Bittencourt e Ricardo Kennecke.
Destacou ainda que O Operário “está dedicado á la defensa de los assuntos
operários.”27
Em seu primeiro número, O Operário, atualizava seus leitores com
informações sobre a luta dos trabalhadores no exterior, com notícias da organização
na Inglaterra e na Alemanha, bem como sobre a “situação operária no Brazil”. Sobre
a conjuntura local, denunciava as más condições dos trabalhadores na cidade:
“mesmo aqui, em Curityba diversos estabelecimentos estão em atrazo com os
pagamentos aos seus operários...”.28
Nos informes do jornal consta ainda que na agenda de reuniões para o mês
de janeiro estavam programados encontros com os setores dos trabalhadores da
Metalurgia e Trabalhadores em Couro. Interessava a Bittencourt, e aos demais
membros da União, ouvir as pautas dos trabalhadores da cidade. E foi durante uma
dessas reuniões que o grupo ficou a par das condições dos “operarios cervejeiros”:
União Central do Brazil, associação de homens de trabalho, em reunião de operários cervejeiros ficou resolvido tomar-se em consideração a reclamação feita pelos empregados da ‘Cervejaria Atlantica’ (...) Esses operários declaram que aquella fabrica é a que paga os menores salários aos seus trabalhadores, exigindo-lhes excessivas horas de trabalho, não somente nos dias úteis, como também aos domingos. (...) a directoria da “União” enviou um memorial aos proprietários do estabelecimento, expondo-lhes a sua situação e pedindo-lhes melhoria de ordenados e diminuição de horas de trabalho, tendo aquelles
27 Diário Espanhol, 27 de janeiro de 1914. p.1 28 O Operário, 24 de dezembro de 1913. Curitiba. p.1
10
industriaes negado qualquer concessão, nem siquer se dignando dar uma resposta aos operários.29
Na tentativa de pressionar os donos da Cervejaria, a União, por meio de um
boletim que circulou pela cidade em português e em alemão (os proprietários da
fábrica eram alemães e possivelmente muitos dos seus funcionários também)
propôs um boicote à empresa, tanto para o consumo da cerveja por ela produzida,
quanto para o operariado, que deveria se recusar a aceitar um emprego naquela
fábrica, “para que não seja mais tarde apontado como um trahidor da causa
operaria”.30
Este caso indica que, em pouco tempo de existência, a União Central havia
conquistado reconhecimento entre os trabalhadores da cidade. É possível que a
presença de Bittencourt na mesma tenha sido um fator favorável e de agregação
visto que, sua inserção em espaços de entidades de trabalhadores era bastante
evidente na cidade. Soma-se ainda o fato de que uma das principais funções de
Bittencourt – desde, pelo menos, 1908 – na causa dos trabalhadores se dava
através da sua capacidade oratória o que, certamente, contribuía para a sua
visibilidade local.
A ação direta da organização, bem como as pautas que a moviam, são
análogas ao que Marcelo Mattos apontou para as características dos sindicatos do
final do século XIX e início do XX. Para os militantes socialistas que atuavam em tais
grupos, tratava-se da tentativa de “organizar os trabalhadores em torno de entidades
de defesa de seus interesses mais diretamente vinculadas às condições de trabalho
e remuneração.”31
Outra significativa frente de ação da União Central do Brazil se dava por meio
da instrução. Segundo um relato de um jornalista que visitou a escola, “mantida pela
agremiação de homens do trabalho”, tratava-se de uma escola noturna, com 46
matriculados sendo na sua maioria operários adultos. Na ocasião, “a aula estava
sendo dada pelo respectivo professor Sr. Francisco Dias Bittencourt.”32
29 Diário da Tarde, 25 de novembro de 1913. Curitiba. p.2 30 idem. 31 MATTO, Marcelo Badaró. Escravizados e Livres: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008. p.127 32 A República, 4 de julho de 1914. Curitiba. p.1
11
A última notícia encontrada a respeito da União Central do Brasil data de
agosto de 1914, quando Bittencourt fora reeleito presidente da entidade.33 Mas sua
presença nas sociedades curitibanas ainda se fez sentir em 1916, quando consta
como Secretário na Sociedade Protetora dos Bolieiros e em janeiro de 1925, como
Conselheiro Fiscal da Sociedade Beneficente 25 de Janeiro. Neste mesmo ano, o
jornal Estado do Paraná registra a sua morte, aos 46 anos, vítima de uma sincope
cardíaca. No seu registro de óbito encontra-se ainda a sua função: operário.34
Considerações finais
Claudio Batalha denominou de “cultura associativa” a perceptível disposição,
no final do século XIX e início do XX, para a prática de associar-se, o que, a seu ver,
indicava uma tendência a “conferir uma certa institucionalidade a formas de
sociabilidade diversas”.35 Este parece ser também o caso de Francisco Dias
Bittencourt. Transcendendo a seu ofício (pintor), esteve ligado à “Protetora dos
Bolieiros” e “Trabalhadores da Herva Matte”, na Sociedade 13 de Maio vivenciou o
associativismo negro, na Sociedade Protetora dos Operários construiu relações com
“operários” de funções distintas até presidir sua própria organização, a União Central
do Brasil.
Sua inserção, por estes espaços de articulação das causas dos
trabalhadores, foi decisiva para a construção de uma rede de sociabilidades, visível,
inclusive, no episódio da língua. Além de Wallace de Mello, Benedito Tibúrcio
Machado, o “operário” negro que acompanhou Bittencourt, também era membro da
Sociedade Protetora dos Operários, desde, pelo menos, 1898.36
As ações de Bittencourt pela cidade, de alguma forma, contribuíram para a
causa dos trabalhadores. Como bem apontou Habe Mattos, no movimento operário
33 A República, 18 de agosto de 1914. Curitiba. p.1 34 Registro Civil de Óbito de Francisco Dias Bittencourt, Curitiba. Livro 60, p.51 Disponível em: https://familysearch.org 35 BATALHA, Claudio H.M. Culturas Associativas no Rio de Janeiro da Primeira República. In. BATALHA, Claudio H.M.; SILVA, Fernando Teixeira da.; FORTES, Alexandre. (orgs.). Culturas de Classe: identidade e diversidade na formação do operariado. Campina, SP: Editora da UNICAMP, 2004. p.96 36 Livro de Sócios da Sociedade Protetora dos Operários, 1898 até 1921.
12
encontra-se um dos locais de lutas pela ampliação da cidadania no contexto da
Primeira República brasileira,37 contexto este marcado pela disseminação das
teorias raciais. Neste sentido, certamente, as associações e organizações foram
também significativas para conquistas de outros “operários” negros daquela época.
Portanto, reitera-se aqui a necessidade de aprofundar essas pesquisas, visto que,
principalmente em Curitiba, no que tange e tais entidades, ainda pouco se sabe a
respeito de sua história.
Referências Bibliográficas
BATALHA, Claudio H.M. Culturas Associativas no Rio de Janeiro da Primeira
República. In. BATALHA, Claudio H.M.; SILVA, Fernando Teixeira da.; FORTES,
Alexandre. (orgs.). Culturas de Classe: identidade e diversidade na formação do
operariado. Campina, SP: Editora da UNICAMP, 2004. p. 95-120.
BATALHA, Claudio H.M. A Geografia Associativa: associações operárias, protesto e
espaço urbano no Rio de Janeiro da Primeira República. In. AZEVEDO, Elciene... [et
al.]. Trabalhadores na Cidade: cotidiano e cultura no Rio de Janeiro e em São
Paulo, séculos XIX e XX. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. p.251-270
LONER, Beatriz Ana. Trajetórias de “setores médios” no pós-emancipação: Justo,
Serafim e Juvenal.In. XAVIER, Regina Célia Lima. (Org.) Escravidão e Liberdade:
temas, problemas e perspectivas de análise. São Paulo: Alameda, 2012. p.418 -
442.
MATTOS, Hebe. A vida política. In. SCHWARCZ, Lilia M. (Org.) História do Brasil Nação. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 85-131 MATTOS, Marcelo Badaró. Escravizados e Livres: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008. MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. História e Memória da Escravidão no Paraná: possibilidades de uma produção na perspectiva da História Pública. In: Anais do 7º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. 2015 RIBEIRO, Luiz Carlos. Memória, trabalho e resistência em Curitiba (1890-1920). 263f. Dissertação (Mestrado em História - USP), São Paulo, 1985.
37 MATTOS, Hebe. A vida política. In. SCHWARCZ, Lilia M. (Org.) História do Brasil Nação. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p.129














![Gilbert Simondon- A Genese Do Individuo[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5571fe2149795991699ab173/gilbert-simondon-a-genese-do-individuo1.jpg)