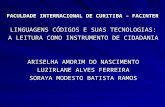Cidadania - Instrumento e Finalidade Do Processo
-
Upload
pedroandrade -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Cidadania - Instrumento e Finalidade Do Processo
191
TE
MA
S LIV
RE
S FR
EE
TH
EM
ES
Cidadania: instrumento e finalidade do processo de trabalho na reforma psiquiátrica
Citizenship: instrument and finality of the workingprocess in psychiatric reform
1 Departamento de Enfermagem/FAENUniversidade Federal de Mato Grosso/UFMT.Rua Presidente RodriguesAlves 99/601, BairroQuilombo, 78043-418,Cuiabá [email protected] 2 Universidade de Uberaba/UNIUBE.
Alice Guimarães Bottaro de Oliveira 1
Neiry Primo Alessi 2
Abstract Within the Brazilian context, startingat the end of the 20th century, the psychiatric re-form presented the necessity to rescue the rights ofcitizenship for the mentally ill. The objective wasto analyze citizenship as an instrument and anend of the team work process at six institutions ofextra-hospital mental health care belonging to thepublic network of Cuiabá (MT), in the second se-mester of 2001. Marxist dialectics was used as thetheoretical-methodological framework. It was ob-served that, even though citizen rights are af-firmed for “patients”, now called service “users”,the paradox between the concept of citizenshipand the “mentally ill patient” has not been dis-cussed as a problem and consequently has not re-sulted in therapeutic attitudes that will permit orinsure the participation of professionals and usersas citizens. Citizenship is seen as an abstraction,excluded from the sphere of work and/or treat-ment. In an alienated work there is no explicitconsideration of the contradictory situation inwhich the workers are agents that apply tradi-tionally excluding knowledge and practices andat the same time must go beyond this role andproduce practices of psychosocial care that will re-spect the citizen with mental disorders.Key words Mental health, Working process, Cit-izenship, Psychiatry, Psychiatric reform
Resumo A reforma psiquiátrica apresentou anecessidade de resgate dos direitos de cidadaniapara os doentes mentais, no contexto brasileiro, apartir do final do século 20. Busca-se analisar acidadania como instrumento e finalidade do pro-cesso de trabalho das equipes de seis instituiçõesde atenção extra-hospitalar em saúde mental, darede pública de Cuiabá (M)T, no segundo semes-tre de 2001. Utiliza-se a dialética marxista comoreferencial teórico-metodológico. Apesar de seafirmar os direitos de cidadãos para os “pacien-tes”, agora denominados “usuários” dos serviços,o paradoxo entre o conceito de cidadania e “doen-te mental” não foi problematizado e, portanto,não resulta em atitudes terapêuticas que possibi-litem ou assegurem a participação cidadã de pro-fissionais e usuários. A cidadania corresponde auma abstração, excluída da esfera de trabalhoe/ou tratamento. No trabalho alienado não se ex-plicita a situação contraditória na qual os traba-lhadores são agentes que operam saberes e práti-cas tradicionalmente excludentes e, simultanea-mente, necessitam superar esse papel e produzirpráticas de atenção psicossocial que respeitem ocidadão portador de transtorno mental.Palavras-chave Saúde mental, Processo de tra-balho, Cidadania, Psiquiatria, Reforma psiquiá-trica
Oli
veir
a,A
.G.B
.& A
less
i,N
.P.
192192192192192192192
A institucionalização da psiquiatria e a reforma psiquiátrica
A institucionalização da psiquiatria no mundoocidental se deu no contexto do Iluminismo, apartir do século 17. A razão dos antigos gregosfoi resgatada pelos filósofos dessa época e a ir-racionalidade, manifesta nos loucos e em mui-tos outros tipos de “perturbadores da ordem”,era contida e corrigida nas prisões, escolas, ca-sas de correção e casas de loucos que surgiramem toda a Europa nos séculos 18 e 19 (Porter,1990).
Tendo surgido na França, após a RevoluçãoFrancesa, a psiquiatria instituiu-se sobre o pa-no de fundo de uma nova sociedade contra-tual. Nesta sociedade, o louco é uma nódoa. In-sensato, ele não é sujeito de direito; irresponsá-vel, não pode ser objeto de sanções; incapaz detrabalhar ou de servir, não entra no circuito re-gulado das trocas (Castel, 1978).
Estudos realizados sobre o processo de de-senvolvimento desse ramo da ciência médica,embora fundamentados em diferentes paradig-mas, apontam para o fato inequívoco: a psi-quiatria só se desenvolveu após a criação dosasilos e o corolário da superlotação. Castel(1978) afirma tratar-se de uma “reforma admi-nistrativa”, como o próprio Philippe Pinel sereferiu à sua obra. O isolamento do mundo ex-terior, a constituição de um novo ordenamentointerno e peculiar ao hospício, com a finalida-de de uma correção pedagógica dos internados,foram as bases para a imposição da ordem, a te-mática principal no trato com os alienados. Arespeito da cientificidade da psiquiatria, Castel(1978) afirma que este novo ramo da ciêncianão provocou nenhuma mudança na organiza-ção do saber médico que se constituía, entre-tanto, soube marcar, com o selo médico, práticasque dizem mais respeito às técnicas disciplinaresdo que às operações de exploração clínica da me-dicina moderna.
Foi, portanto, neste cenário dos primórdiosda modernidade, no qual o homem ocupava acentralidade, a partir do deslocamento de Deusdo centro do Universo e no qual a racionalida-de humana era reconhecida como a única pos-sibilidade de construção do conhecimento, quesurgiu e se institucionalizou a psiquiatria.
O pressuposto da igualdade, na nova ordemjurídica institucional burguesa que se instala-va, determinava uma nova função para o Esta-do. A Nova Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão estabelecia a assistência pú-blica que seria determinada por lei, de acordocom a natureza do problema e a necessidade deintervenção (Castel, 1978). A cidadania era en-tão um atributo dos iguais – racionais, nor-mais. Aos alienados – despossuídos de razão –não se cogitava a cidadania, essa entendida co-mo cidadania política liberal, de participaçãonas decisões sociais.
Por volta da metade do século 20 e, portan-to, decorridos um século e meio após o surgi-mento da psiquiatria, vários movimentos decontestação a este saber e prática instituídos sefizeram notar no cenário mundial, dos quais sedestacam os movimentos denominados Psi-quiatria de Setor, na França; as ComunidadesTerapêuticas, na Inglaterra; e a Psiquiatria Pre-ventiva, nos EUA. Esses movimentos se carac-terizaram por visar a uma reforma do modelode atenção psiquiátrica, constituíram-se emrearranjos técnico-científicos e administrativosda psiquiatria, entretanto, sem a radicalidadeda desinstitucionalização proposta pelo movi-mento italiano a partir de 1960 (Rotelli et al.,1990).
A influência desses movimentos de crítica àpsiquiatria também foi notada no contexto so-cial brasileiro, principalmente a partir da déca-da de 1980, no ocaso da ditadura militar e agu-da crise econômica que caracterizaram o perío-do. A sociedade reencontrava as vias democrá-ticas de expressão e reivindicação e, neste con-texto, as idéias de Foucault, Goffman, Castel,Szasz, Basaglia e outros tiveram uma forte in-fluencia. A situação crítica em que se encontra-va a assistência psiquiátrica brasileira, nessaépoca, marcada pela falência de um modeloprivatizante que havia se instalado no setorsaúde do País, era favorável à crítica propostapor esses pensadores e por esses movimentossociais. Os hospitais psiquiátricos, centralizan-do a assistência e sendo praticamente únicos naoferta de serviços psiquiátricos no contexto na-cional, tiveram as condições internas de maus-tratos aos internados desnudadas e denuncia-das no processo social brasileiro de “aberturademocrática”.
Amarante (1995), propondo uma periodi-zação do movimento de Reforma Psiquiátricano Brasil, delimita três períodos e denominaeste primeiro período, de crítica ao modeloprivatizante, de trajetória alternativa desse pro-cesso. No segundo período dá-se, segundo omesmo autor, o momento institucionalizante doprocesso. Caracteriza-se pela incorporação do
Ciên
cia & Saú
de C
oletiva,10(1):191-203,2005
193
movimento da Reforma Sanitária e da ReformaPsiquiátrica no aparelho de Estado, na fase dereordenamento político denominado Nova Re-pública. A crítica do primeiro período, sobre acientificidade da medicina/psiquiatria e daneutralidade da ciência, cede espaço para acrença de que a ocupação do aparelho estatalgarantiria a mudança paradigmática necessáriano setor saúde. O terceiro momento é o de de-sinstitucionalização do processo. Influenciadopelo movimento italiano, resgata a crítica dainstitucionalização da psiquiatria e caracteriza-se pela valorização das micropolíticas, pelareinvenção do cotidiano em experiências loca-lizadas. A desinstitucionalização redefine o ob-jeto de intervenção, as práticas terapêuticas e oobjetivo da assistência em saúde mental.
Compreendemos a Reforma Psiquiátricacomo um movimento, um processo históricoque se constitui pela crítica ao paradigma mé-dico-psiquiátrico e pelas práticas que transfor-mam e superam esse paradigma, no contextobrasileiro, a partir do final do decênio de 1970,embora com particularidades regionais signifi-cativas, no amplo espaço geográfico nacional.Como processo histórico, insere-se numa tota-lidade complexa e dinâmica, determinada pe-los processos sociais, regionais e nacionais, apartir dos anos 80 até a atualidade.
O processo de Reforma Psiquiátrica Brasi-leiro compreende: a) movimentos popularesorganizados no sentido de questionar a funçãosocial da psiquiatria, dos hospitais psiquiátri-cos e dos trabalhadores em saúde mental, alémde reivindicar direitos dos “doentes mentais”;b) políticas nacionais delineadas principal-mente a partir dos anos 90, no setor saúde, es-tabelecendo uma rede assistencial que apresen-ta alternativas à internação em hospitais psi-quiátricos, e c) legislação nacional e estaduaisque garantem um novo modelo assistencial pa-ra o atendimento dos problemas de saúde men-tal da população, além da garantia, aos porta-dores dos transtornos mentais, dos direitos decidadania.
A partir dessas considerações sobre a pers-pectiva histórica do processo de Reforma Psi-quiátrica no Brasil, analisaremos as possibili-dades de existência dos “direitos de cidadania”dos doentes mentais ao longo dessa trajetória.
A cidadania no Brasil:Aspectos históricos
A complexidade do conceito de cidadania éconsensualmente reconhecida. Carvalho (2002),ao analisar a cidadania no Brasil, afirma queuma cidadania plena está relacionada a umideal inatingível, desenvolvido pela cultura oci-dental, entretanto, não é mera utopia desvin-culada da realidade, uma vez que se aplica co-mo parâmetro de avaliação da qualidade da ci-dadania em cada local e momento histórico.Por cidadania plena, este autor compreendeuma combinação de liberdade, participação eigualdade.
Atualmente admite-se, quase que automa-ticamente, uma relação de cidadania com di-reitos. Cidadão pleno seria aquele indivíduo ti-tular dos direitos civis (liberdade, igualdadeperante a lei e direito de propriedade), políti-cos (participação no governo da sociedade) esociais (participação na riqueza coletiva). Se-gundo Carvalho (2002), a classificação das di-mensões de cidadania proposta por Marshall,que se tornou clássica e que teve por base a his-tória da Inglaterra, pressupõe uma evolução li-near, em forma de pirâmide em que, a partir dabase, inicialmente surgem os direitos civis, emseguida os direitos políticos e, por último, osdireitos sociais. Embora sujeita a críticas, essaclassificação é ainda utilizada para a compreen-são dos direitos de cidadania ao longo da His-tória.
Uma dimensão intrínseca de cidadania é asua relação com o Estado-nação e o seu surgi-mento vincula-se diretamente à concepção li-beral do Estado. Vieira (2001) afirma que os di-reitos de cidadania são direitos exercidos no inte-rior de um Estado-nação. Tradicionalmente, oEstado nacional é o lar da cidadania.
Demo (1995) também afirma essa relação –cidadania e Estado – e explicita, inclusive, asdiferentes concepções de cidadania e direitosnum Estado capitalista e socialista. Essa relaçãotorna-se bastante complexa se considerarmos oestágio atual do capitalismo mundial, a “era daglobalização” e o predomínio das políticas neo-liberais, como abordaremos a seguir, na sua re-lação com as políticas sociais.
No Brasil, segundo aponta Carvalho (2002),houve uma inversão da lógica e da seqüênciadescrita por Marshall e “a pirâmide dos direi-tos foi colocada de cabeça para baixo”. Em nos-so País, paradoxalmente, os direitos sociais fo-ram implantados primeiro, em um período de
Oli
veir
a,A
.G.B
.& A
less
i,N
.P.
194194194
repressão dos direitos políticos e de reduçãodos direitos civis (Era Vargas); os direitos polí-ticos (aumento acentuado dos eleitores) foramexpandidos num período ditatorial e os direi-tos civis continuam ainda hoje inacessíveis àmaioria da população. Embora esse mesmo au-tor considere que não há uma única via deconstrução do processo de cidadania (garantiade direitos), nem que essa trajetória brasileirapossa ser assim tão simplificada, essa inversãodeve resultar em diferenças qualitativas impor-tantes na concepção de cidadania. Uma dasconseqüências dessa inversão peculiar no casobrasileiro, apontada pelo autor, é o fortaleci-mento do Executivo, na conformação dos trêspoderes da República.
Os tipos de cidadania propostos por Demo(1995) são: a) cidadania tutelada, característicado capitalismo perverso, em que o mercado é oregulador absoluto das relações sociais, o Esta-do é mínimo, conforme a ideologia liberal e, aspolíticas sociais são setoriais, residuais e têm afunção de controle e desmobilização; b) cida-dania assistida, característica do welfare state,no qual o mercado é o regulador final das rela-ções sociais, o Estado é máximo, a ideologia é oneoliberalismo e as políticas sociais são seto-riais, assistencialistas e visam ampliar os direi-tos sociais; c) cidadania emancipada, caracte-rística de uma sociedade alternativa, na qual omercado é o meio ou instrumento para a cida-dania, o Estado tem o tamanho necessário e le-gítimo, a ideologia é democrática e as políticassociais são matriciais e visam ao desenvolvi-mento humano sustentado. Torna-se evidenteo caráter utópico, comparado à realidade brasi-leira, da cidadania emancipada definida peloautor.
Ao relacionarmos as três diferentes concep-ções de cidadania propostas por Demo (1995)ao processo histórico brasileiro de aquisição dedireitos, descrito por Carvalho (2002), pode-mos compreender que a predominância da ci-dadania assistida, nas últimas décadas do pro-cesso político-social brasileiro, pode ser decor-rente da inversão da pirâmide dos direitos e dofortalecimento do executivo.
Explicitadas as balizas teóricas – reformapsiquiátrica e cidadania – apresentamos aspossibilidades e limites de sua materializaçãono contexto da sociedade brasileira e suas par-ticularidades no cenário da atenção extra-hos-pitalar da rede pública de Cuiabá (MT).
A cidadania do doente mental na nova ordem democrática brasileira
A Reforma Psiquiátrica, no Brasil, foi desenca-deada num momento de intensa mobilização so-cial pelo retorno da ordem democrática e foi for-temente influenciada por movimentos de refor-ma na assistência psiquiátrica na Europa e nosEUA, a partir da segunda metade do século 20.
Birman (1992), analisando esses movimen-tos europeus e norte-americanos na suas limi-tações e possibilidades de afirmação da cidada-nia dos doentes mentais, afirma que os movi-mentos reformistas denominados comunidadeterapêutica e psicoterapia institucional tinhamcomo característica estar circunscritos às insti-tuições psiquiátricas e admitir a participaçãosocial dos internados naquela microssocieda-de. Desta maneira, esses movimentos não su-peravam o limite fundante da psiquiatria – aimpossibilidade de inserção da loucura no es-paço social que havia sido conformado ex-cluindo-a – e a cidadania encontrava este limi-te intransponível.
A psiquiatria de setor (França) e a psiquia-tria comunitária (EUA) visavam à ampliaçãodesses movimentos em direção ao espaço so-cial e o último visava ao estabelecimento depráticas psicopedagógicas de saúde mental comobjetivos preventivos. Nele, segundo Birman(1992), o projeto político de produção de saúdemental se identificou diretamente com o projetode produção do cidadão ideal para o espaço so-cial [...] o discurso psiquiátrico se estabeleceu co-mo regulador ativo da marginalidade social e co-mo instituinte das regras básicas da cidadania.[Portanto,] a tentativa de ruptura da psiquia-tria com o espaço asilar teve como contrapartidaa produção de uma ordem social asilada pela psi-quiatria, onde essa regularia a produção de cida-dania.
A psiquiatria democrática italiana chocou-sediretamente com o registro da exclusão social daloucura, promovendo a desalienação asilar daloucura com a inserção desta no espaço social.Pretendia-se restaurar a cidadania da loucura,que teria sido retirada após séculos de exclusão so-cial e de violência psiquiátrica (Birman, 1992).Desta maneira, a loucura foi compreendida co-mo uma forma de alienação social e o projetopolítico de cidadania para os loucos seria a pró-pria estratégia para o seu reconhecimento comosujeitos de razão e de vontade. Esse movimentoitaliano de desinstitucionalização influenciou atrajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil.
Ciên
cia & Saú
de C
oletiva,10(1):191-203,2005
195
No contexto social brasileiro, a partir dosanos 80, sob influência de todos esses movi-mentos mundiais de reforma e, internamente,a superação da ditadura militar pelo processode redemocratização, a cidadania foi incorpo-rada à linguagem de movimentos sociais devanguarda e também na área de saúde e de saú-de mental.
Devemos reconhecer que o lento processode reorganização da sociedade brasileira em di-reção ao estado de direito, característico desseperíodo, foi eficaz no sentido de absorver im-portantes demandas sociais da população, tra-duzindo-as para a norma legal (haja vista aprópria promulgação da Constituição cidadã,de 1988), entretanto, a produção de respostasefetivas a essas demandas, é bastante tênue,mesmo tendo-se passado mais de 20 anos.
A referência à cidadania dos doentes men-tais está presente nos textos das três Conferên-cias Nacionais de Saúde Mental realizadas noBrasil a partir do final do século 20 (Brasil,1987; 1992 e 2001) e em inúmeros textos de ar-ticuladores técnico-políticos envolvidos com oprocesso de Reforma Psiquiátrica Brasileira. Acidadania é abordada com enfoques diversifi-cados, referenciados, principalmente, aos dife-rentes momentos/fases da trajetória da Refor-ma Psiquiátrica.
Uma característica fundamental do novo“local social” da loucura/doença mental, iden-tificada nessa produção teórica e relacionadadiretamente a essa possibilidade de cidadaniapara os doentes mentais, é a substituição dostermos “doença” e “doente mental” por “sofri-mento psíquico” e “pessoas portadoras de so-frimento psíquico”. Essa diferença pretendeu (epretende) ir além de uma mera adequação téc-nica ou semântica. Trata-se, como consta nadescrição dos marcos conceituais da II Confe-rência Nacional de Saúde Mental, de construiruma mudança no modo de pensar a pessoa comtranstornos mentais em sua existência sofrimen-to, e não apenas a partir de seu diagnóstico (Bra-sil, 1992), contextualizando o processo saú-de/doença mental e vinculando o conceito desaúde ao exercício da cidadania.
Adotando-se a trajetória descrita por Ama-rante (1995), a produção sobre o debate da ci-dadania na sua relação com a doença mental,na segunda fase da Reforma Psiquiátrica (insti-tucionalizante), período compreendido princi-palmente na década de 1980, enfatiza o debateem torno das questões jurídicas, legislativas eas relacionadas ao macro modelo assistencial
(Reforma Sanitária, Constituição Federal, LeiPaulo Delgado), todas referenciadas à uma mu-dança macro organizacional que garantiria osdireitos de cidadão ao louco (Pitta & Dallari,1992; Delgado, 1992a; Padrão, 1992). Isso se re-fere ao momento político – tentativa dos movi-mentos populares organizados em buscar ga-rantir nos textos legais e oficiais os direitos ci-vis e sociais. Sabemos hoje que não basta a ga-rantia legal ou o documento oficial; cidadaniase conquista no cotidiano, nas relações diárias,micro e macrossociais.
As macro-mudanças legislativas, jurídicas eadministrativas eram, portanto, nesse períodoinstitucionalizante da Reforma Psiquiátrica,consideradas necessárias e, até mesmo, a garan-tia de operacionalização de novas práticas tera-pêuticas. O movimento de Reforma Psiquiátri-ca, na época, admitia a cidadania como relacio-nada ao resgate da dívida social para com osloucos. Excluídos socialmente ao longo da His-tória, bastaria, pois, que a sociedade abolisse asformas institucionais concretas de exclusão –leis restritivas, manicômios, grades – e identifi-casse “os loucos” como cidadãos iguais perantea lei, para que os seus direitos de cidadania fos-sem garantidos.
Analisando esse período da Reforma Psi-quiátrica, Bezerra Jr. (1994) afirma que a pers-pectiva de cidadania como sinônimo de igual-dade e liberdade apresenta pelo menos doisequívocos: a exclusão pode ser muito mais refi-nada e sutil (e mais eficaz) do que os muros egrades concretamente identificados no tecidosocial, e o princípio da igualdade pode se con-figurar como injusto; não é o caso de tratar to-dos igualmente, mas de identificar e respeitaras diferenças, pois sempre haverá aqueles paraquem a vida é mais difícil, o sofrimento mais pe-noso e a necessidade de ajuda mais constante(Bezerra Jr., 1994).
A partir de análises que buscam ir além damera afirmação dos direitos de cidadania co-mo a necessidade daquele momento para a me-lhoria da assistência aos doentes mentais, Bir-man (1992), Bezerra Jr (1992) e Delgado (1992b)destacam a situação aparentemente paradoxalimplícita na relação cidadania & doença mentaltão presente nos discursos da Reforma Psiquiá-trica. Tal paradoxo se explicita na concepção deque a cidadania, fundada em princípios libera-lizantes, pressupõe a liberdade e a igualdadecomo seus atributos básicos, enquanto que aassistência (médica, jurídica) ao doente mentalpressupõe o amparo social do Estado, muitas
Oli
veir
a,A
.G.B
.& A
less
i,N
.P.
196
car as relações saúde x doença mental e cidada-nia & doença mental tornam-se um enigma in-decifrável ou uma barreira intransponível. Apercepção dos fenômenos mentais e sociais,aprisionados numa perspectiva evolucionistalinear composta de processos mecânicos, é umfator limitante para que se compreenda as am-plas e diversas modalidades, etapas e possibili-dades, seja de adoecer mentalmente, seja deexercer a cidadania.
A psiquiatria – ciência e prática – funda-sesobre o irreconciliável paradoxo da doençamental versus cidadania, pois apreende a doen-ça mental a partir de uma ordem ou normadesqualificadora. O ser humano desprovido derazão e, portanto, de direitos – doente mental –não pode aspirar a condição de exercício de di-reitos. Há uma contradição intransponível nes-sa perspectiva.
A Reforma Psiquiátrica, que além de redefi-nir práticas terapêuticas e administrativas notrato com pessoas que sofrem mentalmente,admite (pelo menos ao nível do discurso oficialprogramático) um novo lugar social para o so-frimento mental, pode ousar a busca de umaoutra relação, a da doença mental e cidadania.
A ampliação da compreensão da cidadania,não mais restrita ao reconhecimento de direi-tos, mas ao processo ativo de ampliação da capa-cidade de todos e de cada um agirem de modo li-vre e participativo (Bezerra Jr., 1992), permite ecompõe a idéia de loucura/doença mental nãomais como defeito, falha ou desqualificação.Entretanto, as condições sociais a partir dasquais é possível (ou impossível) a concretizaçãodessas construções teóricas exigem aprofunda-mento conceitual e auto-crítica, além de condi-ções objetivas que permitam o seu desenvolvi-mento. É desse momento de dificuldade rela-cionada a uma determinação pragmática dosobjetivos de serviços de saúde mental, e da ne-cessidade de se manter uma utopia de maior so-lidariedade humana que estamos falando quan-do abordamos a cidadania de doentes mentais.
A cidadania dos portadores de sofrimento mental nos serviços de saúde mental
A superação das práticas custodiais, caracterís-ticas do modelo médico de atenção psiquiátri-ca e centradas no hospital psiquiátrico, rumoao desenvolvimento de modos de cuidar/tratarvoltados para a atenção psicossocial é algo já
vezes incluindo a interdição e a imposição deum tratamento baseado na negação de direitoscivis (liberdade). Esse mecanismo de exclusãofoi estruturante na psiquiatria, como já referi-mos anteriormente. E, em sendo estruturante,negá-lo significaria, no limite, negar toda a“instituição-Psiquiatria”. Trata-se, portanto, dealgo muito mais profundo do que mudançasadministrativas e legais, é uma “nova constru-ção social/ cultural”, para um “novo objeto”.Não mais o doente mental a ser excluído da so-ciedade, mas a convivência com uma pessoaque pode ser radicalmente diferente dos pa-drões culturais mas que, ainda assim, pode terdireitos de cidadania, ou seja, de estar “incluí-do” como sujeito de direitos nesta sociedade.Isso implica alterações profundas nas relaçõessociais em geral, muito mais amplas do quemodificações nas instituições que tratam osdoentes mentais (Birman, 1992).
Num terceiro momento da Reforma Psi-quiátrica (o da desinstitucionalização), ao com-preender a cidadania não mais como um atri-buto formal, mas um projeto aberto a ser cons-truído cotidianamente e, após reconhecer queno Brasil, nos anos 80 (e ainda hoje), o maisimportante não era reivindicar os direitos de ci-dadania, mas construir essa cidadania, admitia-se mais livremente a necessidade de desconstru-ção do manicômio em todas as suas estruturas– internas e externas. A Reforma Psiquiátricapassou a ser compreendida como um interlo-cutor indispensável no processo de construçãoda cidadania brasileira (Bezerra Jr., 1994).
Sinalizando para diferenças significativas,tanto no que se refere à necessidade de se bus-car no cotidiano e nas micro-relações a possi-bilidade de construção de cidadania para osdoentes mentais, tanto para o fato de que insti-tuições e técnicas não asseguram direitos de ci-dadania para doentes mentais, Saraceno (2001)afirma a possibilidade de sua construção comometa e instrumento de reabilitação psicosso-cial, compreendendo que os seres humanos, osdoentes mentais inclusive, atuam em três cená-rios: habitat, rede social e trabalho com valorsocial. A habilidade ou “desabilidade” para osexercícios contratuais nessas três esferas de re-lações é o que deve ser analisado quando se temem mente a reabilitação. A habilidade do indi-víduo em efetuar plenamente suas trocas nes-ses três cenários é a medida de exercício de suacidadania, segundo este autor.
Num cenário positivista e funcionalista,que predomina em nossa sociedade para expli-
Ciên
cia & Saú
de C
oletiva,10(1):191-203,2005
197
balho e nunca, em toda a sua vida, recebeu salá-rio em dinheiro, somente de vez em quando al-gum trocado para cigarro, doces ou outras miu-dezas. Há 10 anos mora com uma família para aqual trabalhava em troca de abrigo, comida eroupas. Morava em um quarto nos fundos da ca-sa. A vizinha informa que há alguns meses elavem apresentando “comportamento diferente”,não faz os afazeres domésticos como deveria, égrosseira com a “patroa”, não obedece às ordens,às vezes dorme o dia todo. Em vista disso, a pa-troa não a quer mais, porém, não tem para ondeencaminhá-la, uma vez que ela não tem famíliaconhecida. Tem aparência de deficiente mental(grau leve), uma dificuldade moderada de se ex-pressar, porém compreende todas as perguntasfeitas, diz que a patroa é que é agressiva com ela,por isso rebelou-se não trabalhando mais. Faztratamento com cardiologista há vários anos. Avizinha solicita aposentadoria, uma vez que ela“não está bem e não tem como se manter sozi-nha”. Enfermeiro anota a história na folha deatendimento e a encaminha para o assistente so-cial. Este relatou no prontuário: “Orientei paraaguardar consulta médica à tarde. Orientei acom-panhante sobre internação para conseguir apo-sentadoria”, pois com um CID/diagnóstico psi-quiátrico aí fica mais fácil o laudo pericial paraaposentadoria.
A perspectiva de sujeito-cidadão que se ob-serva nos discursos técnico-políticos da Refor-ma Psiquiátrica nos parece bastante diferenteda implícita nos exemplos. Aqui, observamosum usuário que não participa das decisões te-rapêuticas, desde as mais simples, como orga-nizar um lanche no seu local de atendimento.Indagamos se a dificuldade é do usuário ou doprofissional nessas situações, uma vez que a au-toridade exercida por este é tão evidente quenão deixa espaço para o trânsito livre dos usuá-rios, controla todos os participantes, tempos eespaços da atividade realizada, como se obser-va no primeiro registro de observação.
No segundo, a situação de desfiliação ouvulnerabilidade relacional, aliada à precarieda-de do trabalho (Castel, 1994), é medicalizadapara que possa ser absorvida pelo contexto as-sistencial. O complexo problema físico, emo-cional e social do “paciente” (ausência de vín-culo familiar/relacional/afetivo, exploração sis-temática da força de trabalho sem nenhumagarantia de seguridade social, provável defi-ciência mental, provável doença cardíaca), queresultou em uma “alteração” do comportamen-to – antes dócil e obediente para o atual insub-
bastante difundido no discurso do movimentode Reforma Psiquiátrica brasileira. Entretanto,serviços extra-hospitalares, na realidade estu-dada, apenas facilitam, mas não garantem, aexecução desse projeto terapêutico inovador.
Conceitos como cidadania, autonomia e so-cialização se apresentam ainda de modo bas-tante conflituoso diariamente, no cotidiano dasequipes de saúde mental, nas suas relações comos usuários. As concepções de sujeito autôno-mo, tendo em vista um processo de reabilita-ção psicossocial, por exemplo, podem ser bas-tante divergentes, como aponta Saraceno (2001).Portanto, podemos observar, nesse aspecto,concepções teóricas das mais reducionistas àsmais ampliadas. Das observações realizadas,podemos considerar alguns exemplos dessesconceitos de extremo reducionismo, em situa-ções de cuidado em serviços abertos que pode-riam, entretanto, ser canalizadas para um grauelevado de participação e decisão dos sujei-tos/usuários se estivessem inseridas em proje-tos terapêuticos democráticos:
Relato de Observação – Serviço No 2 Doisprofissionais trouxeram pipoca e limão para queos usuários fizessem um lanche. Explicam que devez em quando planejam isto às sextas-feiras,com ou sem a participação dos usuários nessa de-cisão. Eles se dividem na atividade de prepara-ção. Um dos profissionais determinou: quem pre-pararia a pipoca e o suco; quem faria a limpeza;como todos deveriam ser servidos. Foi preparadaa pipoca e em seguida feito o suco. Um profissio-nal permanecia na porta da copa, controlandopara que ninguém se servisse antecipadamenteda pipoca, enquanto o suco não estivesse pronto.Num momento em que ele saiu da porta, umausuária serviu-se de pipoca e saiu da copa. Emseguida foi repreendida publicamente (dedo emriste) pelo profissional por isto. Pronto o suco, foicolocada uma mesa separando a copa da sala.Dois usuários que serviam o suco e a pipoca fica-vam do lado de dentro da copa, junto com umprofissional; os demais, do lado de fora, pegavamda mesa as canecas com o suco e pipoca e perma-neciam na sala comendo. Os diálogos eram rarose fragmentários.
Relato de Observação – Serviço No 1 Umausuária apresenta-se à recepção como primeiraconsulta, é então encaminhada para “colher ahistória” com o enfermeiro. Resumo: Mulher, 49anos, residente em Cuiabá, acompanhada poramiga/vizinha, conta que trabalha como babá edoméstica desde os 12 anos de idade, morandoem casa de estranhos. Nunca teve carteira de tra-
Oli
veir
a,A
.G.B
.& A
less
i,N
.P.
198
misso e “indolente” – é visto na perspectiva deque antes era “normal”, agora é “anormal”. Sen-do “anormal”, deve ser traduzido para um có-digo do diagnóstico médico para que possa serabordado (contido) pela via da assistência ecorrigido para que volte ao “normal”. Todas asexpressões de dificuldades nas condições de vi-da são convertidas em sinais de uma doença.Não se tem aqui nenhuma problematização dacondição de cidadania desse usuário. A uma si-tuação de carência de direitos sociais seráacrescida a internação psiquiátrica, para a qualconcorrerá, provavelmente, o status de pericu-losidade e estigma próprios dos “doentes men-tais” que, devido ao grau de risco social, neces-sitam ser internados. Assim, estamos referidosnesse quadro à concepção de “cidadania tutela-da”, pautada pela geração e manutenção de po-pulações que se mantêm à margem do sistemasocial, pelas políticas sociais de controle e des-mobilização da sociedade (Demo, 1995). Man-tém-se e aprofunda-se a desigualdade. A assis-tência está organizada para a manutenção pre-cária da vida e, uma vez que essa não tem maisvalor para o trabalho, pode ser descartada.
A dramaticidade dessa situação, ao mesmotempo em que escancara os mecanismos per-versos de exploração na esfera do trabalho,também desnuda a função dos serviços de aten-ção que, mesmo denominando-se “de atençãopsicossocial”, estão claramente identificadoscom o controle social. Os profissionais/traba-lhadores desses serviços estão atuando comoagentes da repressão e da manutenção da or-dem social e pouco referidos a uma auto-críticasobre a sua função num aparato tradicional-mente repressivo na sociedade (as instituiçõespsiquiátricas). A percepção de si mesmo comocidadão é, portanto, esvaziada ou ausente, nes-ses profissionais, como de resto é também emgrande parte da sociedade atualmente.
Nessas situações descritas e em várias ou-tras, a complexidade social trazida pelos usuá-rios era rapidamente administrada pela equipe,através da medicalização do problema, com aconseqüente anulação do sujeito-cidadão pre-sente na situação. Resolução essa distante da-quela que preconiza a atenção psicossocial daqual nos fala a Reforma Psiquiátrica nos seusprincípios e muito semelhante às práticas segre-gadoras, manicomiais e excludentes, que se pre-tendia extinguir com a rede de serviços de saú-de mental atual. Implícita ou explicitamentenos relatos verbais e nas ações assistenciais dosprofissionais que compõem as equipes estuda-
das, manifesta-se a alienação de sua responsabi-lidade técnica, ética e política, como se podeconstatar, por exemplo, no fato de que rarosprofissionais das equipes estudadas, participa-ram da I Conferência Municipal de Saúde Men-tal e da II Conferência Estadual de Saúde Men-tal de Mato Grosso, realizadas em Cuiabá em2001. Muitos deles não sabiam sequer da reali-zação de ambas ou desconheciam o seu signifi-cado. Um dos profissionais, referindo-se à Con-ferência Municipal de Saúde Mental, informoua um usuário, no seu local de trabalho que: Nasemana que vem, não sei se aqui vai funcionardia 20 porque vai ter um “negócio” de saúde men-tal aí, que as pessoas vão, então acho que aquinão vai nem abrir (Profissional No 16).
Foram raros os relatos que denotavam in-formação adequada sobre a realização e signifi-cado das Conferências e Conselhos de Saúdeou que atribuíam alguma importância a essasinstâncias de participação política, como o quese observa a seguir: Eu acho muito importante aparticipação nas Conferências [de Saúde Men-tal], porque é lá que são definidos os destinos daassistência nessa área, é lá que é referendado, pe-los trabalhadores e usuários, a política (Profis-sional No 26).
Indicações que davam conta de uma situa-ção de desinformação ou equívocos e alienaçãoem relação às instâncias de participação e con-trole social na área da saúde foram mais pre-sentes entre os profissionais, e podem ser ob-servados nos relatos abaixo:
Ficam falando de Reforma Psiquiátrica... emConferência de Saúde Mental... como é que vaireformar alguma coisa se não tem remédio propaciente ficar em casa!? Eu acho que isso aconte-ce [falta de medicamentos] porque as pessoasque resolvem essas coisas [qual medicamentocomprar e em que quantidade] são extrema-mente burocráticas. Elas fazem as portarias, fa-zem essas coisas de acordo com uma ideologiaprópria, regidas pela burocracia, são pessoas degabinete! Elas não têm a prática e não ouvemquem está na prática! Tem, por exemplo, o Con-selho Estadual de Saúde (CES), que deveria to-mar uma decisão sobre isso, mas eu não tenhoacesso a isso! [desconhecia a representação dosConselhos Regionais de Medicina, Enferma-gem e Psicologia no CES e se surpreendeu aoser informado sobre isto] (Profissional No 4).
Às vezes eu me pergunto, que bagunça que vaiser... o dia que fechar mesmo os hospitais psiquiá-tricos e só ficarem os hospitais gerais... vamos terque fazer alas de psiquiatria dentro dos hospitais
Ciên
cia & Saú
de C
oletiva,10(1):191-203,2005
199
gerais, porque, vamos dizer que você tem um car-diopata num quarto e um doente começa a gritarno outro, começa a quebrar alguma coisa... e opessoal sem experiência para conter! [...] O hos-pital psiquiátrico é o local apropriado para trataresses pacientes [...] o pessoal de enfermagem nãotem medo dos pacientes, de enfrentar, de saber co-mo agir, se aproxima, fala com uma certa dureza.[...] Eu vejo a Reforma Psiquiátrica com olhos debastante preocupação. Porque tudo neste País, etalvez no mundo, é moda! Lança uma minissaialá na França e pega a moda no mundo todo, prin-cipalmente agora que nós temos uma aldeia glo-bal. Então, vamos fazer a Reforma Psiquiátrica!Mas vamos como? Neste País tem essa história,fazem leis maravilhosas e nunca dão condições deexercer essas leis. [...] antes a gente tem que pen-sar em humanizar a assistência! Depois a gentepensa em Reforma Psiquiátrica, nessa lei, no pa-pel (Profissional No 27).
Evidencia-se, portanto, uma dificuldade dosprofissionais se perceberem como sujeitos dasdecisões técnico-políticas da área. As instânciasde decisão coletiva (no exemplo, o Conselho Es-tadual de Saúde) eram percebidas como esferasde poder não representativo, não coletivo. Iden-tificam a tomada de decisões técnico-políticascom a “burocracia” e, a partir daí, elas estão fo-ra da esfera de alcance dos profissionais e usuá-rios. Consideram que a instância de decisões éuma abstração – “burocracia”, “pessoas de gabi-nete” – ou que os processos jurídico-legais são“moda”. Assim, a Reforma Psiquiátrica é uma“moda” que vem de uma realidade “externa” aocontexto de seu trabalho e da organização daassistência da qual faz parte. Não há, portanto,a evidência de que as mudanças dos processosterapêuticos advêm da crítica a uma determina-da maneira de assistir (modelo médico-psiquiá-trico) e que, a partir dessa crítica, busca a suasuperação. Trata-se de incorporar algo que vemde fora, que impõe modificações que são vistas“com olhos de bastante preocupação”, uma vezque modificam aleatoriamente uma realidadepercebida como adequada – o tratamento de“doentes mentais” em hospital psiquiátrico, fei-to por pessoal “que sabe contê-los”.
Aos usuários, nesses serviços, resta a sub-missão à condição de “pacientes”. Submetidos arotinas terapêuticas tecnicamente reducionis-tas e eticamente desrespeitosas que apontampara ele e seus familiares o seu “lugar” – consu-mir de maneira acrítica a assistência que o ser-viço e os profissionais oferecem e agradecer co-mo ficou presente na fala: Bom, aqui... eu não
posso dizer nada contra elas [referindo-se aostrabalhadores de enfermagem] eu sou bem aten-dido... com certeza o que tá no alcance delas ...eu não posso exigir mais, né? [...] elas medem apressão, aplicam injeção... dão assistência né?[...] Se a gente não está passando bem... de acor-do com o medicamento, sempre elas arrumam...dão um jeito de arrumar... medem a pressão....observam se a pessoa está no seu estado ou não...como está... [...] no dia que vai consultar com omédico, elas medem a pressão [...] aqui, a gentetoma o medicamento sem precisar ficar interno,né... [...] Eu acho bom... pelo menos... a gentepassa a distrair durante o dia e à noite... a gentetá em casa, né. [...] Porque... com a família... devez em quando... fico contrariado, perco o sono emesmo tomando o medicamento eu não consi-go... dormir aí que eu fico descontrolado... aí temque voltar à internação... e agora... qual é o chefede família, que tem filhos, que não passa contra-riedade? E eu sou pai de 13 filhos e ainda crieium casal de netos, são 15 filhos... [...] quandotem acontecido isso: eu ficar descontrolado eu te-nho ido direto com o médico, né. Eu tenho ido di-reto ao médico. [...] Ele dá o encaminhamento.Inclusive eu vim pra tomar o medicamento e vol-tar e ele achou que eu precisava internar, porqueeu estava descontrolado... [...] Foi isso o queaconteceu... [...] Não, ele mesmo não disse na-da... eu fui pra internação... a diretoria mesmo... essa parte ... da medicina... que entendeu queo meu caso era da internação (Usuário No 4).
Embora entremeado de relatos de condutasque apreendem a “doença mental” a partir deuma abordagem essencialmente médica – cen-trada na medicação, no trabalho médico, na in-ternação – e nos aspectos complementares –controle de pressão (quando realizada), ver setomou o remédio direito, tomar o remédio paranão se internar – observa-se um agradecimentoimplícito ou explícito. Em todos os serviços, fo-ram raros os momentos em que algum usuárioexpressou qualquer atitude ou verbalização dedescontentamento, crítica ou não-concordânciacom as atitudes terapêuticas. Isso, por si só, me-receria uma auto-crítica institucional e profis-sional: como é possível lidar com situações tãocomplexas, estressantes, conflituosas, que en-volvem o atendimento de pessoas com proble-mas mentais e seus familiares, sem que essesconflitos, ou inconformidades, ou divergênciassejam explicitados? Não foram observadas si-tuações de impasse ou de crise em relação a is-to. Entretanto, algumas informações coletadasno cotidiano dos serviços podem esclarecer
Oli
veir
a,A
.G.B
.& A
less
i,N
.P.
200
porque esses conflitos não são evidentes. De ob-servação realizada apresento essa maneira deatuar profissionalmente que determina comque os conflitos (esperados) entre os membrosdas equipes ou entre os profissionais e usuá-rios/familiares não sejam explicitados como tal.
Relato de Observação – Serviço No 1 Nu-ma manhã, um usuário acompanhado por umfamiliar chegou às 9 h. Não havia mais médicono serviço, pois o que constava na escala do pe-ríodo da manhã havia terminado o atendimentohá alguns minutos e havia ido embora. Foi infor-mado por um servidor do setor administrativoque teria que esperar até a tarde para o atendi-mento. O familiar então perguntou para o servi-dor, em tom de crítica, qual era o horário do mé-dico. Ele disse, de maneira educada, pausada eironicamente: “O horário do médico é de quatrohoras, no período da manhã, das 7 às 11 horas,mas, como em todo lugar, os médicos daqui che-gam, atendem quem tiver marcado e vão embo-ra, não cumprindo as 4 horas”. O usuário escu-tou calado e em seguida foi embora. O servidorentão se dirigiu a mim e disse: “Quando chegaalguém assim... olhando no relógio e perguntan-do o horário do médico... ele tem razão... mas,antes que ele diga algum desaforo pra mim, queestou aqui cumprindo o meu horário, eu já digologo assim... que ele vai embora. Pro médico elesnunca dizem nada...”
Essa conversa foi presenciada pelo segurançado local que então se aproximou e disse: É as-sim... Ontem à tarde, o doutor X, internou váriospacientes, e tinha um que ficou aqui fazendo ce-ra, conversando com a família, ele e a família di-zendo que ainda ia ver se ia internar e tal... Daía pouco, o doutor X saiu do consultório e disse:“O que é que esse paciente tá fazendo aqui? Eu jáinternei ele e lugar de paciente internado é ládentro!” (apontando a porta da internação). Aí,o paciente entrou, a família foi embora... semdiscutir mais nada.
Assim, por falta de espaço democrático pa-ra expressão, as divergências e conflitos não seevidenciam no cotidiano. Há um clima aparen-temente de “harmonia” entre os trabalhadorese entre esses e os usuários. A submissão domais fraco ao poder do mais forte é tacitamen-te realizada, em função da percepção da reali-dade, por parte dos usuários, de que não podehaver qualquer outro encaminhamento paraessas situações. Assim, o exemplo acima pareceevidenciar que tentar uma aliança com o maisforte é o recurso comumente encontrado pelosoprimidos; a aliança com o usuário – tão pre-
judicado e oprimido quanto os servidores denível médio que permanecem no serviço mes-mo na ausência do médico – é descartada emfavor de uma observação tácita e implícita deque o mais forte/opressor é inacessível e inatin-gível e, em sendo assim, resta se aliar a ele naopressão do outro.
Situações de divergência relacionadas a con-dutas terapêuticas despertavam, geralmente,entre os profissionais, algum descontentamentoe a constatação de que não era possível fazer na-da para resolvê-las. Em se tratando de serviçosque não possuem uma gerência ou coordena-ção técnica, isso é ainda mais acentuado. Em re-lação aos usuários, essa divergência só encon-trava uma possibilidade de encaminhamento: asubmissão do mais fraco ao mais forte. Em am-bas, deduz-se uma percepção alienada do pro-cesso de trabalho, uma não inclusão da cidada-nia como conceito norteador da assistência,nem no sentido de possibilitar uma auto-críticapessoal, profissional, institucional, nem no sen-tido de incluir a pessoa portadora de sofrimen-to mental como cidadão – sujeito de direito –no seu processo assistencial.
Algum pressuposto de cidadania relaciona-do a uma concepção assistencialista pode tam-bém ser evidenciada em discurso de dirigente,como observa-se a seguir: Para a Reforma [Psi-quiátrica] dar certo é preciso que tenha profissio-nais humanos [...] pessoas que lidam com o ou-tro como companheiro, como colega, como umarelação de seres humanos iguais e não de poder,de profissional e paciente, aquela coisa distante[...] tem que ter um certo envolvimento, vocêatende o problema mental dele mas você sabe on-de ele mora, as condições de vida dele, você auxi-lia num auxílio-doença, numa cesta básica, numemprego, você tem que ver ele como um todo epra isso você tem que ter uma certa afetividade,você não pode ver ele só como um diagnóstico(Dirigente No 10).
Nos serviços estudados, práticas que incor-poravam no seu fazer terapêutico o resgate dacidadania dos indivíduos acometidos por trans-tornos mentais ainda eram bastante escassas.Até mesmo discursos mais organizados, deno-tando responsabilidade técnica e envolvimentopolítico com o dia-a-dia do serviço, com a vi-vência diária dos usuários no serviço, forammuito raramente expressados pelos profissio-nais, como mostra a fala:
Faço algumas coisas específicas da minha for-mação, como atendimento psicoterápico indivi-dual, atendimento psicoterápico grupal, contudo,
Ciên
cia & Saú
de C
oletiva,10(1):191-203,2005
201
eu trabalho com uma técnica chamada psicotera-pia breve, (...) onde você estabelece focos de con-teúdos que serão trabalhados, pra viabilizar mes-mo a própria relação, uma vez que o meu traba-lho com eles não se restringe a isso, eu os acompa-nho em tudo que eu puder acompanhar, na horada refeição, eu estou junto deles, até porque euacho importante essa coisa deles terem um am-biente pra comer, deles se sentirem acolhidos, elestêm muito essa coisa de solidão, de ficarem sós,incompreendidos e tal, então eu acho que é im-portante que eu esteja presente e... em atividadesdeles mesmo, em oficinas, recreativas, terapêuti-cas, eu busco participar delas, me envolvendo, nosentido de funcionar como estímulo e de ficarpróximo, de estar observando qual o envolvimen-to deles, porque isso tudo me da material pra eupoder trabalhar, pra eu poder acompanhar, praeu poder perceber as dificuldades que eles tem, asfacilidades... (Profissional No 22).
A análise do trabalho realizado pelas equi-pes nos serviços estudados aponta para a con-clusão de que o processo assistencial-terapêuti-co encontra-se ainda muito distanciado da in-clusão (mesmo terapêutica, quiçá social) e dacidadania do usuário. Mesmo localizando-seem serviços abertos, “não manicomiais” pordefinição, esses serviços pareciam apresentaruma mudança somente na lógica externa, navisibilidade do equipamento, mantendo práti-cas não somente custodiais e restritas ao mo-delo médico-psiquiátrico, mas mais grave, ade-rido a práticas antiéticas, questionadas pelopróprio saber médico constituído desde Philip-pe Pinel. Assim, a organização dos serviços pa-rece priorizar apenas o atendimento da lógicade financiamento atual do SUS – a remunera-ção de serviços de atenção extra-hospitalares.
Sabe-se que as medidas de “tratamento” ado-tadas ao longo da história da ciência psiquiátri-ca, serviram, em contextos diversos, a maus-tra-tos e à “desumanização” de profissionais e pa-cientes nos hospícios, manicômios ou hospitaispsiquiátricos – sinônimos de uma mesma lógi-ca de atendimento. A sua manutenção, de ma-neira tão visível em contextos formalmente cons-tituídos para a sua superação, é que dá a medidada necessidade de que sejam, cotidiana e com-petentemente enfrentados os desafios teóricospara compreender a desinstitucionalização co-mo um conceito diferente de desospitalização,como afirmavam Rotelli et al. (1990).
A desospitalização em nada modifica a de-finição de objeto/objetivos e instrumentos deintervenção prevista no modelo médico psi-
quiátrico tradicional. A Reforma Psiquiátricanão pode ser compreendida como um rearran-jo administrativo da rede de assistência. A ra-dicalidade de sua proposição, que modifica oobjeto de intervenção da “doença mental” abs-tratamente concebida, para um “sujeito histó-rico que sofre mentalmente” não pode ser ne-gligenciada. A reforma administrativa e de pré-dios e a inauguração de serviços extra-hospita-lares são medidas que favorecem uma novaabordagem terapêutica, entretanto, é necessá-rio um investimento contínuo e programadoem setores menos visíveis como a capacitação esupervisão de profissionais, para que esse novoprojeto terapêutico seja alcançado. Prédios no-vos e portas abertas não garantem projetos te-rapêuticos que respeitem a cidadania de sujei-tos portadores de transtornos mentais.
Alguns estudos têm problematizado o pro-cesso de redução da Reforma Psiquiátrica auma reforma administrativa ou técnico-assis-tencial (Costa-Rosa, 2000; Torre & Amarante,2001; Amarante, 2003). Negando-se ou negli-genciando-se as dimensões teórico-conceitual esociocultural da Reforma, que desconstrói o pa-radigma médico-psiquiátrico e a conseqüenteconstituição histórica do não-sujeito da psi-quiatria e busca a construção de um novo lu-gar social da loucura, não se admite o “doentemental” como protagonista. Modifica-se admi-nistrativamente a rede de serviços, porém pro-fissionais e usuários mantêm-se alienados numprocesso de “psiquiatria renovada” ou “clínicamodernizada” (Amarante, 2003).
Neste estudo, a alienação – distanciamentopolítico, afetivo, relacional – do profissional emrelação ao trabalho é claramente expressada naforma de delimitação e de abordagem de seuobjeto de trabalho, como enfatizou-se até aqui:o “doente mental” agora referido como “usuá-rio” continua a merecer consultas rápidas emque se busca essencialmente identificar aspec-tos psicopatológicos e a ser um consumidor demedicamentos psicotrópicos, que visam essen-cialmente à contenção de seu sofrimento, com-preendido aqui como sintoma. Não se proble-matiza a diferença entre o conceito de “pacien-te” e usuário”, como se à afirmação semânticadiversa correspondesse, automaticamente, umaabordagem de respeito e inclusão.
A referência de cidadania predominantenas transcrições de relatos de entrevistas e nasobservações dos serviços estudados é a cidada-nia tutelada. Apesar de se afirmar de maneiraenfática os direitos de cidadãos para os “pa-
Oli
veir
a,A
.G.B
.& A
less
i,N
.P.
202
cientes”, agora considerados “usuários” dos ser-viços, parece que essa impossibilidade concei-tual ou o paradoxo entre o conceito de cidada-nia e de “doente mental” não foi adequada-mente problematizado pelos técnicos e, conse-qüentemente, não resulta em atitudes terapêu-ticas – profissionais ou institucionais – quepossibilitem ou assegurem o posicionamentoindividual e social do sujeito – doente mentalou usuário do serviço – numa condição plenade cidadania. Ao contrário, observa-se o dis-curso profissional e institucional neste sentidomas, as práticas terapêuticas são determinadaspelos profissionais com um espaço muito res-trito ou mesmo sem nenhum espaço de diálo-go com o “paciente”/usuário a esse respeito; etambém a finalidade ou o objetivo da terapêu-tica/tratamento é definida a partir do referen-cial do profissional e da instituição, com escas-sa participação do usuário/ “paciente”.
Considerações finais
O movimento de Reforma Psiquiátrica é confor-mado nos diferentes locais mais ou menos de-terminado pelo exercício ativo de cidadania deprofissionais e usuários dos serviços. A essaconformação – conquistada ou outorgada pelaimposição de um novo modelo assistencial –corresponderá uma maior ou menor efetivida-de do exercício de práticas descentralizadas, in-tegradas (e integradoras) e democráticas, querespeitem a pessoa portadora de transtornomental, enfim, que o inclua como sujeito de suavida e de seu tratamento ou que perpetue a suacondição de objeto de uma intervenção médi-co-assistencial, excluindo-o da participação notratamento e das decisões sobre a sua vida.
Consideramos que a inclusão dos “pacien-tes” como cidadãos, no processo terapêutico, sóserá possível na medida em que houver corres-pondência com a percepção dos “trabalhado-res” como cidadãos, nesse mesmo processo deassistência. No paradigma da Reforma Psiquiá-
trica é necessária uma redefinição do processode trabalho das equipes de saúde mental e é nocotidiano, nos confrontos e nas contradiçõesentre o processo de reprodução e recriação,próprios das práticas de assistência à saúde,que pode se dar um processo contra-hegemô-nico que resgate os envolvidos (trabalhadores eusuários) como sujeitos sociais e cidadãos. Por-tanto, é principalmente nesse processo cotidia-no de trabalho/assistência, que reside a poten-cialidade implícita de construção de cidadaniapara trabalhadores e pacientes. É num processode constituição dos profissionais como sujei-tos-sociais que, ao se perceberem criticamentecomo co-responsáveis por um trabalho coleti-vo, também se responsabilizam por todos osatos desse trabalho e utilizam (ou não utili-zam) as possibilidades de ruptura com os sabe-res e práticas hegemônicas, que reside a possi-bilidade de superação das práticas custodiais eburocráticas do trabalho assistencial em saúdemental, presentes ao longo da história (Olivei-ra & Alessi, 2003). Percebendo-se como sujei-tos/cidadãos integrantes de um aparato insti-tucional que representou, na história da civili-zação ocidental, um importante mecanismo decontrole social, os trabalhadores/profissionaisde saúde mental podem se perceber tambémcomo agentes de mudança, na medida em quenão se resignaram ao papel de agentes daopressão e da exclusão. Entretanto, sem essaconsciência das contradições de sua prática, aassistência será encaminhada no sentido de re-produção dessas práticas, ainda que em contex-tos aparentemente diferentes do manicômio.
Afirmando a Reforma Psiquiátrica comomovimento, compreendemos que o “resgate dosdireitos de cidadania” dos “portadores de sofri-mento psíquico”, apresentado pela ReformaPsiquiátrica, necessita de contínua e dedicadaexploração de suas contradições. É portanto,essa consciência das contradições de sua práti-ca, que possibilitaria aos trabalhadores consti-tuírem processos terapêuticos que respeitem acidadania dos “doentes mentais”.
Ciên
cia & Saú
de C
oletiva,10(1):191-203,2005
203
In P Amarante (org.). Ensaios: subjetividade, saúdemental, sociedade. Fiocruz, Rio de Janeiro.
Delgado PGG 1992a. Reforma psiquiátrica e cidadania.Revista Saúde em Debate 35:80-84.
Delgado PGG 1992b. Pessoa e bens: sobre a cidadania doscuratelados, pp. 99-112. In B Bezerra Jr. & PD Ama-rante (orgs.). Psiquiatria sem hospício. Ed Relume-Dumará, Rio de Janeiro.
Demo P 1995. Cidadania tutelada e cidadania assistida. EdAutores Associados, Campinas.
Oliveira AGB & Alessi NP 2003. O trabalho de enfer-magem em saúde mental: contradições e potenciali-dades atuais. Revista Latino-Americana de Enfer-magem 11(3):333-340.
Padrão ML 1992. O estatuto do doente mental. RevistaSaúde em Debate 37:11-15.
Pitta AMF & Dallari SG 1992. A cidadania dos doentesmentais no sistema de saúde do Brasil. Revista Saúdeem Debate 36:19-23.
Porter R 1990. Uma história social da loucura. Jorge ZaharEditor, Rio de Janeiro.
Rotelli F, Leonardis O & Mauri D 1990. Desinstituciona-lização uma outra via, pp. 17-60. In F Nicácio (org.).Desinstitucionalização. Hucitec, São Paulo.
Saraceno B 2001. Reabilitação psicossocial: uma estratégiapara a passagem do milênio, pp. 13-18. In A Pitta(org.). Reabilitação psicossocial no Brasil. Hucitec, SãoPaulo.
Torre EHG & Amarante PD 2001. Protagonismo e subje-tividade: a construção coletiva no campo da saúdemental. Revista Ciência & saúde coletiva 6(1):73-85.
Vieira L 2001. Os argonautas da cidadania. Ed. Record, Riode Janeiro.
Artigo apresentado em 12/1/2004Aprovado em 20/7/2004Versão final apresentada em 9/8/2004
Colaboradores
AG Bottaro realizou a pesquisa, escreveu e fez a redaçãodo texto. NP Alessi orientou a construção da tese, que ori-ginou este artigo, no que tange ao referencial teórico, elei-ção de categorias analíticas, indicação de bibliografia, su-gestões para a análise e revisão geral.
Referências bibliográficas
Amarante PD (coord.) 1995. Loucos pela vida: a trajetóriada reforma psiquiátrica no Brasil. Fiocruz, Rio deJaneiro.
Amarante P 2003. A (clínica) e a Reforma Psiquiátrica, pp.45-65. In P Amarante (coord.). Archivos de saúde men-tal e atenção psicossocial. Ed. Nau, Engenheiro Paulode Frontin.
Bezerra Jr B 1994. De médico, de louco e de todo mundoum pouco, pp. 171-191. In R Guimarães & R Tavares(orgs.). Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Ed. Re-lume-Dumará, Rio de Janeiro.
Bezerra Jr B 1992. Cidadania e loucura: um paradoxo?,pp. 113-126. In B Bezerra Jr & PD Amarante (orgs.).Psiquiatria sem hospício. Ed. Relume-Dumará, Rio deJaneiro.
Birman J 1992. A cidadania tresloucada, pp. 71-90. In BBezerra Jr & PD Amarante (orgs.). Psiquiatria semhospício. Ed Relume-Dumará, Rio de Janeiro.
Brasil MS 1987. Relatório Final da I Conferência Nacionalde Saúde Mental. Brasília.
Brasil MS 1992. Relatório Final da II Conferência Nacionalde Saúde Mental. Brasília.
Brasil MS 2001. III Conferência Nacional de Saúde Mental.Caderno de Textos. Brasília.
Carvalho JM 2002. Cidadania no Brasil: o longo caminho.Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.
Castel R 1978. A ordem psiquiátrica: a idade de ouro doalienismo. Ed. Graal, Rio de Janeiro.
Castel R 1994. Da indigência à exclusão, a desfiliação, pp.21-48. In Saúde loucura 4 – Grupos e coletivos. Hucitec,São Paulo.
Costa-Rosa A 2000. O modo psicossocial: um paradigmadas práticas substitutivas ao modo asilar, pp. 141-168.