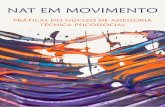Como os alunos estudam Física: um estudo a partir do uso ... · FICHA CATALOGRÁFICA Elaborada...
Transcript of Como os alunos estudam Física: um estudo a partir do uso ... · FICHA CATALOGRÁFICA Elaborada...
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática
Carlos Eduardo Mendes
COMO OS ALUNOS ESTUDAM FÍSICA:
um estudo a partir do uso do livro didático
Belo Horizonte
2017
2
Carlos Eduardo Mendes
COMO OS ALUNOS ESTUDAM FÍSICA:
um estudo a partir do uso do livro didático
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, como
requisito parcial para a obtenção do título de Mestre
em Ensino de Física
Orientadora: Prof. Dra. Maria Inês Martins
Área de concentração: Ensino de Física
Belo Horizonte
2017
FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Mendes, Carlos Eduardo
M538c Como os alunos estudam física: um estudo a partir do uso do livro didático. /
Carlos Eduardo Mendes. Belo Horizonte, 2017.
107f. : il.
Orientadora: Maria Inês Martins
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática.
1. Física - Estudo e ensino. 2. Livros didáticos. 3. Prática de ensino. 4.
Leitura. I. Martins, Maria Inês. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. III.
Título.
CDU: 53:37.02
3
Carlos Eduardo Mendes
COMO OS ALUNOS ESTUDAM FÍSICA:
um estudo a partir do uso do livro didático
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, como
requisito parcial para a obtenção do título de Mestre
em Ensino de Física
Área de concentração: Ensino de Física
Prof. Dra. Maria Inês Martins – PUC Minas (Orientadora)
Prof. Dra. Adriana Gomes Dickman – PUC Minas (Banca examinadora)
Prof. Dr. Jorge Megid Neto – Unicamp (Banca examinadora)
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2017.
4
A você, Raul, meu filho: um bebezinho ainda na barriga da mãe. Onde e como estaremos
quando eu finalmente puder explicar-lhe esta dedicatória?
5
AGRADECIMENTOS
À minha orientadora, Profa. Dra. Maria Inês Martins, e aos seus dois superpoderes: (1.o)
a habilidade de dizer as coisas certas nas horas certas e (2.o) a capacidade de ler e retornar os e-
mails em menos de 8 horas.
Ao Colégio Dona Clara, por permitir a realização desta pesquisa em suas dependências
e, principalmente, por apoiá-la incondicionalmente.
Ao amigo e professor de Física, Prof. Thiago Câmara Rodrigues de Souza, pela
disponibilidade e colaboração na “oficina de estudos” descrita neste trabalho.
Às amigas e professoras de Língua Portuguesa, Luciana Mariz, Fernanda Pinheiro
Barros e Camila Sequeto Pereira, pela disponibilidade em introduzir-me nas teorias sobre o
ensino de leitura. Agradeço os artigos, as dicas e os livros enviados (inclusive a obra didática
que elas mesmas escreveram e que muito me ajudou na elaboração do produto vinculado a esta
dissertação).
E finalmente, à Sara Villas, mãe do Raul e companheira das horas certas e incertas em
que boa parte deste trabalho foi escrito.
Agradeço também aos alunos, aos amigos e aos familiares (Fátima, Carmen, Lucas,
Itamar, Deia, dentre outros), pelo apoio e pelas colaborações diretas e indiretas que
preencheriam outra centena de páginas se fossem descritas.
6
RESUMO
Este trabalho analisa os hábitos e as estratégias de estudo de Física de um grupo de
alunos do Ensino Médio, numa escola particular de Belo Horizonte. Inicialmente, o objetivo
era desvendar como e quando os estudantes utilizam o Livro Didático (LD) de Física, uma vez
que as ações governamentais melhoraram a qualidade dos mesmos e consolidaram sua presença
nas escolas brasileiras. Pesquisas recentes sobre o tema indicam que os professores utilizam os
LD de Física, sobretudo para preparar suas aulas, e que o uso por parte dos estudantes costuma
ser esporádico e superficial. Em geral, a prática escolar transforma os LD de Física em simples
fontes de exercícios, o que gera distorções no ensino e na aprendizagem desta disciplina. As
atividades de pesquisa se deram em duas etapas: (1.a) um questionário sobre hábitos de estudo
e (2.a) uma oficina de estudos. Os resultados obtidos com o questionário corroboram as
pesquisas sobre LD de Física da última década, mas trazem um dado novo: a importância da
internet nos hábitos de estudo dos alunos. Por sua vez, a oficina de estudos revelou que os
estudantes têm inúmeras dificuldades em interpretar os textos dos LD de Física e que suas
habilidades de leitura são pragmáticas e superficiais. Defende-se que os professores podem ser
os protagonistas da reversão do quadro de subutilização dos LD de Física, desde que estes
assumam uma nova postura diante destes livros. Na tentativa de contribuir nesta direção,
propõe-se como produto educacional deste trabalho um guia de preparação de aulas de leitura.
Neste guia, a partir da concepção de leitura preconizada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), recomenda-se que as aulas de leitura nos LD de Física sejam organizadas em
torno de três momentos distintos: antes, durante e depois da leitura.
Palavras-chave: Livro didático de Física. Uso do livro didático. Leitura no ensino de
Física.
7
ABSTRACT
This work analyzes the habits and strategies of the study of Physics in a group of high
school students, in a private school in Belo Horizonte. Initially, the objective was to understand
how and when students use Physics textbooks, since government actions have improved their
quality and consolidated their presence in Brazilian schools. Recent research on the subject
indicates that teachers use Physics textbooks mainly to prepare their classes and that students’
use of them is usually sporadic and superficial. In general, school practice transforms Physics
textbooks into simple practice sources, which creates distortions in teaching and learning this
discipline. The research activities took place in two stages: (1) a questionnaire on study habits
and (2) a study workshop. The results obtained with the questionnaire corroborate the
researches on the Physics textbooks of the last decade, but they bring to light a new element:
the importance of the Internet in students’ study habits. As for the study workshop, it revealed
that students have numerous difficulties in interpreting the texts of Physics textbooks and that
their reading skills are pragmatic and superficial. It is argued that teachers can play a key role
in reversing this situation, provided that they take on a new attitude towards these books. In an
attempt to contribute for this change, it is proposed as an educational product of this work a
guide for the preparation of reading classes. In this guide, from the reading conception
recommended by the Brazil’s National Curriculum Parameters (PCN), it is recommended that
reading classes using Physics textbooks be organized around three distinct moments: before,
during and after reading activities.
Keywords: Physics textbook. Use of textbook. Reading in physics teaching.
8
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 9
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................................... 12
3. METODOLOGIA ............................................................................................................... 17
3.1. Questionário sobre hábitos de estudo ........................................................................ 17
3.2. Oficina de estudos ........................................................................................................ 19
4. RESULTADOS ................................................................................................................... 24
4.1. Questionário sobre hábitos de estudo ........................................................................ 24
4.1.1. Resultados do bloco “Sobre você” ....................................................................... 24
4.1.2. Resultados do bloco “Sobre seus hábitos de leitura” ......................................... 24
4.1.3. Resultados do bloco “Sobre seu livro de Física” ................................................ 27
4.1.4. Resultados do bloco “Sobre suas estratégias de estudo” ................................... 36
4.2. Oficina de estudos ........................................................................................................ 43
4.2.1. Sobre o comportamento e a produção dos estudantes ....................................... 43
4.2.2. Sobre as pesquisas na internet ............................................................................. 54
4.2.4. Sobre as pesquisas nos livros ................................................................................ 58
4.3. Considerações sobre o produto vinculado a esta dissertação .................................. 62
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 64
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 68
APÊNDICES ........................................................................................................................... 71
APÊNDICE A – Questionário sobre hábitos de estudo ................................................... 71
APÊNDICE B – Oficina de estudos ................................................................................... 74
APÊNDICE C – Roteiro para as observações dos professores na oficina de estudos .. 79
APÊNDICE D – Produto .................................................................................................... 80
9
1. INTRODUÇÃO
Espera-se que os professores de todos os níveis da Educação Básica sejam criteriosos
quanto ao Livro Didático (LD) que adotam. O ideal é que a escolha do LD seja feita de forma
autônoma e baseada em análises, experiências e preferências dos professores envolvidos. Uma
vez adotados, espera-se que os LD sejam efetivamente utilizados por professores e estudantes.
No Guia de Livros Didáticos (GLD) do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2015,
14 coleções de Física foram recomendadas (BRASIL, 2014b). Embora não faltem opções de
qualidade para os professores, desconhece-se qual é o impacto dessas obras nas práticas de
ensino e de aprendizagem em sala de aula. Quais são as estratégias de estudo dos alunos? O LD
faz parte dessas estratégias? O que um professor de Física pode fazer para transformar o LD
em uma ferramenta importante de aprendizado dos estudantes? Essas questões constituíram a
motivação e a justificativa inicial da presente pesquisa.
No entanto, há uma percepção geral de que a satisfação dos professores com as obras
de Ciências e de Física adotadas não se traduz em satisfação dos estudantes, ainda que essa
insatisfação não seja explícita. Em questionários de auto-avaliação da disciplina de Ciências,
por exemplo, costumamos perguntar diretamente a todos os estudantes se eles gostam do livro
didático adotado. Em geral, num grupo de 85 estudantes em média, apenas 5 (5,9%) apresentam
alguma insatisfação com a obra. Nestes casos, a reclamação mais frequente diz respeito à
dificuldade de compreender os textos do livro. Outros estudantes afirmam gostar do livro, mas
de forma vaga, sem apresentar argumentos ou explicações que materializem o que estão
respondendo. Em geral, os estudantes não têm dificuldades para explicar suas respostas para as
outras perguntas do questionário. Como exemplo, para a pergunta “Qual foi a melhor aula desta
etapa?”, a maioria dos estudantes costuma explicar, de forma espontânea, quais foram os
critérios adotados para a escolha da melhor aula, entretanto, o mesmo não acontece quanto ao
livro didático. O que isto pode significar? Entendemos que, neste contexto, uma simples
afirmação de satisfação não pode ser percebida como uma real satisfação.
No Ensino Médio, de modo geral, a insatisfação dos estudantes com o livro de Física
não é explícita, pois embora não se observem sistematicamente queixas quanto ao livro, há por
parte dos alunos uma recorrente recusa em adotar a proposta pedagógica da obra. Assim, se a
proposta é ler um texto do livro e, em seguida, responder alguns exercícios de verificação de
leitura, poucos estudantes se submetem com algum entusiasmo a essa estratégia. Muitos alunos
afirmam que não o fazem por economia de tempo e que tentam resolver os exercícios baseados
10
no que “entenderam” em sala de aula. Além disso, não é difícil encontrar no cotidiano escolar
estudantes que procuram acompanhar as aulas com apostilas em que, segundo eles, a “matéria
está mais resumida”. A recorrente recusa em utilizar as estratégias de estudo propostas pelo
livro didático e a procura por fontes em que a “matéria está mais resumida” podem ser
percebidas como indícios da insatisfação implícita com o LD de Física adotado.
Para formalizar nossas percepções, elaboramos e aplicamos um questionário (Apêndice
A) sobre hábitos de estudo para 75 estudantes do 1.o ano do Ensino Médio do Colégio Dona
Clara, escola localizada no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, e pertencente à rede
particular de ensino de Belo Horizonte. O questionário foi aplicado no primeiro semestre de
2015. Esperávamos que esse questionário revelasse os usos e as concepções dos estudantes a
respeito dos LD de forma geral. À época, acreditávamos que o questionário pudesse revelar
também o quanto os LD de Física contemplavam as estratégias de estudo dos alunos.
Neste questionário, 71% dos alunos afirmaram que o livro didático não é a primeira
opção para o estudo da Física. Além disso, 83% dos estudantes alegaram que usam a internet
para estudar Física e, destes, 44% afirmaram que assistem a vídeo-aulas disponíveis nessa rede.
De forma geral, os resultados deste questionário sugeriam que o LD de Física era utilizado
principalmente como fonte de exercícios e que os estudantes que tentavam utilizá-lo mais
profundamente não pareciam estar satisfeitos. Assim, muitos alunos procuravam outras fontes
de estudo e a internet parecia ser uma das fontes mais utilizadas. No entanto, como o número
de estudantes que utilizava o livro era baixo, o questionário não nos revelou muito sobre o uso
ou as concepções sobre o LD. Na verdade, os resultados desta primeira etapa da pesquisa
originaram inúmeros questionamentos que só puderam ser investigados na segunda etapa,
conforme descreveremos. A descrição, os resultados e a análise desta primeira etapa da pesquisa
encontram-se nos capítulos “Metodologia”, “Resultados” e “Considerações finais”.
Dessa forma, ao final da primeira etapa da pesquisa, descobrimo-nos em meio a um
interessante quadro. Por um lado, tínhamos o “papel de destaque do LD na educação pública
brasileira através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que constitui uma política
pública com o intuito de universalizar o acesso ao LD” (VIEIRA; CAMARGO, 2013). Por
outro lado, tínhamos inúmeras evidências do não uso do LD por um dos principais atores do
processo educacional: o estudante. Este quadro originou a necessidade e a relevância de
investigarmos mais profundamente as relações entre os estudantes, os LD de Física e o papel
da internet nesse processo.
No segundo semestre de 2016, diante dos resultados obtidos na primeira etapa da
pesquisa, elaboramos uma oficina de estudos para os mesmos estudantes, a fim de observamos
11
metodologicamente como os alunos buscam e se apropriam de um determinado conjunto de
conteúdos da Física. A oficina de estudos focalizou a Segunda Lei da Termodinâmica e suas
relações com o conceito de entropia, constante nos LD de Física, mas ainda não abordada
regularmente no curso de Física dos estudantes. Na oficina, os alunos puderam consultar as
versões físicas das coleções do Tipo 1 (coleções digitais) do PNLD 2015, outros livros de Física
e a internet, sem restrição de sites.
A oficina revelou que a maioria dos estudantes tem enormes dificuldades para
interpretar os textos dos LD. Além disso, o uso da internet como leitura alternativa ao LD
revelou uma aprendizagem superficial, voltada exclusivamente para o cumprimento da tarefa.
Por fim, foi possível observar que as facilidades de cópia geradas pelo uso dos celulares ou dos
computadores parecem contribuir para a superficialidade da aprendizagem dos estudantes. A
descrição, os resultados e a análise desta segunda etapa da pesquisa encontram-se nos capítulos
“Metodologia”, “Resultados” e “Considerações finais”.
Os resultados obtidos nas duas etapas da pesquisa sugerem que um uso profundo e
consciente dos LD de Física pelos estudantes só é possível se eles forem capazes de
compreender os textos presentes nestes livros. Por essa razão, acreditamos que os professores
de Física precisam incorporar em sua prática didática algumas aulas de leitura nos LD, visando
desenvolver esta capacidade dos estudantes. Assim, objetivando aprimorar o uso dos LD pelos
estudantes, propomos como produto dessa dissertação um guia de orientações aos professores,
intitulado “GUIA DE PREPARAÇÃO DE AULAS DE LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO
DE FÍSICA”.
A elaboração deste guia foi feita a partir da concepção de leitura proposta nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e em livros e pesquisas das últimas décadas sobre o
ensino de leitura. Com a aplicação do guia mencionado, pretendemos fornecer aos professores
subsídios para a execução desta tarefa tão negligenciada até então no ensino de Física: o ensino
da leitura sobre Física.
12
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o governo federal brasileiro, por
meio do Ministério da Educação (MEC), procura alicerçar o trabalho dos professores e dos
estudantes avaliando e distribuindo coleções de LD da Educação Básica. Após a avaliação das
obras, o MEC publica o Guia de Livros Didáticos (GLD) com resenhas das coleções
recomendadas. Atualmente, o programa é executado em ciclos trienais alternados nos quais
todos os estudantes do setor público de um determinado segmento da Educação Básica (anos
iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio)
recebem, gratuitamente, as obras escolhidas por seus professores a partir do GLD.
Assim, o fornecimento de material didático é entendido como uma das funções do
Estado e “o próprio governo considera essa função como tarefa essencial no atendimento à
população escolar” (COSTA et al., 2007). No entanto, não podemos esquecer que o LD é um
artefato da cultura e está sujeito a influências de diversas ordens: políticas, econômicas, sociais
e pessoais. A legislação, as ações governamentais, as variáveis de mercado, a indústria cultural,
as condições em que o LD está inserido e a formação dos autores, dentre outros, são exemplos
de origens dessas influências. Assim, o LD é o resultado de todas essas influências que, longe
de serem neutras, sempre evidenciam uma “tradição seletiva, da seleção feita por alguém, da
visão que algum grupo tem do que seja o conhecimento legítimo” (APPLE, 2001).
Um exemplo desta tradição seletiva é o discurso preferencialmente empirista-indutivista
dos LD de Física. De forma geral, os LD de Física ainda parecem interpretar a ciência “como
o resultado direto de um conjunto de ações bem definidas, enaltecendo e difundindo a
concepção de um método científico minucioso, infalível e homogêneo” (VIEIRA; CAMARGO,
2013).
No entanto, reconhecer as limitações dos LD de Física não minimiza o seu importante
papel no cotidiano de professores e de estudantes. Sobre este assunto, Carneiro, dos Santos e
Mol (2005) afirmam que:
[...] a lembrança que grande parte das pessoas tem de disciplinas cursadas está
relacionada a livros didáticos, particularmente os de Matemática, Física e Química.
[...] não é raro encontrar pessoas que, devido a “fracassos” nessas disciplinas durante
o período de escolarização, passem a considerar-se incapazes de compreender seus
conhecimentos, chegando a mitificar e supervalorizar aqueles que compreendem os
conceitos científicos. Portanto, é indubitável a marca que o LD deixa na vida dos
alunos. (CARNEIRO et al., 2005, p. 120)
13
Além disso, ler é uma habilidade indispensável para a aprendizagem em todas as áreas
do conhecimento. Por essa razão, o desenvolvimento das habilidades de leitura deve ser
estimulado e ensinado por todos os professores, inclusive os professores das áreas de exatas.
Sobre este assunto, Amaral (2007) afirma que:
O ensino, na escola, não existe sem a leitura. Ou é leitura direta pelo aluno, ou
explicações do professor sobre textos que ele, o professor, leu. Ou seja, a linguagem
falada pelo professor é uma didatização do conhecimento acumulado pela escrita (em
letras ou números e sinais) na disciplina que ele leciona. Quando a fala é uma
transposição de leituras, ela não é uma fala simples, como a que usamos no cotidiano.
Ao contrário, está carregada de conceitos e de relações complexas entre esses
conceitos, seja qual for a matéria que esteja sendo ensinada. E em geral, é preciso
acrescentar, para complementar as aulas expositivas feitas pelos professores, textos
(didáticos ou não) relacionados com elas. (AMARAL, 2007)
Neste sentido, ensinar Física é também ensinar a ler sobre Física. E os professores
devem estar conscientes da responsabilidade que possuem no desenvolvimento das habilidades
de leitura dos estudantes. Na busca por este desenvolvimento, o uso consciente e profundo do
LD de Física parece ser uma excelente estratégia, uma vez que diversas pesquisas (COSTA et
al., 2007, GARCIA; SILVA, 2009 e SILVA; GARCIA; GARCIA, 2011) indicam que as ações
governamentais transformaram em realidade a presença do livro no cotidiano dos estudantes.
Os grandes projetos de ensino da década de 19601 são reconhecidos como um marco na
história da educação em ciências. Na época, os esforços estavam concentrados na produção de
recursos educacionais de qualidade e na prescrição de como os professores deveriam utilizar
estes recursos. Nas décadas seguintes, progressivamente, os estudantes passaram a ser vistos
como sujeitos de sua própria aprendizagem. Assim, os esforços passaram a se concentrar nas
atividades em que os estudantes deveriam se envolver para que pudessem aprender e nas
atitudes dos próprios estudantes que promoveriam este aprendizado. Assim, os professores e os
recursos educacionais passaram a ser considerados os mediadores das ações dos estudantes
(PAULA, 2015).
No entanto, até mesmo o professor comprometido com a perspectiva de um ensino
estruturado por atividades “dispõe de poucos subsídios para desenvolvê-la e, por isso, vive uma
angustiante contradição entre seu ideário pedagógico e sua prática efetiva” (PAULA, 2005).
1 Entre os projetos norte-americanos podemos citar o BSCS (Biological Science Curriculum Study), o PSSC
(Physical Science Curriculum Study), o Project Harvard Physics, o Chem Study e o CBA (Chemical Bond
Approach). Na Inglaterra, os principais projetos foram concebidos pela Fundação Nuffield.
14
Junto a isso, espera-se que tais atividades de aprendizagem sejam diversificadas, de modo a
atender às demandas de salas de aula cada vez mais complexas e heterogêneas.
As respostas a estes desafios podem estar no LD de Física. A utilização efetiva deste
recurso pelos estudantes pode garantir a diversificação das atividades de aprendizagem
necessária para uma melhor compreensão dos conhecimentos e dos métodos da Física. As
sucessivas avaliações do PNLD produziram materiais de boa qualidade, repletos de leituras e
recursos que, infelizmente, a julgar pelos resultados das pesquisas sobre LD da última década,
não vêm sendo utilizados pelos estudantes. A seguir, discutiremos os resultados de algumas
dessas pesquisas.
Apesar do número significativo de estudos realizados sobre os LD, a presença de
pesquisas sobre as relações entre professores, estudantes e livros é menos significativa. Sobre
este ponto, Carneiro, dos Santos e Mol (2005) afirmam que:
Uma das funções do livro didático é a de dar suporte ao processo de ensino-
aprendizagem. No entanto, se conhece muito pouco sobre o cotidiano desse recurso
na sala de aula e sobre as concepções de professores e alunos a respeito do mesmo.
Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de mais pesquisas que se ocupem dos
seus usuários, pois, no Brasil, esses trabalhos ainda são muito inexpressivos.
(CARNEIRO et al., 2005, p. 129.)
A incorporação dos LD de Física ao PNLD contribuiu para que ocorresse um salto
quantitativo nas pesquisas sob essa perspectiva. O presente trabalho pretende contribuir nessa
direção: como os estudantes utilizam o LD no processo de aprendizagem? O que eles pensam
sobre os livros? Como os professores de Física podem estimular e aperfeiçoar a relação entre
os LD e os estudantes?
Há evidências quantitativas (ARTUSO, 2014) de que, atualmente, a principal função do
LD de Física é para o professor preparar suas aulas. Artuso (2014) também aponta que, quando
utilizado pelos estudantes, o LD serve principalmente para a resolução de exercícios e de tarefas
em sala de aula e em casa. Há evidências deste fato também nas pesquisas qualitativas de Garcia
e Silva (2009): quando o livro é realmente utilizado, ele se torna uma simples fonte de exercícios
e questionários. Assim, o LD de Física parece ser uma ferramenta de trabalho importante para
os professores e simples fontes de exercícios para os estudantes. Para Vieira e Camargo (2013),
“tanto o uso do livro, quanto o não uso pode conduzir os estudantes a uma visão distorcida da
ciência e do real papel do livro didático no ambiente escolar”. Mas o não uso também contribui
para a não formação de leitores (de maneira geral e especificamente na área de Física),
conforme discutido anteriormente.
15
Qual é a origem deste quadro? Por que há diferenças entre os usos dos LD de Física por
parte de professores e estudantes? Os trabalhos publicados na última década sobre o uso de LD
de Física indicam a existência de uma tensão entre as coleções recomendadas pelos GLD e as
práticas dos professores. Há, por um lado, o desejo de adotar as mudanças sugeridas por estes
livros. Por outro lado, há também as dificuldades de se desenvolver práticas diferentes das
convencionais. Essa tensão leva os professores à, contraditoriamente, “apontarem aspectos
inovadores de um livro tanto de forma positiva como de forma negativa” (CARNEIRO et al.,
2005).
No entanto, a origem desta tensão parece ser anterior à atuação profissional dos
professores. Ela parece estar na etapa de formação destes profissionais. Em sua investigação
sobre as relações entre os professores e as orientações metodológicas apresentadas pelos autores
de LD, Garcia, Garcia e Pivovar (2007) observam que existem semelhanças na maneira como
os professores utilizam os LD de Física em duas fases distintas de suas vidas: em sua formação
e na prática docente. Assim, professores que utilizaram os LD em sua formação tendem a
valorizar mais o uso destes livros. De outro lado, aqueles que utilizaram outras estratégias de
estudo em sua formação são mais resistentes a utilização aprofundada dos LD.
Além disso, o número de professores resistentes a uma utilização mais profunda dos LD
parece ser superior ao número de professores que valorizam mais o uso destes livros. Essa
afirmação é corroborada por Silva, Garcia e Garcia (2011) que afirmam que há “a
predominância dos modelos didáticos centrados na explicação dos professores, que conduz a
uma seleção de determinados elementos disponíveis nos livros, tais como exercícios, os quais
contribuem para determinado tipo de aprendizado, mas excluem outros”.
Entre os estudantes há uma noção de que “se o professor explica bem, o livro não é
necessário” (GARCIA; SILVA, 2009). No entanto, as opiniões dos estudantes sobre o LD
costumam estar sintonizadas com as opiniões dos professores sobre o mesmo livro, conforme
evidenciam Vieira e Camargo (2013). Assim, as relações dos estudantes com o LD parecem
fortemente mediadas pelas opiniões dos professores sobre este mesmo material. Quando os
estudantes utilizam os LD de Física apenas como fonte de exercícios, o fazem por estarem
seguindo orientações explícitas ou implícitas de seus professores.
Mas a tarefa dos professores não é fácil, pois, quando se colocam como a principal fonte
de informação em sala de aula, estão apenas reproduzindo o modelo didático no qual foram
educados. No entanto, Costa e Paim (2004) afirmam que:
16
O mundo contemporâneo tem passado por profundas transformações nos âmbitos
social, econômico, político e tecnológico, o que se reflete nas culturas, nos costumes,
nas relações interpessoais, na educação e no trabalho, fazendo com que o papel da
informação, em especial, ganhe destaque. [...] Nesse contexto, a revolução
tecnológica, principalmente a informática, constitui um dos fatores fundamenteis
dessas transformações em curso. (COSTA; PAIM, 2004, p. 15)
Ao contrário dos professores, os estudantes não reconhecem essas transformações, pois,
de maneira geral, eles nasceram em meio a este processo. A internet, as redes sociais, os
celulares e suas potencialidades estão tão inseridos no cotidiano dos estudantes quanto os
aparelhos de rádio e TV estavam no cotidiano dos professores quando estes eram apenas
estudantes.
A internet, as redes sociais e, de maneira geral, as novas tecnologias têm o potencial de
tornar os estudantes mais ativos no processo de construção do conhecimento. Um ensino
puramente informativo é extremamente tedioso no mundo contemporâneo, pois a informação
em si, a princípio, está ao alcance de todos. No entanto, a disponibilização da informação em
meio eletrônico, por si só, não assegura o processo de aprendizagem dos estudantes. Para Costa
e Paim (2004), “a construção do conhecimento depende da ação do sujeito sobre a informação
disponível, de modo a atribuir-lhe significado”. Assim, é a ação mediadora dos professores que
potencializará a formação de significados necessários à aquisição do conhecimento.
Utilizar as novas tecnologias como um recurso educacional efetivo parece ser tão
desafiante quanto a utilização efetiva do LD de Física. Os aplicativos para o ensino de Física
apresentados por Perez, Viali e Lahm (2016), por exemplo, são interessantes e repletos de
potencial instrucional, mas, por si mesmos, parecem não despertar o interesse dos estudantes.
Essa parece ser também a situação dos LD de Física: repletos de potencial, mas pouco utilizados
por não despertar o interesse dos estudantes.
Costa e outros (2007) afirmam que “a questão do livro didático ultrapassa a seleção,
para incorporar também a preparação do professor para trabalhar com esse material”. Isto
envolve a formação de novos professores e a formação continuada dos professores atuantes. O
produto deste trabalho pretende contribuir nesta direção, uma vez que seu objetivo é ajudar os
professores a otimizar as atividades de leitura no LD de Física. A origem deste produto foi a
surpreendente constatação de que os estudantes têm enormes dificuldades de extrair
informações e interpretar as leituras presentes nos LD. A partir de agora, descreveremos o
caminho que nos levou a esta constatação.
17
3. METODOLOGIA
Conforme explicitado no capítulo de Introdução, três questões de pesquisa constituíram
a motivação inicial deste trabalho: (1.a) Quais são as estratégias de estudo de Física utilizadas
pelos alunos? (2.a) Por que o LD costuma não fazer parte dessas estratégias? (3.a) O que um
professor de Física pode fazer para transformar o LD numa ferramenta importante de
aprendizado dos estudantes?
A busca por respostas iniciais a essas questões constituiu a primeira etapa de nossas
atividades de pesquisa: o questionário sobre hábitos de estudo.
A análise dos resultados obtidos com o questionário suscitou uma série de novas
indagações sobre o uso dos LD de Física e sobre o papel da internet nos hábitos de estudo dos
alunos. Tais indagações constituíram e direcionaram a segunda etapa de nossas atividades de
pesquisa: a oficina de estudos.
Descrevemos, a seguir, os procedimentos adotados em cada etapa.
3.1. Questionário sobre hábitos de estudo
O questionário sobre hábitos de estudo foi elaborado e aplicado no 1.o semestre de 2015
para as três turmas de 1.o ano do Ensino Médio do Colégio Dona Clara, escola localizada no
bairro Dona Clara, na região da Pampulha, e pertencente à rede particular de ensino de Belo
Horizonte. Na época, o autor deste trabalho não era o professor de Física destas turmas. O
questionário foi aplicado durante as aulas de Física do professor Thiago Câmara Rodrigues de
Souza, regente das turmas em 2015. Na ocasião, o pesquisador apresentou-se aos alunos e fez
uma leitura em voz alta do texto introdutório ao questionário. Este procedimento tinha dois
objetivos: (1) conscientizar os estudantes sobre a importância do questionário como
instrumento para a melhoria do ensino de Física e (2) estabelecer com os estudantes um
“contrato” de sinceridade e de compromisso com o questionário. Cada turma contou com 1
hora-aula (ou um pouco menos de 50 minutos) para responder ao questionário. Ao final da
manhã de aplicação, 75 questionários haviam sido respondidos (aproximadamente 25 em cada
turma).
O questionário (Apêndice A) possuía 17 perguntas agrupadas em 4 blocos:
a) “Sobre você”: 2 perguntas que caracterizavam o aluno respondente.
18
b) “Sobre seus hábitos de leitura”: 3 perguntas que procuravam desvendar: (1) o
quê o aluno costuma ler, (2) com que intensidade esta leitura ocorre e (3) a
satisfação do respondente com sua própria leitura.
c) “Sobre seu livro de Física”: 7 perguntas sobre o uso efetivo do livro.
d) “Sobre suas estratégias de estudo”: 5 perguntas sobre os hábitos de estudo do
aluno respondente.
Há uma correspondência entre as questões iniciais de nossa pesquisa e os blocos de
perguntas deste questionário. Assim, podemos associar a 1.a questão de pesquisa (Quais são as
estratégias de estudo de Física utilizadas pelos alunos?) ao bloco “Sobre suas estratégias de
estudo”. A 2.a questão de pesquisa (Por que o LD costuma não fazer parte dessas estratégias?)
pode ser associada ao bloco “Sobre seu livro de Física”. Não há um bloco de perguntas que
possa ser associado diretamente à 3.a questão de pesquisa (O que um professor de Física pode
fazer para transformar o LD numa ferramenta importante de aprendizado dos estudantes?).
Esperávamos que as “dicas” para a transformação do LD numa ferramenta efetiva de
aprendizado apareceriam ao longo dos 4 blocos do questionário, bem como em outras etapas
da pesquisa.
Para elaborar o bloco de perguntas “Sobre seus hábitos de leitura” foram utilizados os
dados da 3.a edição da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, do Instituto Pró-livro (FAILLA,
2012). Extraiu-se desta pesquisa: (1) a lista de materiais da pergunta 5 (Quais destes materiais
você tem o costume de ler?) e (2) as médias do número de livros lidos por ano pelos estudantes
brasileiros. Estas médias permitiram a definição das faixas do número de livros lidos por ano
da pergunta 6 (Quantos livros você lê por ano? Menos de 2; entre 2 e 4; entre 4 e 6 e mais de
6.).
O objetivo do bloco “Sobre seus hábitos de leitura” era relacionar os hábitos de leitura
dos estudantes com seus hábitos e práticas com o LD de Física. Alunos que se consideram bons
leitores utilizam mais o LD? Qual é a relação dos alunos que se consideram maus leitores com
o LD? As estratégias de estudo dos alunos que se consideram bons ou maus leitores são as
mesmas? Questões como essas motivaram a elaboração deste bloco de perguntas.
A compilação dos dados colhidos nos 75 questionários foi feita utilizando-se as técnicas
de Análise do Conteúdo. A descrição desta análise encontra-se no capítulo de “Resultados”.
19
3.2. Oficina de estudos
A oficina de estudos foi elaborada e aplicada no 2.o semestre de 2016 para os mesmos
estudantes que responderam ao questionário sobre hábitos de estudo, no mesmo colégio
(Colégio Dona Clara, rede particular). Entre 2015 e 2016, as três turmas de 1.o ano com 25
alunos cada (aproximadamente) transformaram-se em 2 turmas de 2.o ano com 36 alunos cada.
Alguns alunos deixaram o colégio e outros se matricularam, mas em sua maioria os estudantes
eram os mesmos. Em 2016, o autor deste trabalho foi o professor regente destas turmas.
A oficina de estudos consistiu em algumas atividades de pesquisa sobre a Segunda Lei
da Termodinâmica e suas relações com o conceito de entropia (Apêndice B). Os assuntos
abordados nas atividades (ciclo de Carnot, refrigeradores, entropia e formulações alternativas
da Segunda Lei da Termodinâmica) não haviam sido abordados em sala de aula. No entanto, o
tema não era uma novidade para os estudantes, pois eles: (1) conheciam inúmeros exemplos de
máquinas térmicas (a máquina de Heron, a máquina a vapor de Watt, a locomotiva a vapor e o
motor à explosão de quatro tempos); (2) compreendiam a seguinte formulação da Segunda Lei
da Termodinâmica: “Não existem máquinas térmicas perfeitas”; (3) conheciam o diagrama
“clássico” de uma máquina térmica (fonte quente, fonte fria e trabalho).
Nas atividades, os estudantes foram instigados a fazer pesquisas e reflexões sobre estes
assuntos enquanto dois professores faziam observações e anotações sobre suas estratégias. Um
dos professores foi o autor deste trabalho, o professor regente destes estudantes. O outro foi o
professor regente do ano anterior. As observações destes professores foram “calibradas” por
um conjunto de perguntas apresentado no Apêndice C. Tais perguntas serviram como um
roteiro para as observações dos professores na oficina de estudos.
No Colégio Dona Clara, os alunos têm aulas de laboratório de Física e de Química nas
tardes de segunda-feira. Nestas aulas, os 72 estudantes são divididos em 6 turmas de laboratório.
A cada segunda-feira, duas turmas revezam o uso do laboratório de Física e de Química e, por
essa razão, apenas 12 alunos assistem às aulas por vez. Os encontros com esses 12 alunos duram
2 horas-aula (100 minutos). O número reduzido de alunos por encontro e o tempo de aula
disponível constituíam uma configuração ideal para a aplicação de nossa oficina. Assim, a
oficina de estudos foi aplicada em três tardes de segunda-feira, ao final de agosto de 2016 e
começo de setembro de 2016.
Nos encontros, os 12 estudantes eram divididos em grupos de 3 ou 4 integrantes. Ao
todo, 18 grupos participaram da oficina. No presente trabalho, estes grupos são referenciados
como G1, G2, G3..., G18.
20
No início de cada encontro, o autor deste trabalho fazia uma leitura em voz alta do texto
introdutório às atividades. Essa leitura contextualizava a oficina dentro da programação
curricular do colégio, justificava a presença de outro professor no laboratório e procurava
estabelecer um “contrato” de seriedade e de compromisso com as atividades. Além disso, a
leitura do texto introdutório informava aos estudantes que eles poderiam consultar diversos
livros de Física e a internet (via computador, tablet ou celular) para responder às atividades.
Por fim, o texto introdutório determinava que um integrante de cada grupo ficasse responsável
por observar e anotar como o grupo chegou às respostas das atividades.
Assim, durante a realização das atividades, os grupos puderam consultar a internet, sem
restrições de sites, bem como os livros listados a seguir:
a) O LD de Física adotado pelo colégio: Física contexto & aplicações, de Antônio
Máximo e Beatriz Alvarenga. Este livro pertence a uma coleção de Tipo 1 (livros
impressos e digitais) do PNLD 2015.
b) Os livros da coleção Compreendendo a Física, de Alberto Gaspar. Esta é uma
coleção de Tipo 1 (livros impressos e digitais) do PNLD 2015.
c) Os livros da coleção Física, de Osvaldo Guimarães, José Roberto Piqueira e
Wilson Carron. Esta é uma coleção de Tipo 1 (livros impressos e digitais) do
PNLD 2015.
d) Os livros da coleção Quanta Física; de Carlos Aparecido Kantor, Lilio Alonso
Paoliello Jr., Luís Carlos de Menezes, Marcelo de Carvalho Bonetti, Osvaldo
Canato Jr. e Viviane Moraes Alves. Esta é uma coleção de Tipo 1 (livros
impressos e digitais) do PNLD 2015.
e) O livro Convite à Física, de Yoav Ben-Dov. Este livro foi utilizado pelo autor
deste trabalho na elaboração das atividades da oficina.
f) O livro Fundamentos de Física 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica, de
David Halliday e Robert Resnick, em sua 3.a edição. Este livro também foi
utilizado pelo autor deste trabalho na elaboração das atividades da oficina.
g) O livro Física conceitual, de Paul G. Hewitt, em sua 11.a edição. Este livro é
fortemente cotado como o novo livro didático de Física a ser adotado pelo
colégio nos anos vindouros.
h) O livro Introdução ilustrada à Física, de Larry Gonick e Art Huffman. A
presença deste livro na lista foi justificada pela curiosidade do autor deste
21
trabalho em saber se os alunos se interessariam por um livro de Física com uma
linguagem coloquial e sob a forma de cartoons.
i) Os 3 volumes da coleção Lições de Física, de Richard P. Feynman, Robert B.
Leighton e Matthew Sands, em sua edição definitiva. A presença destes livros
também foi justificada pela curiosidade do autor deste trabalho em saber se os
alunos se interessariam por esta obra.
Os professores disponibilizaram 1 exemplar de cada item desta lista, excetuando-se o
LD de Física adotado pelo colégio (primeiro item da lista). Deste último, foram disponibilizados
3 exemplares de volumes do 2.o ano, mas muitos estudantes usaram o próprio exemplar durante
a realização das atividades.
As Fotografias 1 e 2 representam os alunos em atividade numa das tardes de aplicação
da oficina. Vale observar que os livros disponibilizados para consulta ficavam numa mesa no
centro da sala de aula. Ao redor desta mesa, ficavam os grupos. Cada grupo contava com um
computador (notebook) com acesso à internet, os celulares pessoais, cópias impressas das
atividades, a versão em arquivo destas mesmas atividades e uma senha para a rede wi-fi do
colégio. Os professores ficavam circulando pela sala, ora observando, ora interagindo com os
estudantes.
Fotografia 1 – Segunda tarde de aplicação da oficina
Fonte: Arquivo pessoal do autor
22
Fotografia 2 – Segunda tarde de aplicação da oficina
Fonte: Arquivo pessoal do autor
A metodologia descrita gerou 4 conjuntos de dados: (1) as anotações do autor deste
trabalho; (2) as anotações do professor Thiago; (3) as anotações livres do aluno-observador de
cada grupo; (4) as respostas dadas por cada grupo às atividades propostas. Como cada grupo
possuía um computador para a realização de suas pesquisas, foi dada aos estudantes a opção de
digitar as respostas na versão em arquivo das atividades. Assim, alguns grupos manuscreveram
as respostas e outros digitaram as respostas.
Ao longo das três semanas de aplicação, pequenas modificações nessa metodologia
foram introduzidas, com o intuito de fazermos algumas comparações. Assim, aos grupos G11,
G12, G13 e G14 não foi dada a opção de digitar as respostas das atividades. Tais grupos
precisaram manuscrever todas as respostas. Aos grupos G15, G16, G17 e G18, por sua vez, não
foi dada a opção de consulta à internet. Tais grupos só puderam consultar os LD de Física
disponibilizados pelos professores.
Eram 4 as atividades a serem respondidas pelos estudantes (Apêndice B). Cada uma
delas possuía um texto-base extraído dos livros disponibilizados para a consulta dos estudantes.
A atividade 1 era constituída por 5 itens – de (a) a (e) – e procurava estimular a construção de
relações entre as conhecidas máquinas térmicas, o ciclo de Carnot e a Segunda Lei da
Termodinâmica. A atividade 2 era constituída por um único item e procurava estimular a
comparação entre o funcionamento de máquinas térmicas e de refrigeradores. A atividade 3 era
constituída por 3 itens – de (a) a (c) – e procurava estimular discussões sobre o conceito de
entropia. A atividade 4 era constituída por 6 itens – de (a) a (f) – e procurava estimular a
construção de relações entre o conceito de entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica.
23
Os itens das atividades podem ser categorizados segundo a habilidade que exigiam. Os
itens (1a), (1b), (3a) e (3b) exigiam somente a busca por informações. Os itens (1c), (1d) e (1e)
exigiam a interpretação de informações encontradas em itens anteriores. Os itens (2) e (3c)
exigiam a busca por informações e, ao mesmo tempo, a interpretação das mesmas. Os itens da
atividade 4 exigiam a interpretação do texto-base. Essa categorização das exigências de cada
item foi importante para a análise dos resultados.
A compilação e análise das informações colhidas nas 4 fontes de dados da oficina de
estudos encontram-se a seguir, no capítulo de “Resultados”.
24
4. RESULTADOS
Neste capítulo, apresentamos os resultados das duas etapas da pesquisa: (1) o
questionário sobre hábitos de estudo e (2) a oficina de estudos. A análise dos resultados será
feita concomitantemente com sua apresentação.
Em seguida, ao final do capítulo, fazemos algumas considerações sobre o produto
vinculado a esta dissertação.
4.1. Questionário sobre hábitos de estudo
Para fins de organização do texto, os resultados e as análises serão feitas em 4 partes
correspondentes aos blocos de perguntas do questionário: “Sobre você”, “Sobre seus hábitos de
leitura”, “Sobre seu livro de Física” e “Sobre suas estratégias de estudo”.
4.1.1. Resultados do bloco “Sobre você”
O bloco de perguntas “Sobre você” objetivava a caracterização do aluno respondente.
Dos 75 questionários, 39 (52%) foram respondidos por estudantes do sexo feminino e
36 (48%) por estudantes do sexo masculino. Dentre esses, 54 estudantes (72%) possuíam 14 ou
15 anos em 2015, ou seja, estavam com a idade esperada para alunos do 1.o ano do Ensino
Médio. Outros 20 estudantes (27%) eram mais velhos, com 16 ou 17 anos e, por fim, 1 estudante
(1%) deixou em branco a pergunta “Qual é a sua idade?”.
Assim, a amostra de estudantes respondentes é constituída por alunos e alunas que, em
sua maioria, possuem idade compatível com o 1.o ano do Ensino Médio.
4.1.2. Resultados do bloco “Sobre seus hábitos de leitura”
O bloco de perguntas “Sobre seus hábitos de leitura” procurava desvendar: (1) o quê o
aluno costuma ler, (2) com que intensidade esta leitura ocorre e (3) a satisfação do respondente
com sua própria leitura.
O Gráfico 1 mostra os dados sobre os materiais que os respondentes têm costume de ler.
25
Gráfico 1 – Materiais que os respondentes têm o costume de ler
Fonte: Dados da pesquisa
Os “Textos da internet” constituem o material lido por 60 estudantes (80%) da amostra.
Este resultado foi o primeiro indicativo de que a internet está bastante presente na rotina destes
alunos. O material “Textos da internet” superou os livros escolares de Literatura, os LD, e até
mesmo as leituras não-escolares dos estudantes, representadas pelo material “Outros livros”.
Além disso, foi surpreendente que apenas 27 estudantes (36%) tenham marcado no questionário
a leitura dos LD. Afinal, a amostra é constituída por estudantes do Ensino Médio e a
porcentagem esperada de leitores de LD deveria ser maior. Este resultado foi o primeiro
indicativo de que o LD não está presente na rotina destes alunos.
O Gráfico 2 mostra que a intensidade da leitura destes estudantes ficou bem dividida
nas 4 faixas determinadas pelo questionário.
26
Gráfico 2 – Número de livros lidos por ano pelos respondentes
Fonte: Dados da pesquisa
Este gráfico mostra que o grupo de respondentes do questionário é bem heterogêneo no
que se refere à intensidade da leitura. A pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, do Instituto
Pró-livro (FAILLA, 2012), chegou às seguintes médias de livros lidos por ano: 2 para o não
estudante brasileiro, 4 para o brasileiro (média dos estudantes e não estudantes) e 6 para o
estudante brasileiro. Neste contexto, é interessante constatar que: (1) 14 alunos (19%) tinham
média inferior ao não estudante brasileiro e (2) 40 estudantes (53%) tinham o número de livros
lidos por ano inferior à média brasileira. Apenas 35 alunos (47%) possuíam o número de livros
lidos por ano compatível com as médias do brasileiro e do estudante brasileiro.
No questionário, 4 tipos de respostas foram dados à pergunta 5 (Você se considera um
bom leitor?): “sim”, “parcialmente”, “depende” e “não”. O Gráfico 3 mostra as porcentagens
de cada tipo.
Gráfico 3 – Respostas à pergunta “Você se considera um bom leitor?”
Fonte: Dados da pesquisa
Dos estudantes que responderam “sim”, foi possível identificar dois tipos principais de
justificativa: (1) “Sou bom leitor porque gosto de ler” (35%) e (2) “Sou bom leitor porque leio
27
muito” (27%). Os estudantes que responderam “parcialmente” alegaram dificuldades de
interpretação, bem como desinteresse, lentidão e pouca frequência na leitura. O número de
estudantes que não se consideram bons leitores é bem alto: 38 alunos (50%). As principais
justificativas do grupo “não” foram de dois tipos: (1) “Não sou bom leitor porque leio pouco”
(40%) e (2) “Não sou bom leitor porque não tenho interesse ou não gosto de ler” (24%). No
grupo de estudantes que responderam “depende”, todos explicaram que são bons leitores
daquilo que desperta seu interesse. Um respondente escreveu: “Eu leio, mas os livros da escola
me causam desinteresse.”.
Os dados dos Gráficos 2 e 3 guardam uma coerência entre si. Se a metade dos
respondentes afirma que não estão satisfeitos com a própria leitura, é natural esperar o grande
número de estudantes que leem pouco (menos de 4 livros por ano). Esta associação é
corroborada por duas outras constatações: (1) de forma geral, o número de livros lidos por ano
das alunas é maior que o número de livros lidos por ano dos alunos; (2) o número de alunas que
se consideram boas leitoras é significativamente maior que o número de alunos que se
consideram bons leitores.
Estes resultados nos permitem inferir o seguinte cenário: os estudantes parecem ler
bastante os textos presentes na internet, os livros de literatura solicitados pela escola e outros
livros, mas a leitura dos LD parece ser tão ocasional quanto a leitura de revistas. Além disso, a
intensidade de leitura dos estudantes é bem diversa: variando gradualmente entre 2 livros por
ano e mais de 6 livros por ano. O fato de estarem no Ensino Médio parece não causar impacto
na intensidade de leitura. Por fim, muitos estudantes (a metade deles, pelo menos) parecem não
estar satisfeitos com a própria leitura, seja pelo desinteresse pelas leituras disponíveis, seja pelo
fato de lerem pouco.
4.1.3. Resultados do bloco “Sobre seu livro de Física”
O bloco de perguntas “Sobre seu livro de Física” continha 7 perguntas que procuravam
estabelecer como se dava o uso efetivo do LD de Física pelos alunos respondentes.
O Gráfico 4 apresenta as respostas à pergunta 6 (“Você gosta do livro de Física adotado
em sua escola?”).
28
Gráfico 4 – Respostas à pergunta “Você gosta do livro de Física adotado?”
Fonte: Dados da pesquisa
Para o grupo que gosta do livro, foram identificadas duas justificativas principais: (1)
“Gosto do livro porque ele possui boas explicações e bons exercícios” (28%) e (2) “Gosto do
livro porque ele possui bons exercícios” (15%). Na verdade, até mesmo os estudantes que
alegam não gostar do livro fazem considerações sobre os exercícios. Assim, ora os exercícios
são “simples demais”, ora “complexos demais”, ora “bagunçados”, ora “faltam exercícios
resolvidos”. As considerações sobre os exercícios são mais numerosas que as considerações
sobre as “explicações” do livro. Isto nos permite inferir um primeiro tipo de uso do LD: como
fonte de exercícios de Física.
Na pergunta 7 do questionário (“Seu professor de Física usa o livro adotado? Quando
ele usa? Como ele usa?”), 99% dos respondentes afirmaram que o professor usa o livro para
resolver exercícios (ou problemas) em sala de aula e para marcar atividades (ou tarefas) para
casa. Este resultado explica o fato dos respondentes justificarem sua opinião sobre o livro de
Física pela qualidade dos exercícios presentes neste livro. Aliás, este parece ser o principal (e,
quem sabe, o único) uso do LD nas aulas de Física: a resolução de exercícios do tipo “lápis e
papel”.
Além disso, algumas respostas à pergunta 7 do questionário sugerem que certas tarefas
no livro são feitas para atender a uma demanda do professor e não são consideradas uma
estratégia de estudo. Como exemplo, temos a seguinte justificativa de um dos respondentes:
“Somos obrigados a fazer resumos o que torna o livro uma atividade forçada”.
O Gráfico 5 apresenta as respostas à pergunta 8 (“Você usa o livro de Física adotado?”).
29
Gráfico 5 – Respostas à pergunta “Você usa o livro de Física adotado?”
Fonte: Dados da pesquisa
A resposta “Sim, para estudar e/ou fazer exercícios” é um agrupamento de três tipos de
respostas: (1) “Sim, para estudar e fazer dever” (56%); (2) “Sim, para fazer exercícios” (21%);
(3) “Sim, para estudar” (2%). Assim, este resultado é coerente com os dados já analisados: o
uso do LD de Física limita-se à utilização de seus exercícios, em sala de aula ou em casa. Além
disso, os 8 estudantes (11%) que alegaram usar o livro “só quando o professor pede” constituem
um alerta sobre a importância do papel do professor como orientador do uso do LD de Física.
O Gráfico 6 apresenta as respostas à pergunta 9 [“Você utiliza algum outro livro de
Física (diferente do livro adotado em sua escola)?”].
Gráfico 6 – Respostas à pergunta “Você utiliza algum outro livro de Física?”
Fonte: Dados da pesquisa
Apenas 13 estudantes (17%) alegaram utilizar outros livros de Física. Os materiais
listados por estes 13 alunos podem ser agrupados em 3 tipos: (1) livros adotados por outras
escolas (mas sem referências a um autor ou a uma coleção específica); (2) livros de exercícios
30
utilizados em outras escolas (também sem referências específicas); (3) apostilas de cursinhos
(pré-técnico ou pré-ENEM2).
Os materiais listados por estes estudantes reforçam a seguinte percepção: os exercícios
ou problemas contidos nos livros constituem o recurso mais utilizado pelos alunos nos LD de
Física. Afinal, das três novas referências espontaneamente citadas pelos estudantes, duas são
claramente recheadas de exercícios e problemas (os livros de exercícios utilizados em outras
escolas e as apostilas de cursinho). Até mesmo a busca por livros adotados por outras escolas
pode ser, na verdade, uma busca por outros exercícios.
No entanto, a maioria dos respondentes alegou não utilizar outros livros de Física. As
justificativas dadas à resposta “não” foram agrupadas em 8 categorias mostradas no Gráfico 7.
Os nomes das categorias são complementos possíveis à seguinte oração: “Não utilizo outro
livro de Física, pois...”.
Gráfico 7 – Explicações dadas à “Não utilizo outro livro de Física, pois...”
Fonte: Dados da pesquisa
Com esses dados, observamos que 30 estudantes (48% dos que responderam “não utilizo
outro livro”) não justificaram suas respostas. Aparentemente, os estudantes entenderam que
somente as respostas afirmativas precisavam ser justificadas. Ainda assim, as respostas
“procuro na internet” e “assisto a vídeo-aulas”, mesmo que não numerosas (7 respondentes –
11%), constituíram um segundo indicativo da presença da internet nas rotinas de estudo destes
alunos.
2 Exame Nacional do Ensino Médio.
31
O restante dos respondentes que não usam outros livros pode ser agrupado em: (1)
estudantes que não gostam ou não têm interesse por Física (16%); (2) estudantes que
consideram suficiente o LD de Física adotado pela escola (16%); (3) estudantes que não
possuem ou não têm indicações de outros livros (5%); (4) estudantes que admitem não gostar
de estudar pelo livro (4%). Estes resultados nos conduzem, de diferentes maneiras, à percepção
de que os LD de Física não constituem a referência básica de estudo dos respondentes.
O Gráfico 8 sistematiza os dados colhidos com a pergunta 10 do questionário (“Em sua
opinião, o que um livro de Física deve possuir para ser um bom livro?”).
Gráfico 8 – Respostas à pergunta “O que um livro de Física deve possuir para ser um
bom livro?”
Fonte: Dados da pesquisa
Assim, ao serem perguntados sobre o que constitui um bom livro de Física, 63
respondentes (84%) fizeram considerações sobre os exercícios presentes no livro. Tais
considerações referiam-se à diversificação (“de diferentes níveis”, “de vestibular”, “do
ENEM”, “resolvidos” etc.) e à qualidade (“bons”, “repetitivos” etc.) destes exercícios. Este
resultado foi bastante surpreendente e não deixou dúvida quanto à associação que os estudantes
fazem entre o uso do LD de Física e a resolução de exercícios.
Por sua vez, 41 estudantes (55%) fizeram considerações sobre as explicações do livro.
“Boas” e “sucintas” foram as palavras mais utilizadas para caracterizar as explicações de um
32
bom livro. Além disso, 8 estudantes (11%) fizeram considerações sobre a linguagem utilizada
no LD. “Clara”, “objetiva”, “simples”, “sintética” e “sucinta” foram as palavras mais utilizadas
para caracterizar a linguagem de um bom livro. Estes dois conjuntos de considerações (sobre
as explicações e sobre a linguagem) podem ser entendidos como uma preocupação com a
inteligibilidade dos textos do livro. Assim, este resultado pode ser interpretado como o desejo
de 49 estudantes (65%) em compreender o livro de Física. É como se estes 49 estudantes
respondessem: “livro bom é aquele que a gente entende”.
É curioso e surpreendente como os outros elementos de um LD de Física (ilustrações,
curiosidades, exemplos, “experiências”, resumos etc.) são lembrados por menos de 10% dos
estudantes. Este resultado corrobora as conclusões de outras pesquisas como, por exemplo,
Garcia e Silva (2009), que recolheu evidências nas escolas públicas da região metropolitana de
Curitiba de que quando o LD de Física é utilizado, ele se torna uma simples fonte de exercícios
e questionários. Por outro lado, “a importância dos desenhos, esquemas e imagens do LD para
a compreensão do conteúdo” apontada por Silva, Garcia e Garcia (2011) não foi detectada neste
caso, pois apenas 8 estudantes (9%) reconheceram as ilustrações como algo que caracteriza um
bom LD de Física.
A pergunta 11 do questionário buscava descobrir a relação dos estudantes com os
Objetos Educacionais Digitais (OED) presentes na coleção de LD adotada pelo colégio onde a
pesquisa foi realizada (coleção Física contexto & aplicações, de Antônio Máximo e Beatriz
Alvarenga). Nas edições anteriores à publicação do “Guia de livros didáticos: PNLD 2015”
(GLD 2015), os OED da coleção eram disponibilizados em um DVD que acompanhava o
volume físico do livro. O Gráfico 9 apresenta as respostas à pergunta 11 (“Qual é sua opinião
sobre o DVD que acompanha o livro de Física?”).
33
Gráfico 9 – Respostas à pergunta “Qual é sua opinião sobre o DVD que acompanha o
livro de Física?”
Fonte: Dados da pesquisa
Os resultados não deixaram dúvida: não havia relação entre os estudantes e os OED da
coleção. Muitos estudantes nem mesmo sabiam da existência do DVD. Em 2016, um ano após
a aplicação do questionário, os OED estavam disponíveis via internet, na versão digital da
coleção. No entanto, o desconhecimento sobre este tipo de recurso parecia ser o mesmo.
E, novamente, a importância do papel do professor como orientador do uso do LD torna-
se evidente, pois o fato de os estudantes não utilizarem os OED é uma consequência direta do
não uso e até mesmo do desconhecimento destes recursos por parte dos professores. O
aproveitamento de todos os recursos de uma coleção de Física pelos alunos passa por um melhor
conhecimento e aproveitamento destes mesmos recursos pelos professores. Em nosso
entendimento, não há um sem o outro.
O Gráfico 10 apresenta as respostas à pergunta 12 [“De todos os livros didáticos que
você possui (Português, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia etc.), qual
é o seu preferido?”].
34
Gráfico 10 – Respostas à pergunta “Qual é o seu LD preferido?”
Fonte: Dados da pesquisa
Apenas 7 estudantes (9%) indicaram o LD de Física como o seu preferido, o mesmo
número de estudantes que indicou o livro de Geografia. Os livros de Biologia, Química, História
e Matemática são, nesta ordem, os preferidos dos respondentes.
Dos respondentes, 24 estudantes (32%) indicaram o livro de Biologia como o preferido,
um número que é quase o dobro dos 14 estudantes (19%) que indicaram o livro de Química.
Assim, o livro de Biologia adotado pelo colégio onde a pesquisa foi realizada (coleção Biologia
em contexto, de José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho) destacou-se como um
livro importante para os respondentes. Nos questionários, 82% dos estudantes que preferem o
livro de Biologia fazem elogios espontâneos às explicações, às imagens e aos exercícios deste
livro. Elogios semelhantes aparecem na descrição desta coleção no GLD 2015 (BRASIL,
2014a):
A obra busca promover a autonomia e a criticidade dos/as estudantes por meio de uma
contextualização vivencial dos conteúdos abordados, ressaltando as articulações entre
a Biologia e a Sociedade através de atividades reflexivas e textos atualizados. (...) O
projeto gráfico é coerente e funcional e permite rápida localização das informações.
As ilustrações e imagens são atrativas e assumem diferentes funções, permitindo
múltiplas interpretações do fenômeno biológico. (...) Destacam-se a qualidade e a
profundidade das atividades complementares, que permitem novas abordagens dos
temas trabalhados nos textos principais. (BRASIL, 2014a, p. 48)
35
Em entrevista informal em 2016, o professor de Biologia apresentou os seguintes
argumentos para a preferência dos estudantes pelo livro de Biologia: (1) a presença de diferentes
tipos de exercícios; (2) a boa qualidade das ilustrações e (3) a proximidade entre os assuntos
tratados no livro e a vivência dos estudantes. Assim, os estudantes, o GLD 2015 e o professor
parecem estar de acordo quanto à qualidade do livro de Biologia.
Também em entrevista informal, em 2016, a professora de Química justificou a
preferência de alguns estudantes pelo livro de Química pela qualidade dos exercícios do mesmo.
É curioso como o tema “exercícios” foi recorrente nos discursos dos professores de Biologia e
de Química quando estes foram convidados a explicar a preferência dos estudantes pelo livro
de suas disciplinas. Isto sugere que os “exercícios” parecem constituir o principal tipo de uso
do LD também em outras disciplinas.
As principais justificativas dadas à pergunta 12 [“De todos os livros didáticos que você
possui (Português, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia etc.), qual é o
seu preferido? Por quê?”] estão mostradas no Gráfico 11.
Gráfico 11 – Respostas à pergunta “Por que este é o seu LD preferido?”
Fonte: Dados da pesquisa
A preferência de alguns estudantes pelos livros de História, Matemática, Física,
Geografia, Português e Inglês está claramente vinculada à preferência pela própria disciplina.
Assim, 30% dos estudantes escolheram o livro preferido a partir de suas disciplinas preferidas
e não por características do LD propriamente dito. Já a preferência de outros estudantes pelos
livros de Biologia e de Química deu-se, principalmente, pela qualidade das explicações e dos
exercícios. Ao todo, 21% dos estudantes justificaram suas escolhas por estas características do
36
LD. Por fim, 25% dos estudantes não justificaram suas escolhas, deixando a resposta
incompleta (item “Em branco”).
Este conjunto de dados evidenciou que o uso do LD de Física se dá, principalmente,
pela resolução de seus exercícios. Esta parece ser a tônica do uso também em outras disciplinas.
O desejo por exercícios bons e variados manifestado pelos estudantes nas diferentes perguntas
do questionário parece estar vinculado às demandas e às práticas dos próprios professores.
Assim, o uso insistente do livro como fonte de exercícios e problemas parece ensinar aos
estudantes que é esta a principal função do LD. O não uso de OED e de outros recursos do LD
(ilustrações, curiosidades, exemplos, “experiências”, resumos etc.) evidenciado pela pesquisa
não deve ser atribuído a um simples “desinteresse” por parte dos estudantes. Na verdade, estes
resultados são um alerta para a responsabilidade dos professores como orientadores do uso do
LD. De toda forma, da maneira como vem sendo utilizado, o LD de Física não se constitui
como uma referência importante de estudo para os alunos.
Por outro lado, os estudantes não parecem indiferentes ao LD, pois eles se preocupam
com a inteligibilidade dos livros e se mostraram capazes de reconhecer os bons LD, como por
exemplo, no contexto apresentado, o livro de Biologia.
4.1.4. Resultados do bloco “Sobre suas estratégias de estudo”
O bloco de perguntas “Sobre suas estratégias de estudo” era formado por 5 perguntas
que procuravam desvendar os hábitos de estudo dos alunos respondentes.
Na pergunta 13 do questionário (“Se você precisa estudar Física, o livro é sua primeira
opção?”), 53 estudantes (71%) responderam “não” e 22 estudantes (29%) responderam “sim”.
Não podemos classificar este resultado como surpreendente, pois os resultados do bloco de
perguntas anterior (“Sobre seu livro de Física”) já apontavam nessa direção.
As justificativas para a resposta “não” foram categorizadas como complementos à
oração “O livro não é minha primeira opção, pois...”. As categorias são apresentadas no Gráfico
12.
37
Gráfico 12 – Respostas à pergunta “O livro não é minha primeira opção, pois...”
Fonte: Dados da pesquisa
Observamos que 27 estudantes (51% dos que responderam “não” à pergunta 13)
afirmaram que preferem utilizar o próprio caderno em suas atividades de estudo. Este resultado
corrobora a afirmação de Silva, Garcia e Garcia (2011) de que “o livro didático está
definitivamente inserido no cotidiano escolar, mas que, apesar disso, há a permanência de um
modelo de ensino no qual os professores são a principal fonte de conhecimento” (SILVA;
GARCIA; GARCIA, 2011). Afinal, a referência ao caderno é uma referência às anotações feitas
no quadro pelo professor regente da turma.
A importância dada aos exercícios de Física, detectada em outras perguntas do
questionário, faz-se presente nos 6 estudantes (11% dos que responderam “não” à pergunta 13)
que afirmaram preferir listas de exercícios extras na hora de estudar.
Outro dado importante são os 11 estudantes (21% dos que responderam “não” à
pergunta 13) que afirmaram que assistem a vídeo-aulas na internet e, depois, resolvem
exercícios. Nessa direção, 5 estudantes (9% dos que responderam “não” à pergunta 13)
afirmaram que preferem estudar pela internet, pois as respostas são melhores, ou mais claras,
ou mais rápidas. Assim, 16 estudantes afirmaram que a internet é sua primeira opção na hora
de estudar: 21% do total de respondentes. A presença da internet nas rotinas de leitura e de
estudo dos alunos havia sido detectada em outras perguntas do questionário. No entanto, na
pergunta 13 do questionário, a internet apareceu como a principal fonte de estudos para 21%
dos respondentes, em detrimento do caderno e do LD de Física.
38
As justificativas para a resposta “sim” à pergunta 13 foram categorizadas como
complementos à oração “O livro é minha primeira opção, pois...”. As categorias são
apresentadas no Gráfico 13.
Gráfico 13 – Respostas à pergunta “O livro é minha primeira opção, pois...”
Fonte: Dados da pesquisa
Apesar de categorizar as justificativas dos estudantes que têm o LD de Física como
primeira opção de estudos, o Gráfico 13 corrobora todos os resultados analisados anteriormente.
Os 26% de estudantes que se referem espontaneamente aos exercícios do livro nos permitem
inferir que o principal uso do LD de Física é como fonte de exercícios e problemas. Os 23% de
estudantes que usam o LD “junto com o caderno”, os 9% de estudantes que usam o LD porque
o “caderno não é completo” e os 5% de estudantes que respondem “procuro vídeo-aulas”
sugerem que o LD de Física é insuficiente até mesmo para os alunos que o têm como primeira
opção de estudos.
Neste sentido, o LD de Física parece ser preterido como primeira opção de estudos não
por suas limitações intrínsecas, mas por uma relação de insuficiência entre os estudantes e o
LD. Na época em que os resultados deste questionário foram tabulados, essa relação de
insuficiência já se mostrava bastante explícita, porém, nós não sabíamos explicá-la. Por que até
mesmo os estudantes que afirmavam utilizar o livro não estavam satisfeitos? Por que estes
estudantes sempre faziam referências espontâneas a outras fontes de estudo? O esclarecimento
dessas questões só foi possível na segunda fase da pesquisa, conforme explicado na descrição
dos resultados da oficina de estudos.
O Gráfico 14 mostra os dados obtidos com a pergunta 14 [“Qual(is) é (são) a(s) parte(s)
do livro que você mais utiliza quando está estudando Física?”].
39
Gráfico 14 – Respostas à pergunta “Quais são as partes do livro que você mais utiliza?”
Fonte: Dados da pesquisa
As porcentagens de “Exercícios” (83%), de “Questões de vestibular e/ou de ENEM”
(68%) e de “Problemas” (53%) corroboram um de nossos principais resultados: o LD de Física
é, antes de tudo, uma fonte de exercícios e problemas. Este parece ser, definitivamente, o
principal tipo de uso que os estudantes fazem do LD de Física.
Cerca de um terço dos respondentes pareceram aproveitar as leituras do LD, pois
alegaram utilizar os “Desenhos, figuras ou fotos” (32%), os “Esquemas” (33%) e os “Textos
principais” (35%).
O porcentual de “Resumos” (68%) foi alto e inesperado, pois a coleção adotada no
colégio onde a pesquisa foi realizada (coleção Física contexto & aplicações, de Antônio
Máximo e Beatriz Alvarenga) não contém, explicitamente, uma seção de “resumos”.
Acreditamos que os estudantes que marcaram “resumos” estavam querendo expressar o hábito
de fazer resumos com a ajuda do LD de Física ou mesmo o desejo de encontrar esse tipo de
seção no LD.
O Gráfico 15 apresenta os resultados obtidos com a pergunta 15 [“De que outra(s)
forma(s) você estuda Física (sem ser pelo livro)?”].
40
Gráfico 15 – Respostas à pergunta “De que outras formas você estuda Física?”
Fonte: Dados da pesquisa
O “Caderno” foi lembrado por 29 estudantes (39%) como outra forma de se estudar
Física. Este resultado corrobora o resultado de “preferência pelo caderno” constatado na
pergunta 15. A “Internet” e as “Vídeo-aulas” foram estratégias de estudo lembradas por,
respectivamente, 29 e 20 estudantes (39% e 27%). A presença da internet nos hábitos de estudo
dos alunos havia sido detectada em outras perguntas do questionário. No entanto, ao tabular os
resultados desta pergunta, esta presença nos pareceu ainda mais explícita, mais real e mais
consistente. As “Listas de exercícios” foram lembradas (novamente) por uma parcela
significativa dos respondentes (19 estudantes, 25%). Por fim, os “Resumos”, aparentemente
importantes nos resultados da pergunta 16, mostraram-se menos importantes e foram lembrados
como estratégia de estudo por apenas 5 estudantes (7%).
A forte presença da internet nos hábitos de estudo dos alunos não pode ser encarada
como uma surpresa, pois a presença desta tecnologia em outros aspectos da vida dos estudantes
é uma das principais características da rotina desta geração. Por outro lado, é surpreendente
como sabemos pouco sobre essa estratégia de estudo dos alunos: o que significa estudar pela
internet? O que exatamente os estudantes têm encontrado nesta rede? O que eles encontram nas
“vídeo-aulas”? Esta é a estratégia de estudo em que os alunos possuem o maior grau de
autonomia e, exatamente por essa razão, é a estratégia menos conhecida, menos orientada e
41
menos acompanhada pelos professores. Quais seriam as consequências deste desconhecimento?
Na segunda parte desta pesquisa, algumas dessas questões puderam ser exploradas, conforme
discutido na descrição dos resultados da oficina de estudos.
Na pergunta 16 do questionário [“Você usa a internet (pelo celular, pelo computador ou
pelo tablet) para estudar Física? Como?”], 62 estudantes (83%) responderam “sim”, 12
estudantes (16%) responderam “não” e 1 estudante (1%) respondeu “raramente”. As
explicações dadas às respostas “sim” e “raramente” estão categorizadas no Gráfico 16.
Gráfico 16 – Respostas à pergunta “Como você usa a internet para estudar Física?”
Fonte: Dados da pesquisa
Os dados mostram que 28 estudantes (44%) afirmaram assistir a vídeo-aulas. Esta
porcentagem é superior à porcentagem obtida na pergunta 15 do questionário.
Por sua vez, 17 estudantes (27%) afirmaram procurar exercícios na internet. Aqui, a
“cultura” da resolução de exercícios mostra sua força. Há diversas evidências nos resultados
deste questionário de que os exercícios são o conteúdo mais utilizado pelos estudantes no LD
de Física. Utilizar a internet para estudar é uma excelente oportunidade para a diversificação
das atividades de aprendizagem. No entanto, este resultado mostrou que, para muitos
estudantes, a internet não representa uma diversificação. Representa a versão digital da
“cultura” das atividades de “lápis e papel”.
Observamos que 12 estudantes (19%) descreveram suas atividades quando estudam
Física utilizando a internet: (1) visitas à wikipedia; (2) busca por resoluções de exercícios; (3)
visita aos sites sugeridos pelo livro; (4) visitas a outros sites (o Google foi o único citado
explicitamente). No Gráfico 16, estas atividades foram agrupadas na categoria “Busca por
informação”.
42
Outros 3 estudantes (4%) fizeram referência à plataforma Moodle do colégio onde a
pesquisa foi realizada. Neste colégio, a plataforma é utilizada principalmente como repositório
do material utilizado pelos professores em sala de aula (textos, slides, listas de exercícios etc.).
Por fim, 2 estudantes (3%) afirmaram utilizar a internet para pesquisar sobre fórmulas
e outros 2 estudantes (também 3%) afirmaram utilizar a internet para encontrar resumos sobre
os assuntos abordados em sala.
A pergunta 17 era a última pergunta do questionário: “Seu professor de Física costuma
disponibilizar algum material extra para seus estudos? Como é (são) esse(s) material(is)? Qual
é a sua opinião sobre eles?”. 69 estudantes (92%) responderam que “sim”. 62 estudantes (83%)
responderam que o principal material extra é constituído por “outros exercícios”. Estes
“exercícios extras” foram muito elogiados por alguns respondentes:
“Muito melhores que os exercícios do livro.”
“Dá uma noção de como será a prova.”
“Ajudam-me a decorar a matéria.”
“Exercícios são bons, pois nos obrigam a pensar.”
“São ótimos para as pessoas que têm preguiça de estudar pelo livro ou pelo caderno.”
(Extraído dos questionários.)
Em nosso entendimento, este último resultado é preocupante. Ele parece ser a
consequência natural de quando os professores: (1) não se dedicam a um uso mais efetivo do
LD de Física; (2) ignoram os OED das coleções e os sites que os estudantes visitam; (3) não
diversificam as atividades de aprendizagem dos estudantes. Ao agirmos dessa forma, ensinamos
que o estudo da Física é uma sequência simplista em que o conteúdo é exposto, “aprendido”,
treinado (com exercícios) e testado (com provas que possuem exercícios semelhantes). Os
elogios às listas extras mostram estudantes convencidos desta sequência. Não seriam os
exercícios do LD de Física suficientes? Se não o são, como podem constituir o principal tipo
de uso do LD?
Assim, neste último bloco de perguntas do questionário foi possível inferir que: (1) a
resolução de exercícios constitui a principal estratégia de estudo dos alunos e, como tal, o
principal tipo de uso do LD de Física; (2) há pouca diversificação das atividades de
aprendizagem de Física; (3) o professor ainda é a principal fonte de conhecimentos dos
estudantes; (4) o LD de Física parece insuficiente até mesmo para os estudantes que procuram
utilizá-lo; (5) a internet está fortemente presente nas rotinas de estudos dos alunos, mas isto não
representa necessariamente uma diversificação das atividades de aprendizagem (a “sequência”
de ensino-aprendizagem parece ser a mesma: vídeo-aulas e exercícios).
43
4.2. Oficina de estudos
A metodologia descrita da oficina de estudos gerou 4 conjuntos de dados: (1) as
anotações do autor deste trabalho; (2) as anotações do professor Thiago; (3) as anotações livres
do aluno-observador de cada grupo; (4) as respostas dadas por cada grupo às atividades
propostas. A compilação e análise das informações colhidas nestes conjuntos de dados serão
apresentadas em 3 partes correspondentes aos blocos de perguntas do guia de observação do
Apêndice C: “Sobre o comportamento e a produção dos estudantes”, “Sobre as pesquisas na
internet” e “Sobre as pesquisas nos livros”.
4.2.1. Sobre o comportamento e a produção dos estudantes
Nesta seção, pretendemos relatar o comportamento geral dos estudantes durante a
aplicação da oficina de estudos, bem como analisar as respostas dadas às perguntas das
atividades.
A metodologia da oficina de estudos trouxe para a sala de aula uma série de elementos
novos, diferentes das rotineiras aulas de laboratório que os estudantes costumam ter neste
horário. O acesso liberado à rede wi-fi do colégio, a permissão quanto ao uso do celular, o
computador disponibilizado para cada grupo e a presença de dois professores conduzindo os
trabalhos (um regente e um ex-professor) são exemplos destes elementos novos, não rotineiros.
Tais elementos poderiam facilmente se transformar em distratores do trabalho dos estudantes,
mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, estes elementos parecem ter sido interpretados
pelos estudantes como um sinal de que algo importante estava acontecendo.
Talvez por essa razão, houve um verdadeiro envolvimento de todos os 18 grupos com
as atividades propostas. Diversos pequenos problemas costumam ocorrer neste horário nas
aulas de laboratório: apatia, desânimo, sono e até mesmo indisciplina. No entanto, nenhuma
destas ocorrências foi observada durante as três tardes de aplicação da oficina. As atividades
foram realizadas com seriedade em todos os 18 grupos e com dedicação na maioria deles. Por
fim, vale destacar que a participação na oficina foi considerada uma atividade avaliativa no
trimestre escolar dos estudantes.
Durante a leitura do texto introdutório da oficina, quando os estudantes compreendiam
que poderiam utilizar o celular ou o computador em suas pesquisas, a sensação parecia ser de
alívio. Esta sensação de alívio nos faz pensar que, a princípio, os estudantes ficaram tensos por
perceberem que as atividades eram constituídas por várias perguntas e muitos espaços para
44
respostas. Numa das tardes, um estudante se manifestou neste momento, dizendo: “Ué, se pode
usar o computador, é só fazer control C control V”, referindo-se aos comandos no teclado de
um computador para copiar e colar informação. Na oportunidade, o autor deste trabalho
interrompeu a leitura do texto introdutório e explicou que as atividades também exigiriam
interpretação e discussão das informações encontradas.
No início dos trabalhos, pouquíssimos estudantes procuraram os livros disponibilizados
na mesa central da sala de aula. A maioria dos grupos fazia uma divisão prévia de tarefas e
começava as pesquisas pelos celulares e pelo computador. Os livros claramente constituíam a
segunda e, às vezes, a terceira opção de pesquisa dos grupos, pois os professores foram muito
solicitados. Observamos que os livros eram procurados em duas situações: (1) quando a
pesquisa na internet (via celulares e computadores) não produzia resultados satisfatórios ou (2)
quando os professores se recusavam a dar respostas prontas e, por isso, indicavam a leitura de
algum livro. Houve algumas exceções a esta observação: estudantes que procuraram e
utilizaram livros durante toda a oficina. Alguns destes casos serão analisados na seção “Sobre
a pesquisa nos livros”. Os raros casos de escolhas de livros no início da oficina também serão
relatados nesta seção.
Cerca de metade dos grupos optou por dividir as atividades da oficina entre os
integrantes. Por exemplo, se o grupo era constituído por 4 estudantes, cada um deles ficava
responsável por uma das 4 atividades. Essa divisão de tarefas associada ao uso dos celulares
pessoais individualizou as atividades, empobrecendo as discussões sobre os assuntos tratados
na oficina. Nos grupos em que houve esse tipo de divisão de tarefas, as discussões sobre os
assuntos tratados nas atividades só ocorreram quando os professores as estimularam. Assim, de
maneira geral, observamos que o uso dos celulares (e também dos computadores)
individualizava os estudos.
Mas a oficina foi visivelmente mais rica em discussões e interações com os professores
quando os 3 ou 4 integrantes se envolviam ao mesmo tempo com uma atividade, fazendo-as na
ordem. Nestes grupos, foram frequentes os episódios em que os estudantes tentavam se lembrar
de alguma informação sobre a Segunda Lei da Termodinâmica apresentadas a eles durante as
aulas de Física. Curiosamente, essas tentativas de lembrança eram feitas de forma oral, sem
consultas ao caderno ou a qualquer outro material didático.
De maneira geral, os estudantes se contentavam com a primeira resposta que
encontravam. Não houve tentativas de aprofundamento e nem cruzamento de informações de
diferentes fontes. As informações encontradas na internet eram consideradas verdadeiras a
priori, sem necessidade de maiores esclarecimentos. As raras e pequenas divergências de
45
opiniões dentro dos grupos foram resolvidas com a interação com os professores. Quando uma
resposta não era encontrada na internet ou quando a resposta encontrada não era satisfatória, os
estudantes, primeiramente, pediam ajuda aos professores. Outra estratégia utilizada pelos
estudantes, mas só detectada na análise dos resultados, foi realizar a pesquisa na internet com
um número maior de palavras-chave na guia de pesquisa. As consequências desta estratégia
serão analisadas na seção “Sobre as pesquisas na internet”.
Como explicado anteriormente, houve envolvimento nas discussões propostas,
principalmente nos grupos que não individualizaram as atividades por divisão de tarefas. Mas
houve também inúmeros sinais de cansaço após 1 hora de oficina. Em todos os grupos, as
respostas para as últimas atividades são nitidamente mais superficiais que as respostas para as
primeiras. Além disso, os estudantes precisaram administrar o tempo para a resolução das
atividades. Para muitos grupos, a escassez de tempo gerou ansiedades e fez aumentar o uso da
internet.
A produção dos estudantes foi analisada da seguinte maneira: as respostas dadas a cada
um dos itens das atividades do Apêndice B – de (1a) a (4f) – foram comparadas e categorizadas
em “satisfatória”, “regular” e “insatisfatória”. Os critérios utilizados para essa categorização
estão mostrados no Quadro 1.
46
Quadro 1 – Critérios de categorização das respostas para os itens das atividades
Item Resposta satisfatória Resposta regular Resposta insatisfatória
(1a)
Descreve o ciclo de Carnot
como a alternância entre duas
transformações isotérmicas e
duas transformações
adiabáticas, sem erros
conceituais
Descreve o ciclo de Carnot,
mas há erros conceituais ou de
escrita que comprometem a
qualidade da resposta
Descreve o ciclo de Carnot
com um texto genérico sobre o
funcionamento de uma
máquina térmica
(1b)
Apresenta a equação solicitada
de forma correta, sem erros de
escrita ou de digitação e
clareza de que as temperaturas
da equação devem estar em
kelvins
Apresenta a equação
solicitada, mas há erros de
escrita ou de digitação, ou
indícios de incompreensões
sobre o fato de que as
temperaturas da equação
devem estar em kelvins
Apresenta a equação geral para
o cálculo do rendimento de
uma máquina térmica
(1c)
Utiliza a equação do item
anterior para deduzir que se a
temperatura da fonte fria for
0K, o rendimento será de
100%
Utiliza a equação do item
anterior de forma incorreta ou
faz considerações genéricas
sobre “o trabalho ser igual ao
calor absorvido” (ou
equivalente)
Faz afirmações incorretas a
partir de interpretações
equivocadas sobre
informações encontradas na
internet ou em livros
(1d)
Utiliza as respostas aos itens
anteriores e conclui que se o
zero absoluto pudesse ser
atingido seria possível
construir uma máquina térmica
perfeita
Utiliza as respostas aos itens
anteriores de forma incorreta,
apesar de as conclusões
estarem corretas
Faz afirmações incorretas, sem
relação com os itens anteriores
(1e)
Afirma que devemos diminuir
T2 e manter T1 e justifica a
resposta de maneira correta
Afirma que devemos diminuir
T2 e manter T1, mas não
justifica a resposta ou justifica
de maneira incorreta
Afirma que as duas opções são
equivalentes ou que devemos
aumentar T1 e manter T2
(2)
Compara de forma sucinta o
funcionamento dos
refrigeradores e das máquinas
térmicas
Faz longas descrições sobre o
funcionamento dos
refrigeradores, mas há poucas
comparações com o
funcionamento das máquinas
térmicas
Demonstra incompreensões
sobre o funcionamento dos
refrigeradores
(3a) Associa entropia à medida da
desordem de um sistema
Faz curtas associações entre a
entropia e as colisões entre
partículas, ou a uma
“tendência de
desorganização”, ou ainda a
degradação da energia
Não houve respostas
insatisfatórias para este item
(3b)
Apresenta a equação solicitada
de forma correta, sem erros de
escrita ou de digitação
Apresenta a equação
solicitada, mas há erros de
escrita ou de digitação que
comprometem a qualidade da
resposta
Apresenta a equação
solicitada, mas não explica o
significado das grandezas ou
demonstra algum tipo de
incompreensão sobre a
equação
(3c) Apresenta os três exemplos
solicitados de forma correta
Apresenta os três exemplos
solicitados, mas as explicações
sobre eles estão incompletas
ou incorretas
Apresenta os 3 exemplos
solicitados, mas não os explica
47
Item Resposta satisfatória Resposta regular Resposta insatisfatória
(4a)
Afirma que a entropia não se
altera e justifica essa resposta
com o funcionamento cíclico
da máquina
Afirma que a entropia não se
altera, mas justifica essa
resposta de maneira
incompleta ou incorreta
Afirma que a entropia não se
altera, mas comete erros
conceituais na justificativa
(4b)
Afirma que a entropia da
vizinhança da máquina
diminui, pois esta perde calor
para a máquina
Afirma que a entropia da
vizinhança da máquina
diminui, mas justifica essa
resposta de maneira
incompleta ou incorreta
Afirma que a entropia da
vizinhança da máquina
aumenta (ou que não se altera)
(4c)
Utiliza as respostas aos itens
anteriores e conclui que a
entropia do conjunto sistema +
vizinhança de uma máquina
perfeita diminui
Utiliza as respostas aos itens
anteriores e faz conclusões
corretas, mas comete erros
conceituais
Faz afirmações incorretas ou
irrelevantes, sem relação com
os itens anteriores
(4d)
Afirma que os seres vivos não
violam a Segunda Lei da
Termodinâmica, pois
absorvem energia da
vizinhança
Afirma que os seres vivos não
violam a Segunda Lei da
Termodinâmica, mas justifica
essa resposta de maneira
incompleta ou incorreta
Afirma que os seres vivos
violam a Segunda Lei da
Termodinâmica
(4e)
Apresenta a ordem correta
(CBA) e justifica essa escolha
com afirmações corretas e
relevantes
Apresenta a ordem correta
(CBA), mas justifica essa
escolha com argumentos
incompletos ou irrelevantes
Apresenta outra ordem (ABC)
e justifica essa escolha com
argumentos incorretos ou
irrelevantes
(4f) Apresenta um contra-
argumento correto e relevante
Apresenta um contra-
argumento correto, mas
incompleto
Apresenta um contra-
argumento incorreto ou
irrelevante
Fonte: Dados da pesquisa
A Tabela 1 sistematiza a análise realizada. Nesta tabela, as respostas do tipo
“satisfatória” estão indicadas pela cor verde, as do tipo “regular” pela cor amarela e as do tipo
“insatisfatória” pela cor vermelha. As células em branco indicam os itens que foram deixados
em branco, pois para 3 grupos (G8, G10 e G18) o tempo de duas horas-aula (100 minutos) não
foi suficiente para o término da atividade. Além disso, atribuímos nota 2 às respostas do tipo
“satisfatória”, nota 1 às respostas do tipo “regular” e nota 0 às respostas do tipo “insatisfatória”.
Aos itens em branco atribuímos nota 0. Como tínhamos 15 itens, a nota máxima possível por
grupo era 30 e isto nos permitiu calcular o aproveitamento de cada grupo. O aproveitamento
por item também foi calculado dividindo-se a soma das notas dos grupos para uma dada
atividade por 36 (36 é a nota máxima possível por item, obtida se todos os 18 grupos
conseguissem a nota 2 num dado item).
48
Tabela 1 – Qualidade das respostas e aproveitamento (por grupos e por item)
(1a) (1b) (1c) (1d) (1e) (2) (3a) (3b) (3c) (4a) (4b) (4c) (4d) (4e) (4f) %
G1
2 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 2
60
%
G2
1 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 0
50
%
G3
0 1 1 2 0 2 2 2 1 0 1 1 2 2 1
60
%
G4
2 2 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2
60
%
G5
2 1 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0
40
%
G6
2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
50
%
G7
1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
70
%
G8
2 1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1 1 0
57
%
G9
2 1 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
73
%
G10
1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
27
%
G11
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1
77
%
G12
0 2 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1
40
%
G13
2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2
87
%
G14
1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
77
%
G15
/
1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 37
%
G16
/ 2 1 0 2 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1
50
%
G17
/ 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2
33
%
G18
/
2 1 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 40
%
% 69
%
61
%
47
%
69
%
28
%
47
%
92
%
86
%
58
%
53
%
42
%
39
%
42
%
42
%
47
%
Fonte: Dados da pesquisa
Dos 18 grupos que participaram da oficina, 14 puderam escolher se fariam a atividade
no computador ou se as respostas seriam manuscritas na folha com as perguntas. Na Tabela 1,
estes grupos estão indicados pelo ícone “” (para aqueles que digitaram as respostas) e “”
(para aqueles que manuscreveram as respostas). Outros 4 grupos (G11, G12, G13 e G14) foram
49
orientados a manuscrever as respostas (não foi dada a opção de digitar as respostas no
computador). Dos 14 grupos que puderam escolher, 11 preferiram digitar as respostas e apenas
3 manuscreveram as respostas. Aos 4 últimos grupos da tabela (G15, G16, G17 e G18) não foi
dada a opção de utilizar a internet, seja pelo celular ou pelo computador. Tais grupos estão
indicados pelo ícone “”, pois só puderam utilizar os livros disponibilizados.
O comportamento dos 4 grupos que não puderam usar a internet em suas pesquisas
(G15, G16, G17 e G18) foi nitidamente diferente em relação aos outros 14 grupos. Nas palavras
do professor Thiago, “a procura por respostas nos livros foi frenética”. Além disso, as
discussões nestes 4 grupos foram mais acaloradas e intensas, ao contrário do trabalho nos outros
14 grupos. Conforme explicamos, nestes 14 grupos a divisão de tarefas e a pesquisa na internet
produziram uma individualização da tarefa, gerando grupos mais silenciosos. A interação entre
os integrantes destes grupos dava-se quando um dos estudantes enunciava alguma resposta. A
pesquisa nos livros, por sua vez, exigia leituras em voz alta e um esforço coletivo de
interpretação e de elaboração de respostas.
O Gráfico 17 apresenta o aproveitamento de cada grupo em ordem decrescente, bem
como os ícones que indicam as condições de trabalho dos grupos.
Gráfico 17 – Aproveitamento dos grupos em ordem decrescente
Fonte: Dados da pesquisa
50
É interessante notar que todos os 4 grupos que só puderam consultar os livros tiveram
aproveitamentos iguais ou inferiores a 50%. De fato, o aproveitamento destes grupos foi aquém
do esperado e, a princípio, aparentemente contraditório com o comportamento dos mesmos no
dia em que fizeram as atividades. Mas há inúmeras evidências, em todos os grupos, de que os
estudantes têm dificuldades com a leitura dos LD. Assim, ao restringirmos a pesquisa somente
aos livros, o aproveitamento destes 4 grupos foi fortemente comprometido, apesar do
envolvimento de seus componentes em desvendar o conteúdo dos livros.
Por outro lado, é notável o fato de que dos 5 aproveitamentos iguais ou superiores a
70%, 4 são de grupos que manuscreveram as respostas. Manuscrever parece estimular a
capacidade de síntese dos estudantes que, em geral, não gostam de ficar copiando longas
respostas. Ao tentar sintetizar o que precisa ser respondido, os estudantes acabam elaborando e
manuscrevendo boas respostas. Além disso, nos grupos que digitaram as respostas há
claramente excessos na estratégia do “copiar e colar”, estimulado pelas próprias facilidades de
se estar escrevendo num computador. Assim, algumas respostas dos grupos que digitaram são
notavelmente mais longas e elaboradas, mas são cópias facilitadas pelos recursos
computacionais. Mas também há elaboração de respostas no trabalho dos grupos que digitaram.
Essa elaboração ocorreu quando o grupo encontrava alguma resposta via celular. Nestes casos,
a digitação da resposta gerava interpretações e reescritas do que estava sendo respondido.
Conforme explicado no capítulo “Metodologia”, os itens das atividades podem ser
categorizados segundo a habilidade que exigiam. Os itens (1a), (1b), (3a) e (3b) exigiam
somente a busca por informações. Os itens (1c), (1d) e (1e) exigiam a interpretação de
informações encontradas em itens anteriores. Os itens (2) e (3c) exigiam a busca por
informações e, ao mesmo tempo, a interpretação das mesmas. Os itens da atividade 4 exigiam
a interpretação dos textos-base. A Tabela 2 agrupa os itens segundo essas categorias e compara
os aproveitamentos dos mesmos.
51
Tabela 2 – Aproveitamento nos itens (por categorias)
Categoria Item Aproveitamento
no item
Itens que exigiam a busca por informações
(1a) 69%
(1b) 61%
(3a) 92%
(3b) 86%
Itens que exigiam a interpretação de informações encontradas em itens
anteriores
(1c) 47%
(1d) 69%
(1e) 28%
Itens que exigiam a busca por informações e, ao mesmo tempo, a
interpretação das mesmas
(2) 47%
(3c) 58%
Itens que exigiam a interpretação dos textos-base
(4a) 53%
(4b) 42%
(4c) 39%
(4d) 42%
(4e) 42%
(4f) 47%
Fonte: Dados da pesquisa
O aproveitamento nos itens que exigiam somente a busca por informações foi
nitidamente superior ao aproveitamento nos itens que exigiam interpretação das informações.
Aliás, é marcante como os estudantes não utilizaram as informações e as equações descobertas
em alguns itens para elaborar as respostas de outros itens. Por exemplo, há uma estreita relação
entre os itens (1b), (1c), (1d) e (1e). No entanto, essa relação não foi percebida por muitos
grupos que continuaram a fazer pesquisas por palavras-chaves para cada um destes itens. O
item (1e) poderia ser respondido por uma rápida simulação numérica com o uso da equação
pesquisada no item (1b). No entanto, muitos grupos pediam a ajuda dos professores quando não
encontravam a resposta do item (1e) na internet. Assim, o uso da equação precisou ser sugerido
para muitos grupos. E, mesmo assim, o índice de respostas corretas do item (1e) foi baixíssimo,
o que mostra que os alunos não conseguiram utilizar a equação. O mesmo ocorreu com os itens
(3b) e (3c). A equação pesquisada no item (3b) poderia ter sido utilizada na elaboração de
respostas para o item (3c). Uma das fontes mais utilizadas no item (3b), o site
www.sofisica.com.br, fazia exatamente isso: usava a equação para explicar em que situações
haveria aumento e diminuição de entropia. Mas novamente isso não foi percebido pelos grupos
e as respostas aos itens (3b) e (3c) nem sempre são da mesma fonte.
52
Estas observações sugerem que os alunos trataram as atividades como uma “caça às
respostas”. Não houve construção de relações entre os itens respondidos. Os itens foram
tratados como uma sequência de perguntas diferentes, sem relação umas com as outras, cujas
respostas precisavam ser encontradas, mas não elaboradas. Também sugere que a leitura das
fontes de pesquisa (sejam elas livros ou sites) ocorreu até a descoberta da resposta. Quando a
resposta era encontrada, abandonava-se a leitura, mesmo que outras informações e novas
respostas pudessem estar no parágrafo seguinte.
No entanto, essa valorização das respostas corretas em detrimento do estabelecimento
de relações entre as respostas não é exatamente uma surpresa, pois este processo é estimulado
de inúmeras maneiras no ambiente escolar. De maneira geral, a prática escolar tem valorizado
a “quantidade” da produção dos alunos (As tarefas de casa estão completas? Quantas questões
foram acertadas?), mas não a “qualidade” desta produção (Há construção de relações entre os
conhecimentos? Há uso efetivo destes conhecimentos?).
De maneira geral, os estudantes não perceberam a importância dos textos-base das
atividades. Isto é fortemente evidenciado pelos baixos aproveitamentos nos itens da atividade
4 (itens que exigiam a interpretação dos textos-base).
Ao longo das três tardes de aplicação da oficina, inúmeros estudantes confessaram que
não leram os textos-base. Em geral, a confissão se dava quando um aluno perguntava algo sobre
uma atividade e nós, professores, não desejando dar a resposta de imediato, perguntávamos se
ele havia lido o texto-base. Muitos admitiam que não tinham lido. Outros não respondiam e
começavam a ler. Outros ainda afirmavam que haviam lido, mas que não percebiam as relações
entre o texto-base e o quê estava sendo perguntado na atividade. O texto-base parecia não fazer
diferença.
O que isto pode significar? Será que os estudantes não vêem os textos-base como fontes
genuínas de informação? Será que o prazo para a entrega da tarefa (as duas horas-aula de
laboratório) induziu os estudantes a pularem o texto e irem direto para a pergunta? Nos últimos
anos, tem sido cada vez mais comum ouvirmos dos estudantes (e até mesmo de alguns
professores) a defesa de uma “estratégia” para “ganhar tempo” na resolução de itens do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). A “estratégia” consiste em pular os textos-base dos itens
e tentar respondê-los diretamente. O texto-base só é lido se o aluno julgar necessário fazê-lo
após a leitura da pergunta. Essa estratégia revela uma não valorização dos textos-base. No
contexto dessa estratégia, a leitura é uma “perda de tempo”. Num contexto mais amplo, a
formação de leitores nas diferentes disciplinas não é realizada.
53
Além disso, os alunos parecem não reconhecer as referências dos textos-base como
“endereços” para a busca por outras informações. Dos 18 grupos, nenhum procurou um livro
referenciado pelos textos-base de forma espontânea. A procura pelos livros referenciados só
acontecia após os professores recomendarem essa estratégia explicitamente e muitos grupos
não o fizeram mesmo depois da recomendação.
Afinal, o que os estudantes demonstram pelo LD de Física quando se comportam dessa
maneira? Desinteresse ou indiferença? O LD de Física parece não ser reconhecido como uma
fonte de conhecimentos. Como explicado anteriormente, muitos grupos só demonstraram
interesse em algum livro quando as buscas na internet não produziam resultados. Também
foram inúmeros os episódios em que os integrantes de um grupo procuraram um livro
referenciado nos textos-base para, minutos depois, fechá-lo e abandoná-lo, voltando a utilizar
a internet ou o debate com os colegas e com os professores como estratégia para responder aos
itens. Estes casos serão discutidos em seus pormenores na seção “Sobre as pesquisas nos
livros”.
Durante a análise realizada, foi possível observar que as boas respostas para os itens que
exigiam interpretação (de informações ou de textos-base) eram fruto da interação dos estudantes
com os professores. De fato, durante a oficina os professores se permitiram interagir com os
estudantes e, muitas vezes, a compreensão de algo que foi lido só acontecia após essa interação.
A leitura dos estudantes, salvo raras exceções que serão discutidas na seção “Sobre a pesquisa
nos livros”, não é autônoma. De modo geral, a leitura só parece ser efetiva para a aprendizagem
dos estudantes se o professor faz perguntas ou reflexões sobre o que acabou de ser lido.
E assim, é seguro afirmar que, apesar do transcorrer tranquilo da oficina e do
envolvimento de todos os estudantes, o aproveitamento dos grupos nas atividades revelou sérias
dificuldades de interpretação, seja das informações encontradas na internet, dos livros
disponibilizados, ou ainda dos textos-base dos itens. Além disso, manuscrever as respostas
parece ter ajudado alguns grupos nessa tarefa de interpretação. De maneira geral, a principal
estratégia utilizada pelos estudantes para a resolução dos itens das atividades foi a pesquisa na
internet (via celulares pessoais ou computadores), seguida da interação com os professores. Os
detalhes sobre como essas pesquisas aconteciam serão discutidos na seção “Sobre as pesquisas
na internet”. Os livros foram procurados quando essas duas primeiras estratégias não produziam
resultados. Houve inúmeras evidências das dificuldades dos estudantes em lidar com os livros.
Tais evidências serão apresentadas na seção “Sobre as pesquisas nos livros”.
54
4.2.2. Sobre as pesquisas na internet
Os dados coletados durante a realização da oficina de estudos possibilitaram um
levantamento detalhado de como os estudantes utilizam a internet para fazer pesquisas. Nesta
seção, descreveremos o que foi observado.
As pesquisas foram feitas por sites de busca e o Google foi, sem dúvida, o site de busca
mais utilizado. Mas isto não foi uma escolha dos estudantes, pois o navegador padrão dos
computadores disponibilizados era o Google Chrome. O mesmo ocorreu para os celulares: a
maioria dos estudantes possuía celulares com o sistema operacional Android que também utiliza
o Google Chrome como navegador padrão. Mas mesmo para os estudantes que possuíam
celulares com outros sistemas operacionais, o Google foi o provedor de pesquisa mais utilizado.
A maioria das respostas aos itens foi copiada ou elaborada a partir dos três primeiros
resultados do Google para uma dada combinação de palavras-chave. As palavras-chave
utilizadas pelos grupos foram anotadas pelos professores ou registradas nas anotações dos
alunos-observadores dos grupos.
Para alguns dos itens das atividades, foi possível fazer um levantamento dos sites e das
palavras-chave que os estudantes mais utilizaram. Os resultados deste levantamento estão na
Tabela 3.
Tabela 3 – Sites e palavras-chave utilizados pelos estudantes para alguns dos itens
Item Sites mais utilizados N.o de grupos que
utilizaram este site
(1a)
www.sofisica.com.br
(1.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 7
www.infoescola.com
(3.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 4
pt.m.wikipedia.org
(2.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 2
www.cimm.com.br
(9.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 2
55
Item Sites mais utilizados N.o de grupos que
utilizaram este site
(1b)
www.sofisica.com.br
(1.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 9
www.infoescola.com
(3.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 3
pt.m.wikipedia.org
(2.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 1
www.mundoeducacao.bol.uol.com.br
(5.o resultado do Google para “ciclo de Carnot”) 1
(3a)
www.significados.com.br
(1.o resultado do Google para “entropia”) 7
www.sofisica.com.br
(3.o resultado do Google para “entropia”) 4
(3b)
www.sofisica.com.br
(1.o resultado do Google para “fórmulas de entropia”) 6
m.brasilescola.uol.com.br
(2.o resultado do Google para “fórmulas de entropia”) 2
(3c)
pt.m.wikipedia.org
(2.o resultado do Google para “aumento de entropia”) 5
www.sofisica.com.br
(3.o resultado do Google para “entropia”) 4
m.brasilescola.uol.com.br
(1.o resultado do Google para “aumento de entropia”) 3
m.brasilescola.uol.com.br
(2.o resultado do Google para “fórmulas de entropia”) 3
www.mundoeducacao.bol.uol.com.br
(2.o resultado do Google para “diminuição de entropia”) 1
Fonte: Dados da pesquisa
Observamos que os estudantes não escolhiam necessariamente o primeiro resultado
obtido para uma dada combinação de palavras-chave. Havia sempre uma leitura prévia dos
resultados e uma escolha consciente daquele que, aparentemente, era o mais satisfatório.
Não houve questionamentos sobre a validade dos resultados obtidos nas pesquisas.
Todas as informações encontradas eram consideradas válidas. Além disso, não houve estudo
das fontes acessadas, mas apenas a busca por respostas. Se as respostas não eram encontradas
rapidamente num dado site, os estudantes interrompiam a leitura e acessavam outro resultado
do Google. Quando os estudantes encontravam a resposta para algum item, a leitura era
imediatamente interrompida e abandonada. Por vezes este comportamento impediu os
56
estudantes de perceberem que uma mesma fonte possuía respostas para vários itens e poucos
grupos mantiveram-se “fiéis” a uma mesma fonte durante toda a oficina.
Todos os itens das atividades geraram pesquisas na internet, até mesmo aqueles que, a
princípio, não precisavam ser pesquisados. De maneira geral, os itens foram tratados como
perguntas independentes. As relações entre os itens ficavam mais claras quando os grupos
interagiam com os professores. Foram inúmeros os casos de estudantes que afirmaram: “não
consigo encontrar nada na internet sobre o item (1e)”. Nestes casos, os professores
recomendavam o uso da equação pesquisada no item (1b) e só então os estudantes relacionavam
as perguntas feitas nestes dois itens.
O episódio da aluna que chamaremos de Flora é bastante curioso. Em seu grupo, Flora
ficou responsável por procurar respostas para a atividade 2. Num dado momento, em meio às
suas pesquisas sobre os refrigeradores e as máquinas térmicas, Flora afirmou: “Já encontrei
tudo o que preciso. Já até ‘baixei’ um livro sobre máquinas térmicas.”. E, de fato, Flora nos
mostrou o livro ‘baixado’ pelo celular, mas não houve consultas a esse livro. A desenvoltura de
Flora estava na procura por informações. Suas habilidades em utilizar as informações
encontradas mostraram-se visivelmente menos desenvolvidas. Na rotina dos estudantes, o uso
da internet parece estar sempre vinculado ao consumo de algo: de músicas, de vídeos, de livros,
de objetos etc. Neste sentido, todos parecem desenvolver inúmeras estratégias para encontrar
tais objetos de consumo. No entanto, a utilização desses objetos não parece ser o objetivo final
deste processo. Pelo contrário, o uso dos objetos “baixados” é sempre feito de forma superficial,
em segundo plano. O episódio de Flora indica que o uso da internet como mediadora do
consumo parece refletir-se nos momentos em que os estudantes usam a internet em seus
estudos: inúmeras fontes de informações são encontradas, poucas são utilizadas de forma
efetiva e profunda.
Aparentemente, a habilidade de encontrar informações na internet está bem
desenvolvida em todos os estudantes. Todos dominam a pesquisa por palavras-chave e também
fazem uma leitura prévia dos resultados obtidos. Por outro lado, a habilidade de relacionar as
informações obtidas ou a habilidade de utilizar essas informações em outros contextos parece
bem pouco desenvolvida na maioria dos estudantes. A localização das informações acontece de
forma autônoma, sem a necessidade de intervenção dos professores. O uso dessas informações
não é autônomo e exige a intervenção dos professores. Costa e Paim (2004) afirmam que
“demanda-se um novo modelo de ensino que privilegie o sujeito em sua interação com o
conhecimento”. No entanto, nossas constatações sobre o uso da internet pelos estudantes
sugerem que estamos bastante distantes deste novo modelo de ensino.
57
Os itens da atividade 4 exigiam a interpretação dos textos-base. As respostas para estes
itens dificilmente seriam encontradas por buscas simples na internet. No entanto, na busca por
respostas para estes itens, muitos grupos utilizaram a estratégia de copiar parte da pergunta na
guia de pesquisa. Essa é uma estratégia bem conhecida por alunos e professores para se localizar
problemas ou resoluções de problemas na internet. Este procedimento não gerou resultados
relevantes para a maioria dos itens, mas funcionou, por exemplo, para o item (4d). Assim, se
digitarmos “seres vivos violam Segunda Lei da Termodinâmica” na guia de pesquisa do
Google, o 1.o resultado apresentado é um interessante texto sobre este assunto escrito pelo
professor Fernando Lang da Silveira, do Instituto de Física da Universidade do Rio Grande do
Sul (www.if.ufrgs.br/cref). Poucos grupos encontraram este texto, mas é surpreendente o fato
de que os grupos que o encontraram não o terem utilizado. As boas explicações dadas neste
texto sobre o tema não foram aproveitadas, indicando que os grupos não reconheceram no texto
a resposta procurada.
Além disso, os itens da atividade 4 deixaram evidente que quando a procura na internet
não gerava resultados satisfatórios, os estudantes procuravam interagir com os professores. Os
livros constituíam somente a 3.a opção de pesquisa. Todas as boas respostas colhidas para os
itens da atividade 4 são fortemente baseadas nas conversas entre os estudantes e os professores.
Essas conversas constantes desenvolveram a capacidade dos professores de interagir com os
grupos sobre os assuntos da atividade 4.
É importante destacar que em nenhum momento da oficina os estudantes acessaram
vídeo-aulas, nem qualquer outro tipo de vídeo. Isto indica que as vídeo-aulas são consideradas
uma estratégia de estudo individual e, talvez, inapropriadas para o contexto da oficina de
estudos.
Assim, podemos afirmar que a pesquisa na internet foi feita com desenvoltura. Os
estudantes parecem fazer leituras prévias dos resultados que encontram antes de escolher um
destes resultados. No entanto, a leitura e a pesquisa nas fontes encontradas parece sempre
superficial, rápida e pragmática: o objetivo é encontrar as informações procuradas. Tais
informações não são questionadas. Todos os dados são considerados verdadeiros, a priori. Mas
alguns bons dados são descartados, ou pela dinamicidade da pesquisa em si, ou pelo seu não
reconhecimento. Por fim, os estudantes parecem ter dificuldades para utilizar, relacionar ou
triangular as informações encontradas.
58
4.2.4. Sobre as pesquisas nos livros
Nesta seção, descreveremos como se dava as atividades de pesquisa nos livros
disponibilizados durante a oficina de estudos.
Os poucos estudantes que procuravam e escolhiam livros no começo da oficina
facilmente desistiam da leitura e se rendiam às facilidades da pesquisa nos celulares. No começo
da oficina, os critérios para a escolha dos livros eram bem diversos e, às vezes, inesperados.
Por exemplo, os livros Física Conceitual e Fundamentos de Física 2 foram escolhidos pelo
G7 logo no começo da oficina. As justificativas dadas para essas escolhas podem ser extraídas
das anotações da aluna-observadora deste grupo:
(...) chegamos à conclusão que não devemos julgar um livro pela capa, pois o primeiro
livro possuía uma capa bastante “bonita”, mas não possuía o que precisávamos. Então,
pegamos um livro aparentemente mais velho e “frio” que nos ajudou bastante na hora
de pesquisar. (Aluna-observadora do G7)
O livro “de capa bonita” é o Física conceitual. O livro “mais velho e frio” é o
Fundamentos de Física 2. Assim, neste caso, os livros foram escolhidos por suas capas. Num
dado momento, outra aluna do mesmo grupo afirmou que, em geral, os livros velhos são
melhores que os livros novos, pois “tudo o que você procura nos livros velhos você encontra”.
Dois outros episódios merecem ser descritos: o episódio de uma aluna que chamaremos
de Sara e o episódio do uso do livro Física conceitual, de Paul G. Hewitt.
O grupo de Sara (G1) estava localizado próximo à mesa com os livros disponíveis para
consulta. No começo da oficina, ao ser informada de que poderia consultar estes livros, Sara
esticou o braço e pegou o livro mais próximo. Assim, o critério de escolha do livro foi a
proximidade do mesmo. O livro mais próximo era o 2.º volume da coleção Quanta. Sara não
conseguiu encontrar no índice do 2.º volume o capítulo sobre Termodinâmica e, por essa razão,
pediu ajuda ao professor que lhe explicou que, nesta coleção, o capítulo sobre Termodinâmica
estava em outro volume. Sara então foi até a mesa e procurou o capítulo desejado no 3.º volume.
Como não encontrou, procurou também no 1.º volume da coleção. Ao encontrar o capítulo no
1.º volume, Sara voltou a se sentar e começou a lê-lo. Minutos depois, ao passarmos ao lado do
grupo, perguntamos: “Você achou alguma coisa naquele livro, Sara?”. Ela respondeu: “Achei,
mas eu não consegui interpretar. Aí, olhei na internet mesmo...”. Ao ouvir este diálogo, o
professor perguntou: “Na internet é mais direto, né?”. Sara não respondeu, mas pareceu
confirmar. Sara não desistiu: ela continuou tentando extrair alguma informação do capítulo.
59
Alguns minutos depois, escutamos Sara fazendo a seguinte reclamação com a colega ao lado:
“Quando estou conseguindo me concentrar (na leitura), alguém (referindo-se aos professores,
que não paravam de circular) aparece e me perco! Eu tive o mesmo problema hoje de manhã
no simulado”. A colega perguntou: “A resposta está aí?”. Sara respondeu: “Estou tentando
interpretar este parágrafo cheio de variáveis”. E, de fato, Sara passou boa parte do tempo alheia
à produção do grupo, tentando extrair alguma informação do livro que escolheu. Num dado
momento, ao ler sobre entropia no livro, Sara perguntou ao professor: “Afinal, a entropia é ‘o
quê’?”. Muito tempo depois, ao ver que Sara fechou o livro, os professores perguntaram:
“Desistiu do livro, Sara?”. Ela respondeu: “Desisti da vida!”.
Sara é uma boa aluna. É inteligente, participativa e tira boas notas. O episódio relatado
nos mostra uma boa aluna fazendo uma tentativa sincera de interpretação de um LD. Mas
mostra também as dificuldades de concentração e de interpretação desta boa aluna, bem como
a impaciência e a posterior desistência gerada neste processo. Episódios como esse podem estar
ocorrendo com mais frequência do que suspeitamos na rotina dos estudantes. Até mesmo
porque este não foi o único episódio de fracasso de leitura e de interpretação ocorrido nas três
semanas de aplicação da oficina. Na verdade, ocorreram muitos outros. Todos com o mesmo
roteiro: o estudante escolhia um livro, localizava com relativa facilidade o assunto de seu
interesse e começava a leitura do texto. Alguns minutos depois, ele desistia e fechava o livro.
Ao ser indagado sobre o porquê da desistência, o aluno alegava que não compreendia o que
estava escrito.
O segundo episódio é sobre o uso do livro Física conceitual, de Paul G. Hewitt. Havia
uma grande expectativa se os alunos utilizariam e gostariam deste livro, pois ele é fortemente
cotado como o novo LD de Física a ser adotado pelo colégio onde esta pesquisa foi realizada.
Curiosamente, a beleza da capa e o apelo visual do livro chamaram a atenção de apenas dois
grupos (o G6 e o G15) nas três semanas de aplicação da oficina. Quando este livro foi
selecionado pelo G6, perguntamos aos componentes por que eles haviam feito essa escolha.
Uma aluna do grupo respondeu: “Achei as perguntas mais conceituais e, por isso, escolhi o
livro ‘Física conceitual’”. Mais tarde, outra aluna do grupo afirmou ter gostado do livro, pois
encontrou nele uma das respostas da atividade. A mesma aluna, minutos depois, afirmou:
“Desisti do livro; resolvi utilizar minhas próprias palavras” (e, de fato, o livro estava fechado
sob seus braços, em cima da mesa). No G15, o livro foi levado para as carteiras de trabalho do
grupo, mas permaneceu fechado durante boa parte do tempo. O livro foi aberto quando o grupo
estava respondendo as atividades 3 e 4, sobre entropia. Após ler sobre entropia no livro Física
60
conceitual, uma aluna afirmou: “Não entendi nada!”. O livro foi fechado e não foi mais
consultado até o final da aula.
A análise destes episódios revela as dificuldades de leitura e de interpretação que os
estudantes enfrentam ao ler o LD de Física. Na análise do questionário sobre hábitos de estudo,
descobrimos que os estudantes se preocupam com a inteligibilidade dos textos do LD.
Descobrimos também que até mesmo os estudantes que utilizam o LD consideram-no
insuficiente e acabam procurando outras fontes de estudo (o caderno, a internet, as vídeo-aulas
etc.). Estes fatos podem estar relacionados, pois as dificuldades de leitura e de interpretação dos
estudantes explicariam a preocupação com a inteligibilidade dos textos do LD, bem como a
sensação de que o LD é insuficiente (afinal, ele não é compreendido).
Houve pouquíssimo interesse pelos livros “desconhecidos” pelos estudantes. Dois livros
permaneceram intocados ao longo das três tardes de aplicação da oficina. Nenhum dos 18
grupos se interessou pela Introdução ilustrada à Física (Larry Gonick e Art Huffman) ou
pelas Lições de Física (Richard P. Feynman, Robert B. Leighton e Matthew Sands). Os outros
livros e coleções foram utilizados timidamente por alguns grupos. O livro mais utilizado pelos
grupos foi o LD de Física adotado pelo colégio: Física contexto & aplicações, de Antônio
Máximo e Beatriz Alvarenga. Nos grupos que não puderam consultar a internet (G15, G16,
G17 e G18), este livro foi a principal referência para a realização da atividade. Em muitos
grupos, os estudantes pediram para pegar e utilizar os próprios livros (que estavam nas mochilas
ou nos escaninhos). Assim, concluímos que, apesar de não ser muito utilizado pelos estudantes,
o LD adotado pelo colégio parece ser uma referência minimamente conhecida e, portanto,
procurada pelos estudantes na ausência de outras fontes de informação.
De maneira geral, os alunos mostraram-se capazes de consultar os índices dos livros e
encontrar as informações de que precisavam. Isto ocorreu até mesmo para os livros
“desconhecidos” por eles. Muitos estudantes se surpreenderam quando descobriram que os
assuntos tratados nas atividades eram extensamente abordados no LD de Física que eles
possuem. Este fato evidenciou que o LD de Física adotado pelo colégio também é um livro
“desconhecido” para muitos estudantes.
Alguns estudantes que participaram da oficina são considerados os melhores alunos do
colégio onde a pesquisa foi realizada. De fato, o desempenho acadêmico destes estudantes é
acima da média em Física e nas demais disciplinas. O comportamento destes estudantes na
oficina de estudos foi bem diferente em relação aos outros alunos e, por essa razão, a partir de
agora, descreveremos alguns episódios envolvendo estes estudantes.
61
O primeiro episódio envolve a aluna que chamaremos de Fátima. Fátima participou da
primeira tarde de aplicação da oficina. Seu grupo era formado por ela e mais três estudantes:
duas alunas e um aluno. Após a leitura do texto introdutório às atividades, Fátima e os demais
componentes do grupo começaram a fazer as pesquisas no computador e nos celulares pessoais.
Após 20 minutos utilizando o celular, Fátima parecia incomodada. Então, Fátima pediu a
palavra e perguntou: “Posso usar o nosso livro, professor?” (Fátima estava se referindo ao LD
de Física adotado pelo colégio). Diante da resposta afirmativa e do oferecimento de um dos
exemplares do livro, Fátima disse: “Posso pegar o meu no escaninho?”. Então, Fátima buscou
o livro, encontrou rapidamente as páginas referentes aos assuntos tratados nas atividades e
começou uma leitura atenta e silenciosa destas mesmas páginas. Após a leitura, Fátima parecia
mais à vontade e pareceu assumir a liderança do grupo. A maioria das boas respostas deste
grupo foi elaborada por Fátima após o uso do LD de Física. Em algumas situações, as respostas
que Fátima elaborava mostravam-se diferentes das respostas encontradas na internet pelos
outros componentes do grupo. Nestes casos, Fátima explicava com veemência o que havia lido
no livro. Num dado momento, observamos Fátima fazendo uma leitura em voz alta de um trecho
do livro e, após a leitura, explicando o que ela havia acabado de ler. Foi uma cena marcante:
era como se Fátima fosse a tradutora de um livro escrito numa língua estrangeira.
O segundo episódio envolve a aluna que chamaremos de Carmem. No início da oficina,
Carmem levantou-se e escolheu o livro Fundamentos de Física 2, de David Halliday e Robert
Resnick. Suas duas colegas de grupo optaram por utilizar os celulares. Ao observarmos
Carmem folheando este livro, pensamos em intervir e sugerir outra fonte de pesquisa para a
aluna, afinal, tratava-se de um livro utilizado nos ciclos básicos do Ensino Superior. No entanto,
antes que a intervenção ocorresse, Carmem começou a demonstrar que estava compreendendo
o que estava lendo. O que veio a seguir foi uma longa sequência de perguntas da aluna sobre os
símbolos e a linguagem utilizada neste livro. Após terem sido esclarecidas as perguntas, foi
possível observar Carmem encontrando respostas para vários itens com a ajuda deste livro.
Os demais estudantes com desempenho acadêmico acima da média tiveram episódios
semelhantes. A princípio, não se sentiram à vontade com a pesquisa na internet. Em seguida,
procuraram o LD de Física adotado pelo colégio. Depois, investiram algum tempo da oficina
fazendo uma leitura silenciosa deste livro. Por fim, tiveram papéis fundamentais nos grupos aos
quais pertenciam, ora liderando-os, ora explicando aos colegas o que haviam aprendido com a
leitura.
O que os episódios com estes alunos indicam? Em primeiro lugar, destacamos que estes
estudantes demonstraram possuir habilidades de leitura mais bem desenvolvidas que os colegas.
62
Também é possível inferir que estes estudantes conhecem, usam e dominam o LD de Física
adotado pelo colégio. O bom desempenho acadêmico destes estudantes seria uma consequência
direta de suas habilidades de leitura? Ou teria sido o uso constante dos LD que construiu o bom
desempenho acadêmico destes estudantes? De uma forma ou de outra, estes episódios associam
o bom desempenho escolar ao domínio da leitura de LD. Assim, o uso do LD parece contribuir
significativamente para o aprendizado de Física e para o desenvolvimento de inúmeras outras
habilidades dos estudantes. Por essa razão, acreditamos que os professores de Física devem
insistir e investir no uso do LD pelos demais estudantes, bem como orientar, ensinar e estimular
este uso.
Assim, nossas observações sobre as pesquisas nos livros durante a oficina de estudos
indicam que os estudantes não usam os LD de Física porque têm enormes dificuldades em
interpretá-los. Além disso, há pouco interesse pelos LD de Física e por outros livros de Física
em geral. Por outro lado, os estudantes que parecem dominar o uso dos LD têm habilidades de
leitura mais bem desenvolvidas e melhores desempenhos acadêmicos.
A presença dos LD de Física no cotidiano dos estudantes é uma realidade e o quadro de
subutilização destes livros precisa ser revertido. Após a realização da oficina de estudos,
estamos convencidos de que um uso mais consciente e profundo dos LD de Física pelos
estudantes só será possível mediante o estímulo, a orientação e o envolvimento dos professores.
Acreditamos ainda que os professores podem ser os protagonistas dessa mudança, desde que
assumam uma nova postura diante do conhecimento e dos LD de Física.
4.3. Considerações sobre o produto vinculado a esta dissertação
Os resultados desta pesquisa sugerem que a reversão do quadro de subutilização dos LD
de Física só será possível mediante a ação dos professores. E é com o intuito de ajudar os
professores neste processo que, a partir de agora, descrevemos e justificamos a elaboração do
produto vinculado a esta dissertação.
Costa e Paim (2004) afirmam que a informação “só existe para alguém se esse alguém
pode atribuir-lhe significado”. Neste sentido, vale ressaltar um interessante resultado obtido na
oficina de estudos: no Gráfico 17 (página 49), é possível observar que os melhores
aproveitamentos nos itens das atividades foram obtidos por grupos que manuscreveram as
respostas. Este resultado indica que a tentativa de reescrever o que foi lido é extremamente
producente na construção de sentidos para a leitura. E foi precisamente esta percepção que deu
origem à “semente” que acabou se transformando no produto deste trabalho. Outra percepção
63
que contribuiu para esta “semente” foi a imagem da aluna Fátima “traduzindo” o LD de Física
para os colegas, conforme relatado na descrição da oficina de estudos.
A partir desta semente, o produto intitulado “Guia de preparação de aulas de leitura no
livro didático de Física” foi tomando corpo. As bases de sua elaboração foram surgindo à
medida que a análise dos dados avançava. Como exemplos de constatações que deram corpo
ao produto, podemos citar: (1) a afirmação de Amaral (2007) de que “o ensino, na escola, não
existe sem a leitura” e (2) o bom aproveitamento dos grupos que possuíam bons leitores na
oficina de estudos.
Ninguém espera que os estudantes compreendam as ideias, os modelos e as tecnologias
da Física sem a ajuda de seus professores. Da mesma maneira, não podemos esperar que estes
mesmos estudantes aprendam a utilizar os LD de Física por conta própria. Os professores de
Física devem conduzi-los neste processo, mediando o relacionamento entre os estudantes e os
livros e transformando o uso dos LD de Física numa atividade cada vez mais autônoma. Assim,
aprender a utilizar os LD de Física implica em aprender a ler e a interpretar os textos presentes
nestes livros.
Acreditamos num ensino de Física baseado em atividades diversificadas, e não em
sequências simplistas do tipo: “aprender”, treinar e testar. Neste sentido, as atividades de leitura
nos LD de Física constituem apenas uma das estratégias possíveis. No entanto, trata-se de uma
estratégia essencial, pois o desenvolvimento da competência leitora dos estudantes fundamenta
a realização de todas as outras atividades de aprendizagem, nos LD de Física, na internet e em
outros contextos.
Sendo assim, o objetivo de nosso produto é apoiar a prática dos professores que
acreditam que os LD de Física têm mais a oferecer aos estudantes. Por essa razão, nosso “GUIA
DE PREPARAÇÃO DE AULAS DE LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA” defende
e orienta a prática da leitura dos LD durante as aulas de Física. No guia, a partir da concepção
de leitura preconizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), recomendamos que as
aulas de leitura no LD de Física sejam organizadas em torno de três momentos distintos: antes,
durante e depois da leitura. Em seguida, exemplificamos o uso dessas recomendações com um
texto extraído do livro Física contexto & aplicações, de Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.
A escolha deste texto para nosso exemplo de aplicação está intimamente relacionada às nossas
atividades de pesquisa: durante a oficina de estudos, os estudantes tiveram acesso a este texto
e a maioria mostrou dificuldades em interpretá-lo.
A seguir, fazemos nossas “Considerações finais”.
64
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos com o nosso “Questionário sobre hábitos de estudo” corroboram
as pesquisas da última década sobre o uso dos LD de Física. O questionário evidenciou, por
exemplo, que a resolução de exercícios é a principal estratégia de estudo e o principal tipo de
uso do LD de Física. Pesquisas qualitativas (GARCIA; SILVA, 2009) e quantitativas
(ARTUSO, 2014) também apontam nesta direção.
Além disso, há evidências de que a subutilização do LD de Física adotado pela escola
onde a pesquisa foi realizada e a não diversificação das atividades de ensino, ambas detectadas
pelo bloco “Sobre suas estratégias de estudo” do questionário, têm, conforme alertam Vieira e
Camargo (2013), conduzido os estudantes “a uma visão distorcida da ciência e do real papel do
livro didático no ambiente escolar”. Uma evidência disso é a naturalidade com que os
professores e os estudantes lidam com sequências de ensino em que o conteúdo é exposto,
treinado e testado.
Os resultados das pesquisas de Costa e outros (2007) também estão em consonância
com os resultados de nosso questionário: a pouca utilização dos LD de Física, a dificuldade dos
estudantes para estudarem com este livro e a utilização mínima de suas potencialidades. No
entanto, em relação a essa pesquisa, nosso “Questionário sobre hábitos de estudo” permitiu o
aparecimento de um novo dado: a importância da internet nos hábitos de leitura e nas estratégias
de estudo dos alunos. Isto pode ser explicado pela época em que a pesquisa de Costa e outros
(2007) foi realizada. Os questionários dessa pesquisa foram respondidos em 2005, há 11 anos.
Imagina-se que, nessa época, o acesso à internet (por computadores e, principalmente, por
celulares) era menos generalizado do que atualmente.
No entanto, como mencionado anteriormente, a presença e a importância da internet nas
rotinas de estudo dos alunos nem sempre podem ser encaradas como uma diversificação das
atividades de ensino ou de aprendizagem da Física. Este posicionamento pode ser defendido
por dois argumentos. O primeiro baseia-se em nossa vivência do cotidiano escolar e refere-se
ao fato de que os professores desconhecem os sites e os conteúdos dos sites que os estudantes
acessam. O mesmo pode ser dito para as vídeo-aulas. Assim, o uso da internet, de aplicativos e
de vídeo-aulas para a aprendizagem de Física tem se configurado, na maioria das vezes, como
uma estratégia autônoma dos estudantes, sem a mediação dos professores. Existem inúmeras
tentativas de mediação deste uso e os trabalhos de Paula (2015) e de Perez, Viali e Lahm (2016)
são alguns exemplos. No entanto, os estudantes descobrem as novidades do mundo virtual mais
65
rapidamente do que os professores conseguem incorporá-las em suas práticas. O segundo
argumento refere-se ao fato de que, muitas vezes, a sequência de estudos que os estudantes
buscam na internet é semelhante à sequência de estudos incutida pelas práticas dos professores:
exposição, treino e testes (conforme explicado anteriormente). Neste sentido, as vídeo-aulas
contemplam a exposição e a busca por novos exercícios contemplam os treinos e testes.
Por fim, ainda sobre o “Questionário sobre hábitos de estudos”, gostaríamos de
esclarecer que, à época em que aplicamos e tabulamos seus dados, não conseguimos interpretar
dois de seus resultados: (1.o) a insatisfação que os estudantes alegavam apresentar com a própria
leitura e (2.o) a relação de insuficiência entre os estudantes e o LD de Física adotado pela escola
onde a pesquisa foi realizada. A insatisfação mencionada mostrou-se no Gráfico 3 (página 26),
em que 50% dos estudantes afirmaram não se considerar bons leitores. A relação de
insuficiência entre os estudantes e o LD de Física foi evidenciada pelo Gráfico 13 (página 38),
em que 37% dos estudantes afirmaram que o livro constitui sua primeira opção de estudos, mas
que o mesmo precisa ser complementado pelo caderno ou por vídeo-aulas.
Estes fatos só puderam ser explicados após a oficina de estudos. Na ocasião, fizemos
inúmeras observações diretas das enormes dificuldades dos estudantes em lidar com os textos
do LD de Física adotado. Mas as dificuldades de leitura e de interpretação não se limitavam ao
livro. Elas também se mostraram nos textos encontrados na internet. Esta afirmação é
corroborada pelos dados da Tabela 2 (página 51), em que apresentamos o aproveitamento dos
estudantes nos itens das atividades. De forma geral, o aproveitamento nos itens que exigiam a
interpretação de textos (da internet, dos livros ou dos textos-base) foi muito inferior ao
aproveitamento nos itens que exigiam somente a busca por informações. E isto corrobora a
afirmação de Costa e Paim (2004) de que “a disponibilização da informação em meio eletrônico
ou não, por si só, não assegura o processo de aprendizagem no sujeito”.
Neste sentido, o uso da internet e das redes sociais como ferramenta de ensino não
ocorre por si só. Ele deve ser mediado pelos professores, assim como o uso do LD de Física. A
dosagem, a organização e a coerência das informações da internet, do LD de Física e do
discurso do professor são importantes, mas não suficientes. Os aplicativos, os hipertextos, as
simulações e as atividades do LD de Física (leituras, exercícios, experimentos etc.) devem ser
encarados como recursos para o aprendizado.
Atualmente, o uso da internet é parte intrínseca e importante da vida dos jovens. No
entanto, esse uso é, inicialmente, fomentado pelas necessidades de comunicação, de
comportamento e de consumo destes jovens. É curioso observar como os hábitos de jovens na
internet são “importados”, adaptados e transformados em hábitos de estudantes na internet
66
quando estes jovens estão no contexto escolar. Durante a oficina de estudos, o caso relatado da
aluna Flora é uma evidência disso. Ao ser defrontada por um problema (comparar as máquinas
térmicas com os refrigeradores), Flora conseguiu mobilizar suas habilidades na internet para
buscar e localizar, rapidamente e sem custos, um livro inteiro sobre este problema. Mas a
comparação propriamente dita não foi feita com o livro encontrado. A busca pelo livro pareceu
um fim em si mesmo, semelhantemente a, muitas vezes, a comunicação e o consumo na
complexa sociedade atual.
No entanto, espera-se mais dos estudantes. Esperamos, por exemplo, uma atitude mais
crítica diante das informações disponíveis na internet. É notável o fato de que, durante a oficina
de estudos, as informações encontradas pelos estudantes fossem consideradas verdadeiras
independentemente da fonte. Esperamos ainda que os estudantes não validem as informações
que encontram apenas por sua quantidade ou por sua organização.
A presença e o uso da internet nas rotinas de estudo dos alunos permearam as discussões
realizadas neste trabalho, mas não constituíram o foco de nossa pesquisa. Acreditamos que
novas investigações devam ser realizadas nesta direção, com o intuito de revelar os diferentes
papéis que a internet possa estar desempenhando na aprendizagem de Física enquanto estratégia
autônoma de estudo dos alunos.
As pesquisas de Silva, Garcia e Garcia (2011) nos permitem inferir uma “tradição” no
ensino de Física que coloca o professor como a principal e, às vezes, como a única fonte de
informações. Nesta “tradição”, o professor é o responsável por selecionar e transmitir as
informações. Cabe aos estudantes o papel de “copiar e colar”, como sugeriu o aluno participante
da oficina de estudos. “Copiam e colam” a matéria no caderno e nas provas. Até mesmo as
facilidades proporcionadas pelos recursos computacionais podem contribuir nesta direção,
conforme discutido na descrição dos eventos ocorridos na oficina de estudos.
No entanto, esta “tradição” é de uma época em que os LD de Física ou não estavam
presentes, ou não eram satisfatórios. Acreditamos na urgência do rompimento desta “tradição”,
uma vez que a presença e a qualidade dos LD foram transformadas, segundo as pesquisas
referenciadas. No entanto, o rompimento desta “tradição” exigirá uma nova postura dos
professores diante dos LD de Física e até mesmo diante do ensino de Física.
Para finalizar, gostaríamos de esclarecer que as críticas feitas nesta dissertação ao ensino
de Física devem ser encaradas como autocríticas. Garcia, Garcia e Pivovar (2007) afirmam que
existem semelhanças na maneira como os professores utilizam os LD de Física no período de
sua formação e, em seguida, no período de sua prática docente. O autor deste trabalho é um
exemplo vivo desta afirmação, pois sempre acreditou na importância dos LD enquanto aluno e,
67
por essa razão, sempre incentivou o uso dos LD de Física como professor. No entanto, após a
realização deste trabalho, compreendemos que o incentivo somente não é suficiente. É preciso
orientar os estudantes, bem como utilizar as leituras e os demais recursos do LD na companhia
deles, pois só assim reverteremos o quadro de subutilização dos LD de Física. Devemos ter
sempre em mente a constatação de Vieira e Camargo (2013) de que as opiniões dos estudantes
sobre o LD de Física costumam estar sintonizadas com as opiniões de seus professores sobre o
mesmo livro.
68
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMARAL, Heloísa. Leitura nas diversas disciplinas I, 2007. Disponível em:
<https://goo.gl/J8qfts>. Acesso em: 15 nov. 2016.
APPLE, Michael W. Política cultural e educação. Tradução de Maria José do Amaral Ferreira.
2 ed. São Paulo, Cortez, 2001.
ARTUSO, A. R. Para que serve o livro didático de Física? – As respostas dos professores.
In: Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 17., 2014, Ceará. Disponível em:
<https://goo.gl/LwMKwu>. Acesso em: 03 dez. 2016.
BEN-DOV, Y. Convite à Física. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
BRASIL.MEC.SEB. Guia de livros didáticos: PNLD 2015; Biologia: ensino médio; Brasília:
MEC/SEB, 2014a.
BRASIL.MEC.SEB. Guia de livros didáticos: PNLD 2015; Física: ensino médio; Brasília:
MEC/SEB, 2014b.
CARNEIRO, M.; DOS SANTOS, W.; MOL, G. Livro didático inovador e professores: uma
tensão a ser vencida. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 7, n. 2, p. 119-130, 2005.
CHAVES, Edilson Aparecido; GARCIA; Tânia Maria F. Braga. Avaliação de livros de
História por alunos do Ensino Médio. In: Congresso Nacional de Educação, 11., 2013,
Curitiba. Disponível em: <https://goo.gl/2oIIjS>. Acesso em: 03 dez. 2016.
COSTA, Frederico Vasconcellos; FERREIRA, Maurisete Fernando; BENEVIDES, Vagno
Maia; HOSOUME, Yassuko. O uso do livro didático no desenvolvimento da disciplina
Física no Ensino Médio. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 17., 2007, São Luís.
Disponível em: <https://goo.gl/ALNAJt>. Acesso em: 03 dez. 2016.
COSTA, José Wilson da; PAIM, Isis. Informação e conhecimento no processo educativo. In:
COSTA, José Wilson da; OLIVEIRA; Maria Auxiliadora Monteiro (Orgs.). Novas linguagens
e novas tecnologias: educação e sociabilidade. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2004.
FAILLA, Zoara (Org.). Retratos da leitura no Brasil 3. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo, Instituto Pró-livro, 2012.
69
FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew. Lições de Física de
Feynman: edição definitiva. Tradução de Adriana Válio Roque da Silva et al.. Porto Alegre:
Bookman, 2008.
GARCIA, Tânia M. F. B.; GARCIA, Nilson M. D.; PIVOVAR, Luiz E.. O uso do livro
didático de Física: estudo sobre a relação dos professores com as orientações metodológicas.
In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 6., 2007, Florianópolis.
Disponível em: <https://goo.gl/eFGrDo>. Acesso em: 03 dez. 2016.
GARCIA, Tânia M. F. B.; SILVA, Éder F. da; Livro didático de Física: o ponto de vista de
alunos do Ensino Médio. In: Congresso Nacional de Educação, 9., 2009, Curitiba. Disponível
em: <https://goo.gl/EQ9iZf>. Acesso em: 03 dez. 2016.
GASPAR, Alberto. Compreendendo a Física. 2 ed. São Paulo: Ática, 2013.
GONICK, Larry; HUFFMAN, Art. Introdução Ilustrada à Física. Tradução de Luís Carlos
de Menezes. São Paulo: Harbra, 1994.
GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson. Projeto Múltiplo:
Física. 1. ed. São Paulo: Ática, 2014.
HALLIDAY, D.; RESNICK R. Fundamentos de Física 2: Gravitação, Ondas e
Termodinâmica. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1994.
HEWITT, Paul G.; Física conceitual. Tradução de Trieste Freire Ricci. 11 ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011.
MÁXIMO, A; ALVARENGA, B. Física contexto & aplicações. v. 2. São Paulo: Scipione,
2011.
MENEZES, Luís Carlos de; CANATO JR., Osvaldo; KANTOR, Carlos Aparecido;
PAOLIELLO JR., Lilio Alonso; BONETTI, Marcelo de Carvalho; ALVES, Viviane Moraes.
Física – 1.o ano – Ensino Médio. Coleção Quanta Física. v.1. São Paulo: Editora PD, 2010.
PAULA, Helder de Figueiredo e. A diversificação das atividades de ensino aprendizagem.
In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 5., 2005, Bauru. Disponível em:
<https://goo.gl/lGrRvP>. Acesso em: 03 dez. 2016.
70
PAULA, Helder de Figueiredo e. As tecnologias de informação e comunicação, o ensino e a
aprendizagem de Ciências Naturais. In: MATEUS, Alfredo Luis (Org.). Ensino de Química
mediado pelas TICs. Belo Horizonte: UFMG, 2015. p. 169-195.
PEREZ, Miguel da Camino; VIALI, Dori; LAHM, Regis Alexandre. Aplicativos para tablets e
smartphones no ensino de Física. Revista Ciências&Ideias, v. 7, n. 1, jan.-abr., 2016.
SILVA, Éder F.; GARCIA, Tânia M. F. B.; GARCIA, Nilson M. D.; O livro didático de Física
está na escola. O que pensam os alunos do Ensino Médio?. In: Encontro Nacional de
Pesquisa em Educação em Ciências, 8., 2011, Campinas. Disponível em:
<https://goo.gl/JR11x0>. Acesso em: 03 dez. 2016.
VIEIRA, Edimara F.; CAMARGO, Sérgio; Livro didático no Ensino de Física: desafios e
potencialidades. In: Congresso Nacional de Educação, 11., 2013, Curitiba. Disponível em:
<https://goo.gl/mBekRm>. Acesso em: 03 dez. 2016.
71
APÊNDICES
APÊNDICE A – Questionário sobre hábitos de estudo
QUESTIONÁRIO DO ALUNO
Prezado(a) aluno(a),
O questionário a seguir faz parte de minha pesquisa sobre o ensino de Física. Assim, ao
responder o questionário, você estará contribuindo com meus estudos e com o trabalho dos
professores de Física em geral. Não há respostas certas: o importante aqui é a sinceridade de
suas respostas. Não é preciso escrever o seu nome no questionário.
Desde já agradeço sua participação.
Carlos Eduardo Mendes – [email protected]
Sobre você...
1) Qual é o seu sexo?
( ) Feminino. ( ) Masculino.
2) Qual é a sua idade?
_____ anos.
Sobre seus hábitos de leitura...
3) Quais destes materiais você tem o costume de ler?
( ) Áudio-livros. ( ) Histórias em quadrinhos.
( ) Enciclopédias e dicionários. ( ) Jornais.
( ) Livros de literatura indicados pela escola. ( ) Textos na internet.
( ) Livros didáticos indicados pela escola. ( ) Textos de trabalho.
( ) Livros técnicos. ( ) Textos escolares.
( ) Outros livros. ( ) Revistas.
( ) Outro material. Qual? _______________________________________________________________
4) Quantos livros você lê por ano?
( ) menos de 2. ( ) entre 2 e 4. ( ) entre 4 e 6. ( ) mais de 6.
5) Você se considera um bom leitor? Por quê?
72
Sobre seu livro de Física...
Um livro de Física é constituído de várias partes: textos principais, exercícios, problemas,
desenhos, esquemas, figuras, fotos, curiosidades, resumos, textos extras, sugestões de debates,
sugestões de “experiências”, sugestões de pesquisas, etc. Ao responder as perguntas a seguir,
procure se lembrar das partes do livro de Física adotado em sua escola.
6) Você gosta do livro de Física adotado em sua escola? Por quê?
7) Seu professor de Física usa o livro adotado? Quando ele usa? Como ele usa?
8) Você usa o livro de Física adotado? Quando você usa? Como você usa?
9) Você utiliza algum outro livro de Física (diferente do livro adotado em sua escola)? Qual?
Por quê?
10) Em sua opinião, o que um livro de Física deve possuir para ser um bom livro?
11) Qual é sua opinião sobre o DVD que acompanha o livro de Física?
73
12) De todos os livros didáticos que você possui (Português, Matemática, Biologia, Física,
Química, História, Geografia etc.), qual é o seu preferido? Por quê?
Sobre suas estratégias de estudo...
13) Se você precisa estudar Física, o livro é sua primeira opção? Por quê?
14) Qual(is) é (são) a(s) parte(s) do livro que você mais utiliza quando está estudando Física?
( ) Curiosidades. ( ) Resumos.
( ) Desenhos, figuras ou fotos. ( ) Sugestões de debates.
( ) Esquemas. ( ) Sugestões de “experiências”.
( ) Exercícios. ( ) Sugestões de pesquisas.
( ) Problemas. ( ) Textos principais.
( ) Questões de vestibular ou do ENEM. ( ) Textos extras ou complementares.
( ) Outra parte. Qual? __________________________________________________________________
15) De que outra(s) forma(s) você estuda Física (sem ser pelo livro)?
16) Você usa a internet (pelo celular, pelo computador ou pelo tablet) para estudar Física?
Como?
17) Seu professor de Física costuma disponibilizar algum material extra para seus estudos?
Como é (são) esse(s) material(is)? Qual é a sua opinião sobre eles?
Fim do questionário.
Obrigado mais uma vez por sua participação!
74
APÊNDICE B – Oficina de estudos
Prezado(a) aluno(a),
Em nossa aula de hoje de laboratório, faremos algumas atividades de estudo e de pesquisa
que nos permitirão aprender um pouco mais sobre a Segunda Lei da Termodinâmica. Tais
atividades consistem em perguntas que deverão ser respondidas por escrito, após o estudo em
diferentes fontes. Para responder a essas perguntas, você e seu grupo poderão consultar o nosso
livro, outros livros de Física e a internet (via computador, tablet ou celular).
Contudo, aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Segunda Lei da Termodinâmica não
é o único objetivo da aula de hoje. As atividades foram elaboradas com o objetivo de descobrir
como você e seus colegas utilizam as diferentes fontes de pesquisa em seus estudos e, por essa
razão, o professor Thiago do 1.o ano também acompanhará a aula, com o intuito de ajudar nas
observações que desejo fazer. Além disso, um integrante do seu grupo ficará responsável por
observar e anotar como você e seus colegas chegaram às respostas das atividades.
Assim, ao realizar com seriedade as atividades propostas, você estará aprendendo um
pouco mais e contribuindo com minha pesquisa sobre o ensino de Física. Portanto, faça o seu
melhor!
Vamos começar?
Carlos Eduardo Mendes – [email protected]
Atividade 1
LEIA o texto a seguir:
(...) Carnot comparou o fluxo de calor através do motor com uma queda d’água utilizada
para fazer girar uma roda de pás e produzir trabalho: o calor “cai” da fonte quente para a
fonte fria, e essa queda é aproveitada para fazer o motor funcionar. (...) Se pusermos
diretamente em contato uma fonte quente e uma fonte fria, o calor passará espontaneamente
da primeira para a segunda sem produzir trabalho. Pode-se igualmente transmitir calor entre
essas mesmas fontes por intermédio de um motor, de uma matéria ativa que extraia calor da
fonte quente para cedê-lo à fonte fria, efetuando ao mesmo tempo um trabalho. (...) Assim como
se pode deixar a água cair livremente ou, ao contrário, aproveitá-la para produzir um trabalho.
Assim, concluiu Carnot, cada vez que o calor passa espontaneamente de um corpo para outro,
isto é, cada vez que dois corpos de temperaturas diferentes são postos em contato, há perda de
rendimento. O rendimento de um motor térmico será portanto tanto mais elevado quanto mais
se consiga evitar os contatos diretos entre corpos de temperaturas diferentes. (...) Procurando
então conceber um motor térmico que possuísse um rendimento máximo, um motor que não
utilizasse nenhum contato direto entre corpos de temperaturas diferentes, Carnot imaginou
aquecer e depois resfriar a matéria ativa, por compressão e dilatação, antes de pô-la em
contato com a fonte quente e a fonte fria, respectivamente, de tal modo que os contatos se
efetuassem entre corpos de temperaturas iguais. Tal motor representa contudo um limite ideal,
inatingível na prática.
BEN-DOV, Y. Convite à Física. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. p. 52 (adaptado).
75
a) PESQUISE e EXPLIQUE como se dá o ciclo de Carnot.
b) PESQUISE e ESCREVA a fórmula que nos permite calcular o rendimento de uma máquina
de Carnot. EXPLIQUE o significado de cada variável da fórmula.
c) RESPONDA: o que deve acontecer para que o rendimento de uma máquina de Carnot seja
igual a 1 (100%, uma máquina perfeita)?
d) Uma formulação alternativa da Segunda Lei da Termodinâmica afirma que “O zero
absoluto é inatingível”. RESPONDA: qual é a relação entre essa formulação e a formulação
que conhecemos (“Não existem máquinas perfeitas”)?
e) RESPONDA: a fim de aumentar o rendimento de uma máquina de Carnot, com maior
eficácia, deveríamos aumentar a temperatura (T1) do reservatório quente mantendo
constante a temperatura (T2) do reservatório frio ou manter T1 constante e diminuir a T2
pela mesma quantidade? JUSTIFIQUE sua resposta.
76
Atividade 2
LEIA o texto a seguir:
Calor flui naturalmente de um lugar quente para um lugar frio, como do Sol para a Terra.
Nunca ocorre um fluxo líquido “natural” de calor no sentido inverso. (...) Um dispositivo que
transmite calor de um lugar frio para um quente é chamado de refrigerador.
HALLIDAY, D.; RESNICK R. Fundamentos de Física 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 3. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1994. p. 230.
PESQUISE e EXPLIQUE as semelhanças e as diferenças entre as máquinas térmicas e os
refrigeradores.
Atividade 3
LEIA o texto a seguir:
Cada uma das três Leis da Termodinâmica está associada a uma variável termodinâmica
específica. Para a Lei Zero, a variável é a temperatura T. Para a Primeira Lei, é sua energia
interna U. Para a Segunda Lei, mostraremos que a variável é a entropia S.
HALLIDAY, D.; RESNICK R. Fundamentos de Física 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 3. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1994. p. 235.
a) PESQUISE e EXPLIQUE com suas próprias palavras o que é entropia.
b) PESQUISE e ESCREVA a fórmula que nos permite calcular a variação de entropia (ΔS)
de um sistema. EXPLIQUE o significado de cada variável da fórmula.
c) DÊ EXEMPLOS em que a entropia de um sistema (I) aumenta; (II) diminui e (III)
permanece a mesma. EXPLIQUE seus exemplos.
77
Atividade 4
LEIA com atenção os enunciados alternativos da Segunda Lei da Termodinâmica a seguir:
Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. O
restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispêndio de energia.
Coleção Quanta Física. v.1. São Paulo: PD, 2010. p. 87.
Em qualquer processo termodinâmico que evolui de um estado de equilíbrio para outro, a
entropia do conjunto sistema + vizinhança ou permanece inalterada ou aumenta.
HALLIDAY, D.; RESNICK R. Fundamentos de Física 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 3. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1994. p. 239.
A formulação que conhecíamos da Segunda Lei da Termodinâmica afirma que “Não
existem máquinas perfeitas”. Uma máquina perfeita é aquela que, num ciclo, converte
integralmente o calor da fonte quente em trabalho.
a) RESPONDA: após um ciclo, a entropia da máquina perfeita aumenta, diminui ou não se
altera? JUSTIFIQUE sua resposta.
b) RESPONDA: e a entropia da vizinhança da máquina (aumenta, diminui ou não se altera)?
JUSTIFIQUE sua resposta.
c) RESPONDA: por que afirmar que “a entropia do conjunto sistema + vizinhança ou
permanece inalterada ou aumenta” é equivalente a afirmar que “não existem máquinas
perfeitas”?
d) À medida que uma galinha desenvolve-se no interior de um ovo, seu organismo fica mais
organizado, ou seja, sua entropia diminui. RESPONDA: seres vivos violam a Segunda Lei
da Termodinâmica? EXPLIQUE sua resposta.
78
e) Observe as figuras A, B e C a seguir. Qual é a ordem mais provável de ocorrência das
figuras: ABC ou CBA? Por que você pensa assim? Qual é a relação de sua resposta com a
Segunda Lei da Termodinâmica?
Figura A
Figura B
Figura C
MÁXIMO, A; ALVARENGA, B. Física contexto & aplicações. v. 2. São Paulo: Scipione, 2011. p. 132.
f) RESPONDA: se você disser à sua mãe que a desarrumação do seu quarto é uma
consequência inevitável da Segunda Lei da Termodinâmica, como ela poderia contra-
argumentar?
Bom trabalho!
79
APÊNDICE C – Roteiro para as observações dos professores na oficina de estudos
Sobre o comportamento e a produção dos estudantes:
• Os alunos leem os textos-base das atividades? Ou preferem ir direto para as perguntas?
• Os alunos percebem que as referências dos textos-base estão no laboratório?
• Como se dão as pesquisas: nos livros ou na internet? Nos celulares ou nos computadores?
• Os alunos elaboram ou copiam respostas?
• Os alunos conversam sobre o que estão lendo? Eles se interessam pelas atividades? Eles se
envolvem com as discussões propostas?
• Os alunos se contentam com a primeira resposta que encontram? Tentam aprofundar?
Tentam melhorar a resposta?
• Os alunos preferem digitar ou manuscrever as respostas?
• Os alunos fazem pesquisas sobre fatos que eles podem descobrir sozinhos?
• Os alunos dividem tarefas? Alguns alunos assumem a iniciativa, liderando o grupo? Quem
são esses alunos?
• Qual a importância que os alunos dão para as equações (fórmulas)?
• Como os alunos se comportam quando não encontram respostas?
• Como os alunos se comportam com as divergências de opiniões no grupo?
Sobre as pesquisas na internet:
• Quais as palavras-chaves que os alunos usam nos sites de busca?
• Os alunos reescrevem as perguntas na guia de pesquisa?
• Os alunos acessam o primeiro resultado ou fazem uma pré-leitura dos resultados obtidos?
• Como os alunos lidam com os sites que encontram? Fazem leitura dinâmica? Descartam se
não encontram a rapidamente a resposta?
• Os alunos assistem a vídeos para procurar respostas?
Sobre as pesquisas nos livros:
• Os alunos consultam a bibliografia dos textos-base?
• Como os alunos buscam informações no livro? Eles consultam o índice? Procuram os
capítulos que contêm os assuntos tratados?
• Os alunos leem os textos dos livros?
• Algum aluno afirma que já leu algo sobre a pergunta no LD de Física?
• Há interesse pelos livros de Física “desconhecidos”?
80
APÊNDICE D – Produto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática
Carlos Eduardo Mendes
GUIA DE PREPARAÇÃO DE AULAS DE LEITURA
NO LIVRO DIDÁTICO DE FÍSICA
Belo Horizonte
2017
81
SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 82
2. CONTEXTUALIZAÇÃO .................................................................................................. 84
2.1. Estratégias do tipo “antes da leitura” ........................................................................ 86
2.2. Estratégias do tipo “durante a leitura” ...................................................................... 88
Quadro 1 – Características dos textos didáticos e suas respectivas utilidades .......... 90
2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura” ...................................................................... 90
3. GUIA DE PREPARAÇÃO DE AULAS DE LEITURA ................................................. 93
Quadro 2 – Guia de preparação para “antes da leitura” ............................................ 94
Quadro 3 – Guia de preparação para “durante a leitura” .......................................... 95
Quadro 4 – Guia de preparação para “depois da leitura” .......................................... 96
4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO GUIA ........................................................................ 97
Quadro 5 – Sugestões de atividades para ativar o conhecimento prévio ................. 102
Quadro 6 – Sugestões de atividades para o levantamento de objetivos ................... 103
Quadro 7 – Sugestões de atividades para a elaboração de hipóteses........................ 104
Quadro 8 – Sugestões de atividades para “durante a leitura” .................................. 105
Quadro 9 – Sugestões de atividades para “depois da leitura” .................................. 106
5. PARA SABER MAIS ....................................................................................................... 107
82
1. APRESENTAÇÃO
Prezado professor,
Este guia, desenvolvido para os professores de Física do Ensino Médio, é o produto
educacional resultante da dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC
Minas, intitulada “COMO OS ALUNOS ESTUDAM FÍSICA: um estudo, a partir do uso do
livro didático” (MENDES, 2017).
A pesquisa que originou esta dissertação recolheu evidências de que as consultas à
internet e a interação com os professores são estratégias de estudo frequentemente utilizadas
pelos alunos, mas que os Livros Didáticos (LD) de Física são fortemente subutilizados. Além
disso, há evidências de que mesmo os estudantes que procuram os LD de Física encontram
enormes dificuldades para ler e interpretar os textos destes livros.
As ações governamentais das últimas décadas (em especial, o Programa Nacional do
Livro Didático, o PNLD) produziram LD de Física de boa qualidade, repletos de leituras e
recursos, bem como garantiram a presença destes livros no cotidiano dos estudantes. No
entanto, muitos professores continuam utilizando as estratégias didáticas de um período em que
os LD de Física não faziam parte deste cotidiano, ou não eram tão diversificados em recursos.
Assim, há a predominância de modelos didáticos centrados na explicação dos professores, em
que a “matéria” é “copiada do quadro” e o LD de Física é apenas uma fonte de exercícios.
Neste contexto, o objetivo deste guia é apoiar a prática dos professores que acreditam
que os livros didáticos (LD) de Física têm mais a oferecer aos estudantes. Sendo assim, este
guia defende e orienta a prática da leitura compartilhada3 dos LD nas aulas de Física.
Ninguém espera que os estudantes compreendam as ideias, os modelos e as tecnologias
da Física sem a ajuda de seus professores. Da mesma maneira, não podemos esperar que estes
mesmos estudantes aprendam a utilizar os LD de Física por conta própria. Os professores de
Física devem conduzi-los neste processo, mediando o relacionamento entre os estudantes e os
livros e transformando o uso dos LD de Física numa atividade cada vez mais autônoma.
3 Segundo Solé (1998), a leitura compartilhada é o processo no qual professores e alunos, alternadamente, assumem
a responsabilidade de organizar a tarefa de leitura e de envolver os colegas no processo, trabalhando as estratégias
de formular previsões sobre o texto a ser lido, formular perguntas sobre o que foi lido, esclarecer possíveis dúvidas
e resumir as ideias.
83
Aprender a utilizar os LD de Física implica em aprender a ler e a interpretar os textos
presentes nestes livros. Acreditamos que o desafio de ensinar a ler é tarefa de todos os
professores, inclusive dos professores de exatas. Neste guia, apresentaremos as recomendações
geradas pelas pesquisas recentes em ensino de leitura, bem como exemplificaremos o uso dessas
recomendações na preparação de aulas de leitura nos LD de Física.
Acreditamos num ensino de Física baseado em atividades diversificadas, em que os
professores se perguntam frequentemente: “o que os alunos devem fazer para aprender?”. Neste
sentido, as atividades de leitura nos LD de Física constituem apenas uma das estratégias
possíveis. No entanto, trata-se de uma estratégia essencial, pois o desenvolvimento da
competência leitora dos estudantes fundamenta a realização de todas as outras atividades de
aprendizagem, nos LD de Física e em outros contextos.
Este guia é constituído por 5 capítulos. Após o presente capítulo de “Apresentação”,
segue-se um capítulo de “Contextualização” em que apresentamos: (1) a concepção de leitura
defendida por este guia e (2) a fundamentação teórica que sustenta nossas recomendações para
a preparação de aulas de leitura. Em seguida, no capítulo “Guia de preparação de aulas de
leitura”, resumimos e organizamos essas recomendações. Por fim, no capítulo “Exemplo de
aplicação do guia”, aplicamos as recomendações feitas com a ajuda de um texto extraído de um
LD de Física bastante conhecido e utilizado. O capítulo “Para saber mais” é, na verdade, uma
lista das referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste guia.
Esperamos que o uso das recomendações presentes neste guia pelos professores
contribua para a reversão do quadro de subutilização dos LD de Física. Esperamos ainda que
as atividades de leitura nos LD de Física potencializem um uso mais profundo e consciente
destes livros por parte dos estudantes.
84
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
De que nos lembramos quando nos referimos a “aulas de leitura”?
No contexto do ensino de Ciências de um passado recente, as “aulas de leitura” nos
remetem a um texto longo, repleto de definições e informações. Este texto era, em geral, lido
pelos estudantes em casa, sem a ajuda dos professores. Depois da leitura, havia um questionário
que era facilmente respondido por aqueles estudantes que eram capazes de localizar no texto as
informações solicitadas. Assim, o estudante acabava copiando a “matéria” diretamente do texto.
No contexto do ensino de Física, há pouco o que se lembrar sobre “aulas de leitura”.
Isto se dá porque, em geral, a principal preocupação de um professor de Física é com a clareza
de seus discursos: o oral (aquele que constitui suas explicações) e o escrito (aquele que constitui
a “matéria” registrada no quadro). E esta é uma preocupação legítima. Mas, por essa razão, a
preocupação com a competência leitora dos estudantes torna-se ou secundária, ou inexistente.
Assim, é comum não se ensinar a ler nas aulas de Ciências e de Física, mas apenas pedir
que os alunos leiam. A responsabilidade de ensinar a ler parece ser sempre atribuída a outros
professores, ou a outras disciplinas. Uma das consequências deste quadro é o grande número
de estudantes que não consegue utilizar os LD de Física por não possuir as habilidades de leitura
necessárias.
Sobre este assunto, Amaral (2007) afirma que:
O ensino, na escola, não existe sem a leitura. Ou é leitura direta pelo aluno, ou
explicações do professor sobre textos que ele, o professor, leu. Ou seja, a linguagem
falada pelo professor é uma didatização do conhecimento acumulado pela escrita (em
letras ou números e sinais) na disciplina que ele leciona. Quando a fala é uma
transposição de leituras, ela não é uma fala simples, como a que usamos no cotidiano.
Ao contrário, está carregada de conceitos e de relações complexas entre esses
conceitos, seja qual for a matéria que esteja sendo ensinada. E em geral, é preciso
acrescentar, para complementar as aulas expositivas feitas pelos professores, textos
(didáticos ou não) relacionados com elas. (AMARAL, 2007)
Portanto, o desenvolvimento das habilidades de leitura deve ser estimulado e ensinado
por todos os professores, inclusive os professores das áreas de exatas. Neste sentido, ensinar
Física é também ensinar a ler sobre Física, e os professores desta disciplina devem estar
conscientes desta responsabilidade.
Mas o que é leitura? A leitura, tal como preconizada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa:
85
[...] é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto,
sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair
informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação,
sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita
controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.
[...] O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas, identificando, a partir do que
está escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto e seus
conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos. (BRASIL, 1998, p.
69-70)
A concepção de leitura dos PCN é oriunda de um devir histórico. Do início do século
XX até meados dos anos 1960, a leitura era entendida como uma atividade de captar as ideias
do autor. Sobre este período, Coscarelli e Cafiero (2013) afirmam que “o autor e suas intenções
eram soberanos, o sentido pertencia ao autor, ao que ele quis dizer; o leitor teria de ‘captar’ suas
intenções”.
A partir do início da década de 1970, o foco desloca-se do autor para o texto. Surge
então uma nova concepção de leitura: ler seria uma atividade de reconhecimento ou de
reprodução de tudo aquilo que estaria estabelecido pelas palavras e pela estrutura do texto.
Assim, na primeira concepção de leitura, o texto é considerado o produto lógico do
pensamento de um autor. Na segunda concepção, o texto é o produto da codificação de ideias
e cabe ao leitor decodificá-las. No entanto, essas duas concepções de leitura consideram que os
leitores são passivos diante do texto. O que existe são os autores e suas ideias, sem espaço para
a participação do leitor.
Na segunda metade da década de 1980, a partir de estudos gerados em diferentes áreas
do conhecimento, a leitura passa a ser compreendida como um processo de inter-relação entre
o autor, o texto e o leitor. O ato de ler deixa de ser entendido apenas como um processo
mecânico de decodificação de palavras, ou de busca de sentidos prontos no texto. Assim sendo,
o leitor, e em nosso contexto, o estudante, passa a ser visto como ativo na construção de sentido
dos enunciados, e o texto, não como um produto acabado, mas como um lugar onde se
encontram espaços vazios a serem preenchidos.
Por essa razão, Coscarelli e Cafiero (2013) afirmam que:
86
[...] Ler exige trabalho. Trabalho cognitivo, porque mobiliza uma série de capacidades
ou habilidades do sujeito leitor, como as de perceber, analisar, sintetizar, relacionar,
inferir, generalizar, comparar, entre outras; trabalho social, porque tem finalidades
como: ler para se ligar ao mundo, para se conectar ao outro. Sendo assim, ensinar a
ler não é tarefa fácil, exige ensino sistematicamente orientado. (COSCARELLI;
CAFIERO, 2013, p. 16)
Um leitor proficiente utiliza diferentes estratégias de compreensão leitora na construção
de sentidos para os textos. A utilização dessas estratégias dá-se de forma consciente e
inconsciente. O bom leitor é aquele que torna suas estratégias de leitura cada vez mais
conscientes. Sendo assim, nossa proposta para as aulas de leitura nos LD de Física consiste em
ensinar os estudantes a combinar diferentes estratégias de leitura de forma consciente.
Para Solé (1998), as estratégias de leitura podem ser didaticamente divididas em três
etapas: estratégias usadas antes da leitura, estratégias usadas durante a leitura e estratégias
usadas depois da leitura. A seguir, explicamos tais estratégias adotando essa divisão.
2.1. Estratégias do tipo “antes da leitura”
O foco das estratégias usadas antes da leitura é a ativação dos conhecimentos prévios
dos estudantes. A compreensão de um texto só é possível se os conhecimentos relevantes para
a leitura estiverem ativados (KLEIMAN, 1989), e não perdidos no fundo da memória. A
ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes pode ser estimulada pelos professores de
diferentes maneiras. Em geral, os professores podem utilizar imagens ou perguntas,
estimulando respostas ou outros questionamentos por parte dos estudantes antes da realização
da leitura, mas sem recorrer ao texto.
Neste sentido, as preleções enunciadas pelo professor sobre os assuntos da leitura (curtas
ou longas) não podem ser consideradas boas estratégias do tipo “antes da leitura”. O objetivo
das estratégias deste tipo é ativar os conhecimentos prévios dos estudantes e, por essa razão, os
professores devem: (1) estimulá-los, por diferentes métodos, a se questionar sobre os assuntos
da leitura e (2) evitar a antecipação das informações que serão encontradas nesta leitura. Para
estimulá-los, o professor pode fazer as seguintes perguntas: o que sabemos sobre o conteúdo
do texto? O que sabemos pode ser útil? Por quê? Há alguma outra informação que pode nos
ajudar a compreender este texto?
Outra importante estratégia do tipo “antes da leitura” é o levantamento de hipóteses
sobre o texto que será lido. Isto pode ser feito, por exemplo, com base na organização gráfica
87
do texto (títulos, subtítulos, ilustrações etc.), a chamada “leitura inspecional”. Solé (1998)
afirma que, ao formular previsões sobre o texto, os estudantes:
[...] não só estão utilizando o seu conhecimento prévio sobre o tema, mas também –
talvez sem terem essa intenção – conscientizam-se do que sabem e do que não sabem
sobre esse assunto. Além do mais, assim adquirem objetivos próprios, para os quais
tem sentido o ato de ler. Em geral, as perguntas que podem ser sugeridas sobre um
texto guardam estreita relação com as hipóteses que podem ser geradas sobre ele e
vice-versa. (SOLÉ, 1998, p. 110-111).
Assim, como sugere o fragmento, outra função das estratégias utilizadas “antes da
leitura” é o estabelecimento de objetivos para a leitura. Sobre este ponto, Kleiman (1989) afirma
que “há evidências inequívocas de que nossa capacidade de processamento e de memória
melhora significativamente quando é fornecido um objetivo a uma tarefa”. Nesta passagem, as
evidências mencionadas referem-se a um experimento em que alguns leitores leem um mesmo
texto sobre uma casa com objetivos diferentes. Um grupo de leitores é instruído a ler o texto
colocando-se na posição de possíveis compradores da casa, enquanto outro grupo é instruído a
ler o texto colocando-se na posição de ladrões que desejam roubar a casa. Após a leitura, o
grupo de “compradores da casa” lembrou-se mais de informações como o tamanho, o número
de banheiros, o tamanho do jardim, o revestimento, a pintura e os acabamentos da casa. Por sua
vez, o grupo de “ladrões” lembrou-se mais de informações diferentes, como os dias em que a
mãe se ausentava, o isolamento da casa e o número de bicicletas e aparelhos eletrodomésticos.
Evidenciou-se, assim, que os objetivos pretendidos para a leitura de um texto determinam o
tipo de compreensão que se pode ter deste texto.
Há um paradoxo quando comparamos as atividades escolares de leitura e as outras
leituras feitas pelos estudantes. Infelizmente, na maioria das vezes, os estudantes leem na escola
porque “o professor mandou”. Neste contexto, a leitura transforma-se numa atividade mecânica
que tem pouco a ver com a construção de sentidos. Em contrapartida, a leitura dos estudantes
em outros contextos atende sempre a um objetivo pré-determinado: divertir-se, comunicar-se,
saber mais sobre um determinado assunto etc. Uma boa aula de leitura é aquela que supera este
paradoxo.
Assim, o levantamento de objetivos para a leitura procura justificar a leitura em si, bem
como contribui para o levantamento de hipóteses sobre a leitura. Ao testar essas hipóteses
durante a leitura, os estudantes aumentam suas chances de compreender o que está sendo lido.
Mas como fazer os estudantes levantarem objetivos para uma leitura que, a princípio,
eles não escolheram? Sobre este ponto, Kleiman (1989) afirma que:
88
A pré-determinação de objetivos por outrem não é, contudo, necessariamente um mal.
Se o leitor menos experiente foi desacostumado, pela própria escola, a pensar e decidir
por si mesmo sobre aquilo que ele lê, então o adulto pode, provisoriamente,
superimpor objetivos artificialmente criados para realizar uma tarefa interessante e
significativa para o desenvolvimento do aluno [...]. Assim, indiretamente, através do
modelo que o adulto lhe fornece, esse leitor estabelecerá eventualmente seus próprios
objetivos [...]. (KLEIMAN, 1989, p. 35)
Sendo assim, o levantamento de objetivos para a leitura pode, a princípio, ser sugerido
pelos professores por meio de perguntas sobre o texto. Esta é uma estratégia utilizada pelos LD
de Física que apresentam perguntas antes do texto. Objetivos como “elaborar um esquema”, ou
“construir um mapa conceitual4”, ou ainda “preparar-se para um debate”, também podem ser
sugeridos. Mas o levantamento dos objetivos para a leitura também pode ser feito pelos próprios
estudantes. Em todos os casos, os objetivos traçados definirão hipóteses de leitura que, por sua
vez, serão testadas durante a mesma.
A seguir, apresentamos alguns exemplos de perguntas que estimulam o levantamento
de objetivos para a leitura: sobre o que vamos ler? Por que vamos ler? Quais são as informações
do texto necessárias aos nossos objetivos de leitura? Quais são as informações que podemos
considerar pouco relevantes para os objetivos que perseguimos?
2.2. Estratégias do tipo “durante a leitura”
As estratégias do tipo “durante a leitura” envolvem algumas decisões: o professor deve
ler com os estudantes ou a leitura deve ser feita pelos estudantes? A leitura deve ser em voz alta
ou silenciosa? Inúmeras variáveis determinarão a melhor decisão. Espera-se que os estudantes
do Ensino Médio consigam realizar leituras autônomas e silenciosas, mas nossas atividades de
pesquisa5 e nossa experiência em sala de aula têm mostrado que a leitura em voz alta pelo
professor aumenta a compreensão dos textos presentes nos LD de Física. Acreditamos que os
professores devem alternar as diferentes possibilidades em diferentes aulas de leitura e avaliar
quais são as melhores estratégias para o seu contexto escolar.
Durante a leitura, os estudantes devem ser estimulados a verificar as hipóteses
construídas na etapa “antes da leitura”, pois leitores proficientes fazem isso constantemente.
4 Para maiores informações sobre mapas conceituais, sugerimos Magalhães, Dickman e Lobato (2015).
5 Em especial, a oficina de estudos descrita no Capítulo 4 da dissertação vinculada a este produto (MENDES,
2017).
89
Em outras palavras, o objetivo das estratégias do tipo “durante a leitura” é ensinar os estudantes
a monitorar sua compreensão do texto. Para fazê-lo, o professor deve promover o diálogo dos
estudantes com o texto (trata-se da “leitura compartilhada”, como explicado anteriormente),
estimulando-os a responder perguntas como: qual é a ideia fundamental deste parágrafo?
Podemos reconstruir a linha de raciocínio proposta nesta parte do texto? As ideias do texto
fazem sentido? Nós concordamos ou discordamos dessas ideias? Qual poderia ser – por
hipótese – o significado desta palavra desconhecida? O que poderíamos sugerir para resolver
um problema apresentado pelo texto? É possível pensar em outros exemplos ou situações em
que essa teoria se aplica? Qual será, provavelmente, o final deste texto? Há alguma conclusão
que podemos extrair do que foi lido, mas não está explícita no texto? Como essa dedução pode
ser feita?
Assim, o exercício do “predizer e testar” constitui uma importante estratégia dos leitores
proficientes. Vale lembrar que esse exercício será muito mais facilmente realizado pelos
estudantes se eles conhecerem as características do gênero6 texto didático7. O Quadro 1
apresenta algumas destas características, bem como a utilidade das mesmas8.
6 Os textos podem ser organizados em grupos, ou famílias, chamados gêneros. Os gêneros se distinguem por seus
propósitos comunicativos, pela forma como são organizados e por seu estilo (COSCARELLI; CAFIERO, 2013).
Para maiores informações sobre os gêneros textuais, sugerimos Bakhtin (1997).
7 Pereira, Barros e Mariz (2015) afirmam que um nome mais preciso para o gênero textual presente nos LD seria
“artigo expositivo elaborado com finalidades didáticas”. Segundo estas autoras, o que possibilita a classificação
dos textos presentes num LD como “didático” é, sobretudo, a esfera na qual circulam (a escolar) e as finalidades
próprias dessa esfera, mas eles partilham características com outros textos expositivos, elaborados com finalidades
distintas (a divulgação científica, por exemplo).
8 Este quadro foi elaborado a partir da obra de Pereira, Barros e Mariz (2015).
90
Quadro 1 – Características dos textos didáticos e suas respectivas utilidades
Característica Utilidade
1. Uso de palavras ou de expressões em negrito Destacar conceitos explicados no texto
2. Presença de informações entre parênteses
Complementar, enumerar e exemplificar o que
acabou de ser enunciado (como este parêntese, por
exemplo)
3. Uso de adjuntos adverbiais
Localizar (no espaço e no tempo, principalmente) as
informações presentes no texto. Exemplos de
adjuntos adverbiais: “no século XX”, “na década de
1970”, “no planeta Terra”, “no Brasil” etc.
4. Presença de imagens, gráficos, diagramas, mapas
etc.
Complementar visualmente uma informação
fornecida pelo texto principal
5. Presença de diferentes explicações para um
mesmo conceito
Garantir a compreensão do leitor. Em geral, as
diferentes explicações enunciadas são articuladas por
palavras denotativas como “isto é”, “a saber”,
“melhor dizendo”, “em outras palavras” etc.
6. Uso de exemplificações e comparações (ou
analogias)
Ajudar o leitor a concretizar algo que existe apenas
como ideia
Fonte: Elaborado pelo autor
É possível que um leitor proficiente classifique as características presentes no Quadro 1
como “óbvias”, mas elas não o são. Se considerarmos as marcas do texto didático “óbvias”,
podemos nos esquecer de ensiná-las e, dessa forma, não contribuiremos para que as estratégias
de leitura dos estudantes se tornem cada vez mais conscientes. E este é precisamente o tipo de
equívoco que precisamos evitar. Assim, acreditamos que o professor deve, durante a leitura,
exercitar com os estudantes o reconhecimento das características listadas no Quadro 1.
Por fim, o professor deve estar sempre atento à leitura dos estudantes. Bons leitores
releem trechos quando têm dúvidas, param de ler e verificam se estão compreendendo, voltam
na leitura quando percebem que se distraíram e leem em voz alta quando percebem que não
compreenderam. Dicas simples como essas podem ajudar os estudantes a construírem sua
autonomia na leitura.
2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura”
As estratégias do tipo “depois da leitura” estão, muitas vezes, já sugeridas nos LD de
Física sob a forma de exercícios de verificação de leitura ou de exercícios ou problemas de
Física propriamente ditos. Há evidências em nossas pesquisas de que a realização destas
atividades constitui o principal tipo de uso que os estudantes fazem dos LD de Física. No
entanto, as evidências indicam também que os estudantes se envolvem com essas atividades
91
sem realizar as leituras necessárias (em casa ou em sala de aula). Acreditamos que tais
atividades podem ser mais bem aproveitadas se, antes de realizá-las, os estudantes se
envolverem (em sala e sob a orientação do professor) com as estratégias dos tipos “antes da
leitura” e “durante a leitura” já descritas. Acreditamos ainda que as atividades pós-leitura
podem ser realizadas em casa ou em sala de aula, mas que devem sempre ser retomadas e
discutidas com o professor. É importante ter em mente que a compreensão de um texto não se
encerra com o término de sua leitura.
No ambiente escolar, a formulação de perguntas é a estratégia do tipo “depois da leitura”
mais comumente utilizada. Solé (1998) classifica essas perguntas em três tipos: “perguntas de
resposta literal”, “perguntas para pensar e buscar” e “perguntas de elaboração pessoal”.
As “perguntas de resposta literal” seriam as de localização de informações no texto.
Perguntas deste tipo são insuficientes para a construção de sentidos para o texto, mas é um
equívoco supor que os estudantes do Ensino Médio já possuem essa competência
completamente desenvolvida. Sobre este ponto, Coscarelli e Cafiero (2013) afirmam que:
[...] a localização de informação é uma ação fácil de ser realizada, mas pode não o ser,
dependendo da habilidade do sujeito leitor e dependendo do texto que está sendo lido.
[...] A extensão do texto, as palavras nele utilizadas (se longas ou curtas, se conhecidas
ou desconhecidas), a estrutura sintática (se na ordem direta – sujeito, verbo, objeto –
ou inversa; se períodos simples ou compostos), o tema do texto (se conhecido ou não)
ou o gênero textual são alguns dos entraves que podem se apresentar ao leitor na
localização da informação. (COSCARELLI; CAFIERO, 2013, p. 22)
As respostas para as “perguntas para pensar e buscar” são deduzidas a partir do texto.
Perguntas deste tipo procuram promover: (1) a compreensão de assuntos tratados no texto; (2)
a identificação das relações entre os elementos verbais e as imagens do texto; (3) a identificação
do assunto central do texto; (4) a intertextualidade temática (qual é a relação do texto lido com
outros textos que abordam o mesmo assunto?); (5) a produção de inferências (ou seja, o
relacionamento de duas ou mais informações – sendo uma delas proveniente do texto – para
produzir uma terceira informação); (6) o reconhecimento da finalidade do texto; (7) o
reconhecimento do posicionamento do autor sobre o assunto; dentre outros.
Por fim, as “perguntas de elaboração pessoal” exigem respostas que não podem ser
obtidas no texto, mas que possibilitam uma expansão da leitura. Perguntas deste tipo procuram
desenvolver, nos estudantes, a capacidade de opinar ou de assumir pontos de vista em relação
ao texto, bem como a capacidade de justificar esse posicionamento.
Outras estratégias do tipo “depois da leitura” envolvem: (1) elaborar um resumo de cada
parágrafo ou de cada parte do texto; (2) esquematizar o texto (ou elaborar um mapa conceitual),
92
tomando como referência as marcas que este apresenta (tópicos, subtítulos, negritos etc.); (3)
marcar as partes mais relevantes do texto com um marca-texto; (4) usar um dicionário (impresso
ou eletrônico) para encontrar o significado de palavras ou de expressões em que não foi possível
inferir o significado; (5) fazer anotações relevantes nas margens do texto lido; dentre outras.
As possibilidades de estratégias do tipo “depois da leitura” são diversas e acreditamos
que as escolhas a serem feitas pelo professor dependem de inúmeras variáveis. Acreditamos
num ensino diversificado e baseado em atividades e, por essa razão, não recomendamos o uso
de uma única estratégia. O professor deve estar atento e evitar atividades do tipo “depois da
leitura” constituídas apenas por “perguntas de resposta literal”. Da mesma forma, solicitar aos
estudantes a elaboração de resumos ou de esquemas para todas as leituras que são feitas
minimiza o potencial educativo deste tipo de estratégia. As estratégias do tipo “depois da
leitura” listadas devem ser encaradas como ferramentas: há o momento certo para cada uma
delas.
93
3. GUIA DE PREPARAÇÃO DE AULAS DE LEITURA
No capítulo anterior, vimos que ler é uma atividade de construção de sentidos que
envolve um trabalho árduo, ativo e crítico por parte dos estudantes. Para ajudá-los nesta tarefa,
o professor precisa apresentar e explicitar diferentes estratégias de leitura, tornando-as
conscientes.
Os quadros a seguir constituem o nosso “Guia de preparação de aulas de leitura”. Os
três tipos de estratégias de leitura definem, nestes quadros, três momentos distintos para a aula:
“antes da leitura” (Quadro 2), “durante a leitura” (Quadro 3) e “depois da leitura” (Quadro 4).
Os quadros apresentam ainda os objetivos didáticos das atividades a serem preparadas, as
perguntas que orientam o trabalho de preparação do professor e as perguntas que orientam o
trabalho dos estudantes durante a aula.
94
Quadro 2 – Guia de preparação para “antes da leitura”
Objetivos das atividades a serem
preparadas
Perguntas que orientam o
trabalho de preparação do
professor
Perguntas que orientam o
trabalho dos estudantes durante
a aula
Ativar os conhecimentos prévios
dos estudantes sobre os assuntos
abordados no texto
Quais são as imagens que
poderiam ativar os conhecimentos
prévios dos estudantes sobre os
assuntos do texto?
Quais são as perguntas que posso
fazer para ativar os conhecimentos
prévios dos estudantes?
Como posso incentivar os
estudantes a elaborar suas próprias
perguntas sobre os assuntos do
texto?
O que sabemos sobre o conteúdo
do texto?
O que sabemos pode ser útil? Por
quê?
Há alguma outra informação que
pode nos ajudar a compreender o
texto?
Fazer com que os estudantes
levantem objetivos para a leitura
Quais são as perguntas que posso
fazer para direcionar o
estabelecimento de objetivos para
a leitura?
O que os estudantes devem fazer
para sistematizar os assuntos desta
leitura (resumos, esquemas, mapas
conceituais, debates etc.)?
Como posso incentivar os
estudantes a elaborar outros
objetivos para a leitura?
Sobre o que vamos ler?
Por que vamos ler?
Fazer com que os estudantes
elaborem hipóteses sobre o texto
Quais são as orientações que posso
dar para que os estudantes
observem a organização gráfica do
texto (títulos, subtítulos,
ilustrações etc.)?
Os objetivos levantados para a
leitura geram algum tipo de
expectativa em relação ao texto?
O texto é dividido em quantas
partes?
Quais são, aparentemente, os
assuntos dessas partes?
Há ilustrações? Qual é,
aparentemente, a relação dessas
ilustrações com o texto?
Quais são as informações do texto
necessárias aos nossos objetivos
de leitura?
Quais são as informações que
podemos considerar pouco
relevantes para os objetivos que
perseguimos?
Fonte: Elaborado pelo autor
95
Quadro 3 – Guia de preparação para “durante a leitura”
Objetivos das atividades a serem
preparadas
Perguntas que orientam o
trabalho de preparação do
professor
Perguntas que orientam o
trabalho dos estudantes durante
a aula
Promover a verificação das
hipóteses construídas antes da
leitura
Devo ler o texto em voz alta para
mostrar aos estudantes a pronúncia
das palavras e o ritmo do texto?
Devo solicitar aos estudantes a
leitura em voz alta para avaliar a
qualidade da mesma?
Devo solicitar aos estudantes a
leitura silenciosa para avaliar a
autonomia da mesma?
Quais são as características do
texto didático9 que podem ser
evidenciadas neste texto?
Quais são os pontos em que a
leitura pode ser interrompida para
a realização de perguntas sobre a
compreensão do texto?
Que perguntas podem ser feitas
nestes pontos?
Qual é a ideia fundamental deste
parágrafo?
Podemos reconstruir a linha de
raciocínio proposta nesta parte do
texto?
As ideias do texto fazem sentido?
Nós concordamos ou discordamos
dessas ideias?
Qual poderia ser – por hipótese – o
significado desta palavra
desconhecida?
O que poderíamos sugerir para
resolver um problema apresentado
pelo texto?
É possível pensar em outros
exemplos ou situações em que
essa teoria se aplica?
Qual será, provavelmente, o final
deste texto?
Há alguma conclusão que
podemos extrair do que foi lido,
mas não está explícita no texto?
Como essa dedução pode ser feita?
Fonte: Elaborado pelo autor
9 As características do texto didático encontram-se no Quadro 1.
96
Quadro 4 – Guia de preparação para “depois da leitura”
Objetivos das atividades a serem
preparadas
Perguntas que orientam o
trabalho de preparação do
professor
Perguntas que orientam o
trabalho dos estudantes durante
a aula
Desenvolver a habilidade dos
estudantes de: (1) localizar as
informações presentes no texto,
(2) produzir inferências a partir do
texto e (3) posicionar-se em
relação ao texto
Já existem atividades de pós-
leitura no texto?
As atividades de pós-leitura
possuem perguntas dos três tipos
existentes (“resposta literal”, “para
buscar e pensar” e “elaboração
pessoal”)?10
Que outras atividades de pós-
leitura os estudantes devem
realizar (resumos, esquemas,
mapas conceituais, marcar as
partes importantes do texto, usar
dicionários, fazer anotações nas
margens etc.)?
Quais são as principais
informações presentes neste texto?
Qual é o assunto central do texto?
Por quê?
Qual é a finalidade deste texto?
Por quê?
Quais são as partes do texto que
precisamos verificar se foram
compreendidas?
Quais são as relações entre os
elementos verbais e as imagens do
texto?
Qual é a relação do texto lido com
outros textos que abordam o
mesmo assunto?
Qual é o posicionamento do autor
sobre os assuntos do texto?
Qual é o nosso posicionamento
sobre os assuntos do texto?
Fonte: Elaborado pelo autor
10 Conforme a descrição feita em 2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura”.
97
4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO GUIA
Neste capítulo, exemplificaremos a utilização das recomendações do “Guia de
preparação de aulas de leitura” (Quadro 3). Para tanto, utilizaremos o texto Entropia –
Indisponibilidade da energia, presente no box “Física no contexto” do 2.o volume da coleção
“Física contexto & aplicações”, de Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. Em geral, esta
coleção é bastante conhecida e utilizada pelos professores de Física.
O texto escolhido é extenso e uma análise completa de seu conteúdo pode exigir várias
horas-aula. No entanto, optamos por utilizá-lo devido à diversidade de seu conteúdo: novos
conceitos, uso de fórmulas, aspectos culturais e históricos etc.. Ao utilizar este texto como
exemplo para o uso das recomendações deste guia, nosso objetivo é ampliar o leque de
possibilidades e de situações que podemos apresentar. Vale lembrar, no entanto, que os
professores devem estar atentos para que o texto de Física a ser trabalhado seja compatível com
o tempo disponível para a aula de leitura.
Mas há um segundo motivo para a escolha deste texto: sua presença nas atividades de
pesquisa da dissertação vinculada a este produto (MENDES, 2017). Na ocasião, oferecemos
uma “oficina de estudos” sobre a Segunda Lei da Termodinâmica para duas turmas de 2.o ano
do Ensino Médio, num colégio da rede particular de Belo Horizonte. Durante a oficina, os
estudantes tiveram acesso a este texto e a maioria mostrou grandes dificuldades em interpretá-
lo.
Por essa razão, passamos a descrever, a partir de agora, os passos para a preparação de
uma aula de leitura com este texto. As Imagens 1, 2 e 3 das próximas páginas são reproduções
das três páginas do livro que contém o texto.
98
Imagem 1 – 1.a página do texto “Entropia – Indisponibilidade de energia”
Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 132
99
Imagem 2 – 2.a página do texto “Entropia – Indisponibilidade de energia”
Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 133
100
Imagem 3 – 3.a página do texto “Entropia – Indisponibilidade de energia”
Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 134
101
Uma vez escolhido o texto para o trabalho com os estudantes, devemos preparar
atividades para os três diferentes momentos de uma boa aula de leitura (o antes, o durante e o
depois). Vale lembrar que as atividades do tipo “antes da leitura” e “durante a leitura”
constituem os momentos da aula que devem ser conduzidos pelo professor. As atividades do
tipo “depois da leitura” podem ser realizadas em sala de aula ou em casa, com ou sem a ajuda
do professor. No entanto, o professor deve sempre discuti-las com os estudantes em outra aula.
Em uma ou duas horas-aula, não há tempo para todas as sugestões que daremos a partir
daqui. Por essa razão, as sugestões devem ser encaradas como possibilidades de trabalho com
o texto e não como listas de atividades a serem realizadas. O professor deve estar atento se as
atividades que preparou contemplam as “Perguntas que orientam o trabalho dos estudantes”
presentes nos Quadros 2, 3 e 4.
Conforme o Quadro 2, devemos, inicialmente, preparar atividades do tipo “antes da
leitura”. Neste primeiro momento da aula, devemos perseguir três objetivos: (1) ativar o
conhecimento prévio dos estudantes sobre os assuntos do texto, (2) fazer com que os estudantes
levantem objetivos para a leitura e (3) fazer com que os estudantes elaborem hipóteses sobre o
texto.
102
Para ativar o conhecimento prévio dos estudantes, podemos utilizar diferentes
atividades. O Quadro 5 a seguir mostra algumas destas atividades e sua correspondência com
as “Perguntas que orientam o trabalho de preparação do professor”.
Quadro 5 – Sugestões de atividades para ativar o conhecimento prévio
Perguntas que
orientam o trabalho
de preparação do
professor
Sugestões de atividades
Quais são as imagens
que poderiam ativar
os conhecimentos
prévios dos
estudantes sobre os
assuntos do texto?
O título do texto é apresentado aos estudantes (“Entropia – Indisponibilidade de
energia”), mas não permitimos, a princípio, que os estudantes abram o livro ou
tenham acesso ao texto. Em seguida, mostramos imagens de um pêndulo que oscila
e, eventualmente, para. Ou imagens de uma tacada num jogo de sinuca: as bolinhas
se movimentam, sofrem colisões e, eventualmente, param. Então, podemos perguntar
aos estudantes: o que aconteceu com a energia cinética do pêndulo (ou das
bolinhas)? Podemos dizer que essa energia se tornou indisponível?
Quais são as
perguntas que posso
fazer para ativar os
conhecimentos
prévios dos
estudantes?
O título do texto é apresentado aos estudantes (“Entropia – Indisponibilidade de
energia”), mas não permitimos, a princípio, que os estudantes abram o livro ou
tenham acesso ao texto. Em seguida, fazemos as seguintes perguntas aos estudantes:
qual é o significado da palavra “entropia”? Alguém consegue utilizar essa palavra
numa frase? Qual é o sentido de “entropia” na frase elaborada? Alguém consegue
dar exemplos de situações onde há energia de qualquer tipo, mas ela se encontra
indisponível?
Como posso
incentivar os
estudantes a elaborar
suas próprias
perguntas sobre os
assuntos do texto?
Permitimos que os estudantes abram o livro ou tenham acesso ao texto. Solicitamos
uma leitura inspecional, isto é, uma “passada de olhos” no texto (nos subtítulos, nos
negritos, nas imagens etc.). Em seguida, solicitamos aos estudantes que fechem o
livro ou guardem o texto. Depois, pedimos a eles algumas previsões ou perguntas
sobre o texto que será lido, baseadas somente na leitura inspecional. As previsões ou
perguntas podem ser anotadas para posterior utilização
Fonte: Elaborado pelo autor
103
O Quadro 6 apresenta algumas estratégias para que os estudantes levantem objetivos
para leitura, bem como sua correspondência com as “Perguntas que orientam o trabalho de
preparação do professor”.
Quadro 6 – Sugestões de atividades para o levantamento de objetivos
Perguntas que orientam o
trabalho de preparação do
professor
Sugestões de atividades
Quais são as perguntas que
posso fazer para direcionar o
estabelecimento de objetivos
para a leitura?
Permitimos que os estudantes abram o livro ou tenham acesso ao texto.
Solicitamos uma leitura inspecional, isto é, uma “passada de olhos” no texto
(nos subtítulos, nos negritos, nas imagens etc.). Em seguida, perguntamos
aos estudantes: qual é a relação dos assuntos deste texto com o que já
sabemos sobre Termodinâmica? Há, aparentemente, algo de novo sobre a
Termodinâmica neste texto?
O que os estudantes devem
fazer para sistematizar os
assuntos desta leitura
(resumos, esquemas, mapas
conceituais, debates etc.)?
Após uma leitura inspecional, sugerimos aos estudantes que, devido ao
grande número de informações e novos conceitos presentes no texto,
deveremos sistematizá-lo por meio de um mapa conceitual
Como posso incentivar os
estudantes a elaborar outros
objetivos para a leitura?
Após uma leitura inspecional, perguntamos aos estudantes como faremos
para sistematizar as ideias contidas neste texto
Fonte: Elaborado pelo autor
104
Para finalizar o momento “antes da leitura”, apresentamos a seguir, no Quadro 7,
algumas sugestões de atividades para que os estudantes elaborem hipóteses sobre o texto. O
quadro também relaciona essas sugestões com as “Perguntas que orientam o trabalho de
preparação do professor”.
Quadro 7 – Sugestões de atividades para a elaboração de hipóteses
Perguntas que orientam o
trabalho de preparação do
professor
Sugestões de atividade
Quais são as orientações que
posso dar para que os
estudantes observem a
organização gráfica do texto
(títulos, subtítulos, ilustrações
etc.)?
Podemos ajudar os estudantes a fazer uma leitura inspecional do texto. Os
subtítulos do texto, por exemplo, indicam que ele possui 5 partes:
“Irreversibilidade e desordem em um processo natural”, “Outros exemplos”,
“Entropia”, “Princípio de aumento da entropia” e “A ‘morte térmica’ do
Universo”. Além disso, há três imagens ao longo do texto. Na primeira, um
homem agita um pote com bolinhas de diferentes cores. Devemos perguntar
aos estudantes se há alguma relação entre essa imagem e o primeiro
subtítulo. A segunda imagem é uma foto de Rudolf Clausius. Devemos
perguntar aos estudantes sobre os motivos que levaram os autores do texto a
disponibilizar esta foto. A terceira imagem consiste em figuras extraídas de
outra obra. Devemos perguntar aos estudantes se é possível descobrir
rapidamente que obra é esta e o que essas figuras estão fazendo no livro de
Física. O texto ainda possui algumas fórmulas e dois destaques. Devemos
perguntar aos estudantes sobre as razões para estes destaques
Os objetivos levantados para a
leitura geram algum tipo de
expectativa em relação ao
texto?
Se o objetivo é construir um mapa conceitual após a leitura do texto, os
subtítulos e/ou as palavras em negrito do texto podem ser anotadas para
constituir as entradas deste mapa
Fonte: Elaborado pelo autor
Após a preparação de atividades para “antes da leitura”, devemos utilizar o Quadro 3
para preparar as atividades do tipo “durante a leitura”. O objetivo deste momento da aula de
leitura é fazer com que os estudantes verifiquem as hipóteses de leitura que construíram no
momento anterior, isto é, antes da leitura. O Quadro 8 apresenta as sugestões de atividades para
“durante a leitura” e suas relações com as “Perguntas que orientam o trabalho de preparação do
professor”.
105
Quadro 8 – Sugestões de atividades para “durante a leitura”
Perguntas que orientam
o trabalho de preparação
do professor
Sugestões de atividades
Devo ler o texto em voz
alta para mostrar aos
estudantes a pronúncia das
palavras e o ritmo do
texto?
Devo solicitar aos
estudantes a leitura em voz
alta para avaliar a
qualidade da mesma?
Devo solicitar aos
estudantes a leitura
silenciosa para avaliar a
autonomia da mesma?
A “oficina de estudos” realizada com este texto11 mostrou que os estudantes têm
enormes dificuldades para interpretá-lo (no contexto da pesquisa realizada).
Nestes casos, a leitura em voz alta pelo professor é o mais recomendado. Além
disso, se a qualidade da leitura em voz alta dos estudantes é muito heterogênea,
não recomendamos a prática em que cada estudante é responsável por um
parágrafo. Leitores com dificuldades podem quebrar o ritmo da leitura e
dificultar a compreensão do texto. É bem verdade que o objetivo levantado para
a leitura pode ser exatamente este: o aperfeiçoamento da leitura em voz alta. No
entanto, é difícil imaginar um contexto em que este aperfeiçoamento seja o
único objetivo da leitura na aula de Física. Por fim, ressaltamos que as
atividades do tipo “antes da leitura” costumam promover a autonomia da leitura
silenciosa. O professor deve avaliar o seu contexto escolar e tomar as decisões
necessárias
Quais são as
características do texto
didático que podem ser
evidenciadas neste texto?
As marcas do texto didático encontram-se listadas no Quadro 1. Todas elas
estão presentes no texto “Entropia – Indisponibilidade de energia”. Se o
professor pretende apresentar estas marcas com este texto, vale a pena marcá-las
e explicá-las durante a leitura
Quais são os pontos em
que a leitura pode ser
interrompida para a
realização de perguntas
sobre a compreensão do
texto?
Que perguntas podem ser
feitas nestes pontos?
Seguem alguns exemplos destes pontos no texto:
• O segundo parágrafo do texto faz referência ao funcionamento de uma
máquina térmica. Neste ponto, precisamos explicar ou relembrar o
diagrama clássico para uma “máquina térmica”. Do contrário, os estudantes
não compreenderão este parágrafo
• A primeira imagem do texto pode ser encarada como uma síntese da
primeira parte do texto (“Irreversibilidade e desordem em um processo
natural”). Assim, durante a leitura, os estudantes podem ser convidados a
explicar essa imagem com outras palavras
• Ao final da segunda parte do texto (“Outros exemplos”), podemos solicitar
aos estudantes que deem outros exemplos de degradação da energia
• Ao final da terceira parte do texto (“Entropia”), podemos solicitar aos
estudantes o cálculo da variação da entropia na fusão e na solidificação de
certa massa de água. O levantamento de dados para este cálculo pode testar
a compreensão desta parte do texto
• Ao final da quarta parte do texto (“Princípio de aumento da entropia”),
podemos calcular com os estudantes a variação da entropia da vizinhança
do gelo fundente e mostrar que o aumento da entropia do gelo é maior que a
diminuição da entropia do ambiente, resultando num aumento da entropia
total
• Na última parte do texto (“A ‘morte térmica’ do Universo”), podemos
perguntar aos estudantes qual é a relação das imagens ao final do texto com
o que é explicado no texto
Fonte: Elaborado pelo autor
Por fim, devemos utilizar o Quadro 4 para preparar atividades do tipo “depois da
leitura”. O objetivo deste momento da aula é desenvolver a habilidade dos estudantes de: (1)
11 Para maiores informações, consulte o Capítulo 4 da dissertação vinculada a este produto (MENDES, 2017).
106
localizar as informações presentes no texto, (2) produzir inferências a partir do texto e (3)
posicionar-se em relação ao texto. O Quadro 9 apresenta algumas sugestões de atividades e
relaciona-as com as “Perguntas que orientam o trabalho de preparação dos professores”.
Quadro 9 – Sugestões de atividades para “depois da leitura”
Perguntas que orientam
o trabalho de preparação
do professor
Sugestões de atividades
Já existem atividades de
pós-leitura no texto?
A coleção “Física contexto & aplicações” possui, em geral, muitos exercícios de
verificação de leitura. No entanto, o texto analisado, em especial, não é
acompanhado por nenhuma atividade de pós-leitura. Sendo assim, a elaboração
de algumas atividades faz-se necessária. Como vimos, Solé (1998) afirma que,
em geral, “as perguntas que podem ser sugeridas sobre um texto guardam
estreita relação com as hipóteses que podem ser geradas sobre ele e vice-versa”.
Por essa razão, recomenda-se que os estudantes respondam às perguntas que se
fizeram “antes da leitura”
As atividades de pós-
leitura possuem perguntas
dos três tipos existentes
(“resposta literal”, “para
buscar e pensar” e
“elaboração pessoal”)?12
Exemplos de “perguntas de resposta literal”:
• O que é entropia? (Explique com suas próprias palavras.)
• Como podemos calcular a variação de entropia de um sistema?
• Considere a primeira imagem do texto. Se os quadrinhos dessa imagem
fossem colocados na ordem inversa, eles continuariam a representar um
fenômeno observável (ou provável)? Por que você pensa assim?
Exemplos de “perguntas para buscar e pensar”:
• Dê exemplos em que a entropia de um sistema (I) aumenta; (II) diminui e
(III) permanece a mesma (exemplos diferentes dos citados no texto).
Explique seus exemplos.
• À medida que uma galinha desenvolve-se no interior de um ovo, seu
organismo fica mais organizado, ou seja, sua entropia diminui. Responda:
seres vivos violam a Segunda Lei da Termodinâmica? Explique sua
resposta.
• Responda: se você disser à sua mãe que a desarrumação do seu quarto é
uma consequência inevitável da Segunda Lei da Termodinâmica, como ela
poderia contra-argumentar?
Exemplo de “perguntas de elaboração pessoal”:
• Você pensa como o astrônomo francês Camille Flammarion que afirma que
“a miserável raça humana morrerá pelo frio”? Por que sim? Por que não?
Que outras atividades de
pós-leitura os estudantes
devem realizar (resumos,
esquemas, mapas
conceituais, marcar as
partes importantes do
texto, usar dicionários,
fazer anotações nas
margens etc.)?
Se o objetivo é construir um mapa conceitual após a leitura do texto, os
subtítulos e/ou as palavras em negrito do texto podem ser anotadas para
constituir as entradas deste mapa
Fonte: Elaborado pelo autor
12 Conforme a descrição feita em 2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura”.
107
5. PARA SABER MAIS
AMARAL, Heloísa. Leitura nas diversas disciplinas I, 2007. Disponível em:
<https://goo.gl/J8qfts>. Acesso em: 15 nov. 2016.
BAKHTIN, M. M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal.
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro
e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
COSCARELLI, Carla Viana; CAFIERO, Delaine. Ler e ensinar a ler. In: COSCARELLI, Carla
Viana (org.). Leituras sobre a leitura: passos e espaços na sala de aula. Belo Horizonte:
Vereda, 2013.
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1989.
MAGALHÃES, Maurício Anderson Dutra; DICKMAN, Adriana Gomes; LOBATO, Wolney.
O uso de mapas conceituais no ambiente escolar: cartilha para o professor. Produto
educacional vinculado ao Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC Minas. 2015.
MÁXIMO, A; ALVARENGA, B. Física contexto & aplicações. v. 2. São Paulo: Scipione,
2011.
MENDES, Carlos Eduardo. Como os alunos estudam Física: um estudo a partir do uso do
livro didático. 2017. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2017.
PEREIRA, Camila Sequeto; BARROS, Fernanda Pinheiro; MARIZ, Luciana; Universos:
língua portuguesa. 3 ed. São Paulo: Edições SM, 2015.
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.