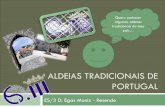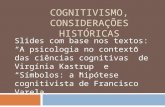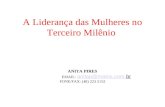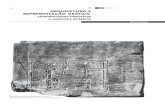CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL DO PERÍODO COLONIAL ATÉ O...
-
Upload
luiz-da-silva -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
description
Transcript of CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL DO PERÍODO COLONIAL ATÉ O...
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 309
CONSIDERAES HISTRICAS SOBRE O ENSINO DE FILOSOFIA NO
BRASIL DO PERODO COLONIAL AT O SCULO XX
Angela Maria Souza Martins1
UNIRIO
RESUMO
Este artigo analisa historicamente como o ensino de Filosofia ingressou no contexto
acadmico brasileiro, a partir de um projeto poltico-pedaggico da Igreja Catlica
Apostlica Romana, criado no sculo XVI e que permaneceu at o sculo XX. Este ensino
fez parte de uma estratgia educativa da Igreja para revitalizar a sua doutrina. Analisamos
o tipo de concepo filosfica que embasou o ensino de Filosofia no contexto educacional
brasileiro; uma concepo que tinha como parmetro principal a interpretao tomista,
segundo a escolstica portuguesa. Constatamos que a filosofia cultivada nos ginsios,
liceus e faculdades at o sculo XX continuava predominantemente aristotlico-tomista.
De acordo com os intelectuais da Igreja catlica, a Filosofia deveria se ocupar da certeza,
unidade e extenso do saber, mas a unidade e a certeza somente poderiam ser alcanadas
por meio da filosofia aristotlicotomista. Palavraschave: Ensino de Filosofia; Histria do Ensino de Filosofia; Histria da Educao Brasileira.
HISTORICAL CONSIDERATIONS ON THE PHILOSOPHY EDUCATION IN
THE COLONIAL PERIOD OF THE BRAZIL TO THE TWENTIETH CENTURY
ABSTRACT
This article historically examines how the Philosophy Education joined the brazilian
academic context, from a political-pedagogical project of the Roman Catholic Church,
created in the sixteenth century and remained until the twentieth century. This education
was part of a church educational strategy to revitalize its doctrine. We analyzed the type of
philosophy concept that based the Philosophy Education on the brazilian educational
context; a concept that had as main parameter the thomist interpretation, according to the
portuguese scholastic. We perceived the Philosophy cultivated in the gyms, high schools
and colleges until the twentieth century remained predominantly aristotelian-thomist. In
accordance with the Catholic Church intellectuals, the Philosophy should concern itself
with the certainty, unit and knowledge extension, but the unity and the certainty could only
be achieved through the aristotelian-thomistic philosophy.
Keywords: Philosophy Education; History of Philosophy Education; History of Brazilian
Education;
Introduo
A histria do ensino de Filosofia no Brasil vincula-se profundamente ao
desenvolvimento da proposta poltico-pedaggica da Igreja. Desde o sculo XVI, a
Filosofia ensinada nos colgios e seminrios catlicos. Mesmo porque a Igreja foi a nica educadora [at] o sculo XVIII, representada por todas as organizaes religiosas do
clero secular e do clero regular que possuam casa no Brasil (LEITE, 1938, p.144)2. Por isso, para compreenso de como se desenvolveu o ensino de Filosofia no Brasil faz-se
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 310
necessria uma anlise, ainda que breve, do projeto poltico-pedaggico da Igreja no
Brasil, dos seus primrdios, no sculo XVI, at o incio do sculo XX.
O catolicismo que participou do processo de colonizao foi o catolicismo da
Contra-reforma. Naquele momento (sculo XVI) era necessria a confirmao da
autoridade da Igreja, abalada com o movimento reformista que grassava na Europa,
dividindo os cristos em catlicos e protestantes. A Igreja catlica precisava revitalizar a
sua doutrina, moralizar o seu clero e confirmar as suas tradies (HOORNAERT, 1977).
Segundo a interpretao da Igreja, os movimentos reformistas dos sculos XV e XVI na
Europa mergulharam o mundo na anarquia e na desordem. Por isso, fazia-se necessrio
restaurar a harmonia, a unidade e a universalidade do cristianismo.
No sculo XVI, com a expanso colonialista, as novas descobertas cientficas e o
surgimento de novas concepes filosficas, como o racionalismo cartesiano, a Igreja v
abalada a sua hegemonia poltica e intelectual. O homem, impregnado pelo
antropocentrismo, afastava-se de Deus, a sua vida pautava-se em bases naturalistas e
materialistas. A inteligncia guiava-se por razes meramente humanas sem atender hierarquia das coisas (CURY, 1978, p.29).
Filosoficamente os sculos XVI e XVII caracterizavam-se pela descoberta
cartesiana do cogito enquanto fundamento terico que validava todo e qualquer conhecimento humano. A verdade fundamentava-se no cogito, na razo humana, rompendo com a autoridade escolstica. Assim, a razo promovida pelo prprio homem em valor absoluto se fez a nica luz da sociedade, nica mediadora entre os homens e Deus
destronando a realeza social de Jesus Cristo (CURY, 1978, p.33). Cai o teocentrismo, o centro do universo passa a ser o homem, que descobre o poder de dominar e controlar a
natureza por meio de sua razo.
Dentro desse contexto, a Igreja busca revitalizar a sua doutrina, funda novas ordens,
entre elas a Companhia de Jesus, em 1534, apregoa a volta tradio e aos dogmas do
catolicismo, amplia os horizontes de sua atuao com a finalidade de conquistar novas
almas para a doutrina catlica. Esse projeto de universalizao da doutrina catlica
encontrou sua realizao efetiva por meio de um projeto econmico e poltico que vigorava
nos sculos XV e XVI na Europa, o expansionismo com a colonizao no Oriente, frica e
Amrica.
Assim, chega a Igreja ao Brasil, com um projeto poltico-pedaggico que atuaria
por meio da catequese, da evangelizao e da instruo. A ordem escolhida para essa
misso foi a Companhia de Jesus. No dizer de Calgeras (1911), a Companhia de Jesus foi
escolhida para a misso de catequizar e instruir as colnias portuguesas por ser uma
congregao catlica educadora e militante antirreformista e o alto ideal que propugnava era a soberania do Papa e da f catlica (CALGERAS, 1911, p. 4), ou seja, a Companhia de Jesus representava o ideal antirreformista, num perodo em que fervilhava o
movimento reformista que contestava o poder e a autoridade da Igreja Apostlica Romana.
Continuando, afirma Calgeras (1911), nesse perodo no prprio seio das potncias cathlicas (sic) existia poderosa corrente reformista, perigosssima mesmo para a inteireza
do dogma, pois visavam os novadores (sic) sanear a Egreja (sic) na cabea e nos membros,
desde o supremo poder pontifcio at os ltimos ramusculos (sic) da frondosa hierarchia
(sic) (CALGERAS, 1911, p.4). No interior desse projeto antirreformista concebida a proposta educacional, de onde surge o ensino de Filosofia para o Brasil.
A Companhia de Jesus e o ensino de Filosofia no Brasil
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 311
Como j mencionamos anteriormente, a Companhia de Jesus3 representava uma
fora antirreformista, defensora do dogma e da hierarquia da Igreja Catlica. Uma fora
que auxiliaria o governo portugus na ocupao das novas terras. Para Fernando de
Azevedo (1964), Portugal encontrou nos jesutas um dos maiores e mais poderosos instrumentos de domnio espiritual e uma das vias mais seguras de penetrao da cultura
europia nas culturas dos povos conquistados, mas rebeldes, das terras descobertas (AZEVEDO, 1964, p.503).
Por meio da catequese, a Companhia de Jesus cristianizaria os nativos e imporia
uma ordem crist naquela ordem irracional e primitiva. Dizia Anchieta (s.d.), essa raa selvagem, sem a menor lei, perpetrava crimes horrendos contra os mandados divinos
proferindo impunemente ameaas contnuas e altivos discursos (ANCHIETA, s.d., p. 83). A proposta de cristianizao inclua uma proposta de pacificao, de harmonizao e de
converso no s religiosa, mas tambm de costumes.
Assim que chegam ao Brasil, os jesutas fundam suas residncias, conventos,
seminrios com a inteno de conquistar e dominar as almas dos nativos. necessrio
ressaltar a preocupao primordial dos jesutas era educao. No dizer de Leite (1938), ao
falarmos das primeiras escolas brasileiras, estamos evocando a epopeia dos jesutas no
sculo XVI.
Os jesutas fundaram vrias escolas elementares, onde os filhos dos ndios e dos
colonos aprendiam a ler, escrever e contar. Por meio da instruo elementar, eles
propagavam a doutrina catlica. Para Fernando de Azevedo (1964), foi por meio dessas
escolas de ler e escrever, fixas ou ambulantes, em peregrinao pelas
aldeias e sertes, que teve de comear a fundamentis (sic) a sua grande
poltica educativa e, com elas que se inaugurou, no Brasil e ao mesmo
tempo na Europa, essa educao literria popular, de fundo religioso,
organizada em consequncia e sob os influxos das lutas da Reforma e da
Contra-Reforma, para a propagao da f (AZEVEDO, 1964, 508).
Mas no era somente no plano da instruo elementar que os jesutas atuavam, a
grande meta era a criao de escolas superiores para a constituio de uma elite, culta e religiosa, que realizaria os objetivos msticos e sociais de Santo Incio (AZEVEDO, 1964, p.508).
Na primeira legislao escolar da Companhia de Jesus, as Constituies (aprovadas
em 1558), constava a exigncia de dois cursos, um de Letras, com durao de cinco anos, e
um para estudos universitrios de Filosofia e Teologia com durao de sete anos
(MORAES FILHO, 1959).
Segundo Serafim Leite (1938), ainda no sculo XVI, os jesutas criaram trs cursos:
Letras Humanas, Artes e Teologia, porque num jesuta a cincia absolutamente quasi (sic) to necessria como a virtude (DEUSDADO, 1910, p.27).
Em 1556, fundou-se o colgio jesuta da Bahia, que no dizer de Serafim Leite foi a primeira Faculdade de Filosofia, primeira e nica, no sculo dos quinhentos (LEITE, 1938, v.VII, p. 46), a partir de ento foram criados diversos colgios em vrias partes do
Brasil: em 1554, o Colgio Santo Incio, em So Paulo; em 1567, o Colgio do Rio de
Janeiro, onde a Filosofia comeou a ser ensinada a partir de 1638. Este colgio foi
incorporado a seu correspondente em Coimbra, com o ttulo de Real Colgio das Artes (CAMPOS, 1978, p.43); em 1652, o Colgio de Nossa Senhora da Luz, em So Lus do
Maranho, neste mesmo ano o Colgio de Santo Alexandre, em Belm, no Par; em 1654,
o Colgio de So Tiago, em Vitria, no Esprito Santo. Em 1572, comea a primeira classe
de Filosofia ou Artes, no colgio da Bahia. De acordo com Serafim Leite, a primeira
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 312
colao de grau de bacharel em Artes de 1575 e, do ano seguinte, a licenciatura (LEITE, 1965, p.59).
A finalidade desses cursos era no somente a formao de uma elite intelectual
catlica, como tambm a manuteno e a restaurao dos princpios da cultura ibrica,
constantemente ameaadas pelas invases, assim como pelas influncias indgenas e
africanas (AZEVEDO, 1964). No dizer de Fernando de Azevedo, no fossem os jesutas que se tornaram os guias intelectuais e sociais da Colnia, durante mais de dois sculos e
teria sido talvez impossvel ao conquistador lusitano resguardar dos perigos que a
assaltavam a unidade de sua cultura e de sua civilizao (AZEVEDO, 1964, p. 510). Alm disso, os jesutas lutavam para manter a posse e a unidade do poder espiritual.
Na verdade, a vida intelectual da colnia girava em torno dos seminrios e colgios
catlicos. Esta afirmao corroborada por Fernando de Azevedo:
todos, pois, que se destinavam, na casa patriarcal, carreira das letras ou
vida eclesistica e monacal e todas as famlias abastadas se desvaneciam de ter um filho letrado ou um filho padre caam naturalmente sob influncia da educao jesuta, em poder desses
religiosos desde 1555, constituindo-se os instrumentos mais teis de
penetrao de suas ideias e de seus mtodos ( AZEVEDO, 1964, p. 514).
A educao catlica pautava-se por uma perspectiva humanista e escolstica, que
formava letrados e eruditos. Os jesutas procuravam desenvolver em seus discpulos
atividades literrias e acadmicas que cumprissem o ideal de homem culto, para tal
defendiam a preservao do dogma, da autoridade, da tradio escolstica e literria e
rejeitavam a cincia e as atividades tcnicas e artsticas. Consequentemente, a formao
educacional catlica no valorizou o esprito crtico, a pesquisa e experimentao.
Dentro desse esprito, moldou-se a educao brasileira, e, principalmente, o ensino
de Filosofia. A filosofia que embasava o projeto poltico-pedaggico dos jesutas era a
interpretao tomista segundo a escolstica portuguesa.
A proposta pedaggica dos jesutas estava sintetizada na Ratio Studiorum, uma
espcie de cdigo pedaggico, o primeiro esboo desse documento foi em 1586 e
promulgou-se como Lei Geral da Companhia de Jesus, em 1559 (AZEVEDO, 1964). A
Ratio Studiorum tinha como objetivo o conhecimento do aluno e a finalidade a atingir era a
glria de Deus. Sua proposta pedaggica comportava trs cursos fundamentais: Letras Humanas, Artes ou Filosofia e Teologia. Estes trs cursos formavam uma hierarquia rgida
cujo ponto mais alto era a Teologia. Tanto Letras quanto Filosofia preparavam o estudante
para o curso considerado o mais elevado, o de Teologia.
Segundo as diretrizes pedaggicas da Ratio Studiorum, o ensino de Filosofia, nos
colgios e seminrios catlicos, devia estar embasado no estudo de Aristteles e Toms de
Aquino. A Ratio Studiorum preocupava-se em preservar a doutrina aristotlico-tomista de
interpretaes no aprovadas pelos escolsticos do sculo XIII. O professor no deveria se
afastar de Aristteles e Toms de Aquino, salvo raras excees e no deveria discutir nada
que fosse conflitante com a f catlica (CAMPOS, 1978).
A Filosofia ensinada no perodo colonial tem uma profunda influncia do
pensamento escolstico, principalmente do pensamento escolstico portugus, que tem
como representante Pedro Fonseca; inclusive a obra de Pedro Fonseca, Comentrios
Metafsica, foi a base de Cursus Conimbricensis, livro adotado no ensino de Filosofia no
Brasil colonial. Este livro era uma espcie de enciclopdia pautada numa viso escolstica
do sculo XIII. Alm deste livro, outros eram adotados no curso de Filosofia, tais como:
Cursus Philosophicus, de Arriaga, que chegou a Bahia em 1639; o Curso de Filosofia, de
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 313
Antonio Vieira, que parece ter sido o primeiro livro escrito no Brasil entre 1629 e 1632;
Cursus Philosophicus, de Domingos Ramos; Cursus Philosophicus, de Antonio Andrade e
a Quaestione Selectiores de Philosophia Problematice expositae, de Lus de Carvalho
(CAMPOS, 1978).
O curso de Filosofia pautava-se na leitura dos manuais citados acima. Os alunos
deveriam reproduzir com exatido os conhecimentos adquiridos por meio desses manuais,
sempre com o cuidado de no exceder ou criticar o conhecimento exposto pelos
comentadores de Aristteles e So Toms.
Segundo Fernando de Azevedo,
O curso de Filosofia e de Cincias, tambm chamado de Artes dividido
em trs anos, tinha por fim a formao do filsofo, pelos estudos de
Lgica, Metafsica geral, Matemticas elementares e superiores, tica,
Teodicia e das Cincias Fsicas e Naturais, tomadas pela escolstica e
estudada ainda a esse tempo como cincias constitudas definitivamente
pelas especulaes aristotlicas. Em Aristteles, segundo os escolsticos;
estava tudo: nada que investigar ou que discutir, s havia o que comentar
(AZEVEDO, 1964, p. 519).
Os jesutas preocupavam-se em perpetuar e resguardar a interpretao escolstica
de So Toms e Aristteles. Dessa forma preservavam tambm a veiculao dos dogmas e
dos princpios tradicionais da doutrina catlica, pautadas na autoridade, no esprito
conservador e na disciplina, com o intuito de preparar os estudantes de Filosofia para o
curso de Teologia.
Pode-se afirmar que o contedo veiculado pelo ensino de Filosofia na fase colonial
privilegiava algumas ideias fundamentais da doutrina tradicional catlica, a hierarquizao
das ideias, a disciplina da razo e a sua submisso f e concepo de ordem. Era a
maneira encontrada pela Igreja de resguardar a concepo de mundo catlica das correntes
racionalistas e empiristas, que proliferavam nos sculos XVI, XVII e XVIII. Segundo
Campos, a escolstica no Brasil colnia , assim, o reflexo da doutrina aristotlico-tomista dos conimbricenses, cujo contedo de natureza dogmtica (CAMPOS, 1968, p. 47).
O mtodo utilizado nos cursos de Filosofia baseava-se em repeties dirias e
semanais, feitas em casa ou na escola, quando os estudantes discutiam uns com os outros
os pontos mais difceis. A Ratio Studiorum tambm determinava desafios entre os alunos
do mesmo nvel e ordenava que se enviassem ao padre provincial composies ou
dissertaes para comprovar os estudos feitos.
Dentro dos princpios da Ratio Studiorum, segundo as interpretaes aristotlico-
tomistas da escolstica portuguesa, o ensino de Filosofia permanece inalterado at o sculo
XVIII.
Em 1759, devido reforma realizada pelo Marques de Pombal, os jesutas foram
expulsos da colnia, fato que provocou algumas modificaes no processo educativo da
educao elementar, como tambm no ensino de Filosofia e Teologia. Nesse perodo foram
fechados cerca de dezessete colgios e seminrios sem contar os seminrios menores e as escolas de ler e escrever, instaladas em quase todas as aldeias e povoaes onde existiam
casas da Companhia (AZEVEDO, 1964, p.539). Em 1772, foi criado um fundo especial para financiar a reforma feita pelo Marques
de Pombal, por meio da criao de um imposto, o subsdio literrio, para contratar
Professores Rgios. Com esse subsdio foram criadas 358 vagas para Professores Rgios e,
um desses foi nomeado professor de Filosofia Racional e Moral, no Rio de Janeiro
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 314
(ALMEIDA, 2003). A concepo filosfica que predominava era diferente da escolstica
portuguesa, utilizavam Aristteles de modo diferente da interpretao escolstica, mas este
professor tornou-se suspeito diante da coroa portuguesa e foi envolvido na Devassa
coordenada pelo vice-rei Conde Resende, em 1794, foi preso porque defendia ideias
insurrecionais contra Portugal.
No final do sculo XVIII, em reao corrente escolstica implantada por meio do
ensino da Companhia de Jesus surge o movimento antiescolstico, iniciado em Portugal
sob o governo de Pombal. Este movimento teve como elemento fundamental as Cartas de
Verney, que foram a base da reforma da universidade em Portugal. Mas estas reformas no
atingiram o Brasil de modo significativo, a nossa estrutura educacional no apresentou
mudanas substanciais. No curso de Filosofia, a mudana observada foi o uso de um novo
manual. Adota-se, a partir de ento, o livro de Antonio Genovesi, as Instituies de Lgica,
o Genuense, que passou a ser o livro oficial do ensino de Filosofia. Neste livro percebe-se
a orientao aristotlico-tomista mesclada ao empirismo lockeano.
Nesse perodo, a estagnao da educao brasileira comeou a provocar discusses,
acirrando a luta pela implantao de uma universidade, no Brasil. Portugal proibia a
instalao de qualquer instituio de nvel superior na colnia. A partir do final do sculo
XVIII, agravaram-se as lutas polticas no Brasil e eclodiram os movimentos libertrios,
profundamente influenciados pelas ideias iluministas. Essa nova concepo filosfica
trouxe outra concepo de educao. Os conjurados mineiros, por essa poca, elaboravam
planos para a criao de uma universidade em Vila Rica (MORAES FILHO, 1959).
Mas os movimentos libertrios fracassaram e com eles o sonho de mudanas
educacionais. O Brasil entra no sculo XIX sem universidade e, os princpios do ensino de
Filosofia continuaram, ainda, apoiados na doutrina aristotlico-tomista, porque, expulsos
os jesutas, outras ordens catlicas, tais como franciscanos e carmelitas a atuar como
pilares da educao no Brasil.
No sculo XIX, surgem esperanas de alteraes no contexto cultural brasileiro,
devido instalao do reinado de D. Joo VI, no Brasil. Essa nova situao poltica
promoveu algumas mudanas no campo da cultura. Foram criados a Imprensa Rgia, a
Biblioteca Nacional, um museu e algumas escolas de nvel superior, o curso de Medicina,
na Bahia e no Rio de Janeiro, a Escola Militar, a Escola Naval, etc.
Mas apesar da criao de algumas escolas superiores, a situao do ensino como
um todo permaneceu inalterada. No caso da Filosofia continuou-se adotando o manual
Geneuense. Contrrio a adoo deste manual, o professor de Filosofia Silvestre Pinheiro
Ferreira, membro da comitiva de D. Joo VI, fez-lhe srias crticas e tentou com a
publicao de seu livro4, afastar o compndio oficial usado nas escolas brasileiras.
No perodo do Imprio acirraram-se os debates em torno da criao da universidade
e do ensino superior de Filosofia no Brasil. Surgiram vrios projetos que propunham a
criao de cursos superiores e, principalmente, de uma universidade, onde existisse um
curso de Filosofia.
Mas at meados do sculo XIX, no se cogitava da fundao de uma universidade
no Brasil e, principalmente, de um curso superior de Filosofia. Este curso era visto como
desnecessrio naquele momento. Na Constituinte de 1823, declarava o Sr. Antnio Carlos
R. de Andrade Machado: o colgio filosfico no insta tanto vista da necessidade que temos de magistrados e advogados (PRIMITIVO, 1936-1938, p.71). A Filosofia continuou a fazer parte apenas das escolas secundrias e de cursos preparatrios para o
ensino superior.
Questionando essa situao, dizia Tobias Barreto: na verdade o que a Filosofia entre ns? Simplesmente o nome de um preparatrio que a lei diz ser preciso para fazer-se
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 315
o curso de certos estudos superiores (BARRETO, 1926, p. 343). A Filosofia era obrigatria nos liceus e nos ginsios do Imprio, onde se ministrava um ensino sem
grandes novidades, no qual os velhos manuais ainda eram seguidos, principalmente
aqueles fundamentados no tomismo.
No sculo XIX, os parcos estudos de Filosofia a nvel superior eram dados
exclusivamente, nas faculdades de Direito e nos seminrios catlicos. Estes eram os dois
espaos onde se cultivavam estudos de cunho especulativo. O curso de Direito era um dos
centros de formao de intelectuais, no sculo XIX e incio do sculo XX. Nas palavras de
Nelson Werneck Sodr, os cursos de Direito
forneceram, como era sua finalidade, conhecimentos que permitiam
a atividade ligada ao Direito, mas forneceram paralelamente e at o fim da fase de que nos ocupamos, unicamente aqueles conhecimentos ainda que em nvel rudimentar, que seriam
fornecidos adiante, por centros especializados de estudos, e, bem
mais adiante, pelas Faculdades de Filosofia, isto , o saber
universal, humanstico, filosfico com alguma licena nessas qualificaes. De sorte que os bacharis no se habilitavam apenas
ao exerccio profissional, mas s letras, ao jornalismo, poltica, ao
magistrio, sem falar nas funes pblicas (...) (SODR, 1976, p.
37-38).
A Filosofia cultivada nos ginsios, liceus e faculdades de Direito durante o sculo
XX, continuava predominantemente tomista. Isto porque se recrutavam os intelectuais
formados em Filosofia nos seminrios e muitos iam estudar em faculdades catlicas
europeias, como em Louvain, na Blgica. Alguns fatos ocorridos no sculo XIX
corroboram essa afirmao. Em 1867, num concurso para o ensino de Filosofia no Ginsio
Pblico Pernambuco, o professor Jos Soriano de Souza, tomista, autor da obra intitulada
Compndio de Filosofia, ordenado segundo os princpios e mtodos de Santo Toms de Aquino, venceu o concurso, que eliminou Tobias Barreto. O professor Jos Soriano de Souza cursou Filosofia, em Louvain, Blgica e era tambm professor de Direito Pblico e
Constitucional na Escola de Direito, de Recife.
Em 1875, Slvio Romero, seguidor do evolucionismo, foi derrotado no concurso
para o ensino de Filosofia do Colgio das Artes de Recife, pelo professor Antnio Lus de
Mello Vieira, tomista, autor da tese Da interpretao filosfica na evoluo dos fatos histricos, onde usa a tcnica da argumentao silogstica, apoiando-se, principalmente, em Santo Agostinho e So Toms de Aquino, para provar que a providncia divina e a liberdade humana so causas de todos os fatos histricos (CAMPOS, 1968, p.66).
A doutrina aristotlico-tomista embasava o ensino de Filosofia no s nas escolas
catlicas, como tambm nas escolas pblicas estatais. Mas preciso ressaltar que, em
alguns momentos histricos, a hegemonia filosfica do tomismo defronta-se com outras
correntes filosficas. Nos meados do sculo XIX, foram introduzidas no Brasil ideias
positivistas e evolucionistas, que tiveram ampla penetrao na educao.
O positivismo embasou doutrinariamente uma significativa parcela do movimento
militar que implantou a Repblica, no Brasil. As ideias positivistas fomentaram a discusso
sobre a possibilidade de uma Estado laico, o que acarretaria a criao de escolas pblicas
estatais com o ensino laico. Porm, at ento, no s a Filosofia, mas a educao em geral
era ministrada, quase que exclusivamente, de acordo com uma orientao confessional.
Assim, as ideias positivistas tornaram-se uma ameaa para a educao catlica.
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 316
Ressaltamos que a Igreja at o perodo da monarquia vinculava-se ao Estado por
meio do sistema de padroado. Neste sistema, a igreja catlica ficava sob a proteo do
Estado e o catolicismo era considerado a religio oficial e a nica permitida pelo Estado. O
governo era civil e religioso, ou seja, os governantes detinham o poder poltico e religioso;
eles poderiam criar ou vetar a instalao de novas ordens religiosas e escolher quem
dirigiria as dioceses (HOORNAERT, 1977).
A difuso de ideias que preconizavam o laicismo tornou-se uma ameaa para a
Igreja em termos poltico, econmico e cultural. Com o advento da Repblica, a vitria
das ideias liberais e positivistas e a proclamao do Estado laico, os catlicos passaram a
buscar a hegemonia no plano cultural.
A partir de ento, a Igreja catlica passou a preocupar-se mais agudamente com a
ocupao de espaos culturais e, em 1908, criou a primeira faculdade de Filosofia, a
Faculdade de Filosofia e Letras de So Bento, iniciativa de D.Miguel Kruse, abade do
Mosteiro de So Bento, em So Paulo. Segundo D. Odilo Moura, a inteno do abade era
ver a juventude catlica universitria formada nos princpios da f, para que ela fosse mais esclarecida e mais preparada na refutao dos erros filosficos que a ameaavam (MOURA, 1978, p.143).
Mas no devemos esquecer que apesar da influncia exercida no movimento
republicano e em alguns setores da educao, como, por exemplo, no ensino de Cincias
da Natureza e da Matemtica, o positivismo no conseguiu abalar significativamente a
forte influncia da orientao tradicional catlica no ensino de Filosofia.
A Faculdade de Filosofia e Letras de So Bento veio a ser mais um foco de
irradiao da doutrina tradicional da Igreja, o tomismo. D. Miguel Kruse recorreu ao
neotomista, cardeal Mercier, para ajud-lo na tarefa de instalao de um instituto superior.
O cardeal enviou monsenhor Charles Sentroul ao Brasil para auxili-lo nessa tarefa.
Monsenhor Charles Sentroul era considerado conhecedor de Kant e So Toms de Aquino.
Na inaugurao da faculdade proferiu uma conferncia, em que disse:
a filosofia tem um trplice papel: 1) um papel prprio mas preliminar e,
neste sentido, negativo: o de restabelecer o valor objetivo do
conhecimento; 2) um papel prprio e positivo, o de constituir, sob forma
de metafsica, a sntese superior do saber; 3) e tambm um papel
positivo e auxiliar de submeter metafsica, para as beneficiar, com a sua
unidade sistemtica, as cincias particulares.No seu primeiro papel, a
filosofia ocupa-se especialmente da certeza do saber, no segundo da sua
unidade, no terceiro mas desta vez em colaborao com as cincias da sua extenso. E como a certeza por si mesma uma unidade (...) pode
exprimir-se o papel da filosofia nestas palavras: a cincia que completa
a unidade do saber (SENTROUL, 1909, p. 234).
De acordo com os intelectuais vinculados a Igreja catlica, essa unidade do saber somente
poderia ser realizada pela filosofia aristotlico-tomista, porque acreditavam ser esta a filosofia
verdadeira. Segundo a viso do Monsenhor Charles Sentroul, a Filosofia deveria estabelecer o
valor objetivo do conhecimento e, enquanto metafsica realizar a sntese superior do saber. A
Filosofia deveria se ocupar da certeza, unidade e extenso do saber. Para tal
empreendimento poderamos utilizar teorias filosficas modernas, mas estas teorias no
podiam colocar em cheque ou contestar a filosofia aristotlico-tomista, pois para esses
intelectuais somente importava a verdade oriunda das teses de Aristteles e So Toms de
Aquino (SENTROUL, 1909).
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 317
Esse breve esboo histrico nos permite afirmar que o ensino de Filosofia no Brasil,
do sculo XVI ao sculo XX, foi orientado de acordo com os princpios da proposta
poltico-pedaggica da Igreja catlica. Entre as caractersticas desta proposta educacional,
destacam-se o privilgio atribudo aos estudos de cunho especulativo e a escolha do
embasamento terico aristotlico-tomista. Tais preocupaes remontam a razes
antropolgicas e ontolgicas da doutrina crist.
A explicao, ainda que breve, desses dois aspectos ressaltados acima possibilitar
lanar luz sobre os princpios terico-ideolgicos que orientaram o ensino de Filosofia no
contexto educacional brasileiro.
A importncia dos estudos especulativos para a educao catlica
Segundo a doutrina catlica, o homem um ser espiritual, criado por Deus (...) composto de corpo e alma (CURY, 1978, p. 46) e distingue-se dos demais animais pela sua racionalidade. A dupla composio do ser humano lhe possibilita o desenvolvimento
de atividades corporais e espirituais, sendo que as primeiras deve se submeter s segundas.
Tanto a vida quanto as faculdades humanas so concebidas a partir de uma viso
hierrquica de princpios. Assim, a vida vegetativa subordina-se sensitiva, esta a vida racional, a racional vida espiritual (CURY, 1978, p. 55). Ou seja, as questes intelectuais so hierarquicamente superiores aos aspectos fsicos e as questes morais e
religiosas so superiores as questes intelectuais. Assim, a educao deve seguir esta
hierarquia.
Acatando esses princpios, compete educao o desenvolvimento intelectual,
moral e religioso. A educao seria
a conscincia que o ser humano deve ir adquirindo de sua destinao
espiritual, atravs do uso ordenado das faculdades no domnio dos
espritos, atravs de hbitos salutares e da preparao do esprito para o
mundo da graa, sob o influxo da lei eterna, tornando o homem apto a
viver em sociedade ( CURY, 1978, p. 55)
No processo educacional, a formao intelectual pautada nos estudos especulativos torna-
se fundamental porque possibilita a ordenao das ideias, tanto no plano do conhecimento
cientfico quanto no do conhecimento humanstico e, assim, podem-se atingir as verdades
fundamentais. Estas verdades so os primeiros princpios que ensinam o que o homem, de onde vem e para onde vai ( CURY, 1978, p.56) . Segundo a Igreja, a racionalidade iluminada pela graa descobre a ordem de tudo e Deus a fonte do ser (CURY, 1978).
Atribui-se aos estudos de cunho especulativo a funo de ordenar as ideias e aproximar o
home de seu fim ltimo, que a vida espiritual. Nesse sentido, a Filosofia, considerada como um
saber eminentemente especulativo que cultiva os princpios imutveis, perenes e universais, torna-
se fundamental para a educao e para a doutrina catlica. Ela possibilita, assim, a ordenao e a
hierarquizao das ideias.
A escolha da doutrina aristotlico-tomista para guiar o ensino de Filosofia
Segundo a concepo tradicional catlica, a compreenso dos problemas
fundamentais, tanto em termos tericos quanto prticos, colocados ao longo da histria,
somente seria possvel luz de uma Filosofia nica e certa (FRANCA, 1978). Deve-se
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 318
partir de verdades inabalveis que possam ser a base e o ponto de partida das investigaes
filosficas, porque a razo deve buscar a verdade e o caminho nico e certo que lhe auxilie
a distinguir o erro e a verdade, por isso deve-se buscar a Filosofia. Para tal h trs critrios
fundamentais: o especulativo, o prtico e o histrico (FRANCA, 1978).
O primeiro critrio, o especulativo, terico e racional e orienta-se pela evidncia,
pois tudo que se fundamenta na contradio conduz ao erro, por isso a inteligncia deve
seguir uma lgica severa e s que pode desfiando as concluses das premissas ou remontando dos consequentes aos antecedentes, desvendar o sofisma, seguindo esta lgica chega a verdade (FRANCA, 1978, p.329)
O segundo critrio de carter prtico e baseia-se nas questes morais dos sistemas
filosficos. Segundo Franca,
toda interpretao sinttica do universo no domnio especulativo
comporta no campo da ao uma srie de aplicaes prticas, um sistema
moral que, desenvolvido cedo ou tarde pela lgica irresistvel dos fatos ,
atesta o valor das ideias de que deriva, como a qualidade dos frutos abona
a rvore que os produziu. Qualquer filosofia que logicamente importe a
destruio do direito e da moral, a extino da virtude e do herosmo, a
dissoluo da famlia e da sociedade no verdadeira (...) (FRANA,
1978, p. 329).
O terceiro critrio, o histrico, faz a distino entre a Filosofia e as Filosofias.
Assim considerada a Filosofia, aquela que segue seu curso com segurana, enquanto que
as Filosofias so temporrias e, algumas se baseiam nas contradies, assim, de acordo
com os intelectuais tradicionais da Igreja catlica, a doutrina verdadeira perene e progressiva nos seus princpios fundamentais, certos e indestrutveis, progressiva nas
concluses que deles podem derivar (...) (FRANCA, 1978, p.329). Para esses intelectuais, a Filosofia deve sempre contribuir para atingir a verdade perene e lutar contra falsos
sistemas.
Todos esses critrios seriam cumpridos, segundo a viso tradicional catlica, por
uma nica doutrina, a aristotlico-tomista. Esta seria a Filosofia genuna, pois no sofreria
as contingncias do espao e do tempo como as demais Filosofias. Na doutrina
aristotlico-tomista estariam ainda os caminhos melhores para a destruio dos erros e a
soluo dos problemas sociais. Porque esta doutrina era considerada aquela que propalava
as verdades de acordo com a revelao de Deus e dos escritos dos Santos Padres, assim
defendia os princpios da reta razo.
Segundo Padre Werner (In: MOURA, 1978), a escolstica mantinha a paixo pela
verdade, por isso ela enfrenta
tudo que pode velar, alterar, adulterar, dissimular a verdade (...) Ela
cincia, no arte, ela estudo no divertimento, ela escreve a
explicao do universo,no como Bergson, um romance do universo,
ensina o que observa, no como Fechner ou o Send-Avest, o que
imaginou, diz o que , no o que seria bonito que fosse (WERNER, In:
MOURA, 1978, p.148)
Entre os sculos XIX e XX persiste a defesa da doutrina aristotlico-tomista,
porque esta cultiva uma verdade inabalvel, pautada em princpios perenes, imutveis e
universais. Ela tornou-se a base terica da proposta para o ensino de Filosofia, no contexto
educacional brasileiro. Podemos afirmar que os princpios aristotlico-tomistas foram
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 319
fundamentais para a consolidao da hegemonia espiritual e cultural da Igreja catlica no
contexto social brasileiro.
Consideraes Finais
Transformada em Filosofia, a doutrina aristotlico-tomista transformou-se numa
espcie de escudo para combater outras correntes filosficas. Tornou-se a expresso da
verdade absoluta, os seus princpios tericos deveriam ser, necessariamente, o ponto de
partida da investigao filosfica tanto da realidade social e histrica como das demais
correntes filosficas.
Esse dogmatismo influenciou a orientao do ensino de Filosofia no Brasil. A
Filosofia desenvolveu-se tal como uma religio, cultivando princpios imutveis,
mostrando-se ao mundo como verdade eterna. As interpretaes aristotlico-tomistas
assumiram no contexto cultural brasileiro o papel de filosofia da ordem estabelecida, como
um dique destinado a conter a penetrao de teorias que pudessem trazer qualquer base de
contestao reflexo filosfica institucionalizada. Transformaes e mudanas da
realidade eram consideradas, pelos intrpretes dessa doutrina, como sinal de desagregao
e crise, ameaas ao cultivo de princpios e valores adequados a uma ordem social e moral
estvel.
Como j discutimos anteriormente, a realidade, segundo os pressupostos
aristotlico-tomistas, deveria corresponder ordem da razo, ou seja, aos princpios
perenes, imutveis e absolutos estabelecidos a priori pela razo. Assim, o pensar perene
ordenaria e determinaria a realidade; os produtos do pensar adquiriram autonomia e
passaram a ser a prpria expresso da realidade. Segundo Marx e Engels, a filosofia
especulativa estava na obrigao de despojar todas as questes da forma que lhes dava sentido humano e traduzi-las na forma da razo especulativa, de transformar a questo real
em uma questo especulativa para poder respond-la (MARX e ENGELS, 1973, p.106). A Filosofia ensinada nas academias e colgios brasileiros, do perodo colonial at
as dcadas iniciais do sculo XX, salvo raras excees, foi responsvel pelo
aprofundamento da dicotomia ser/pensar. Dicotomia que acarreta consequncias de ordem
terica ontolgica e epistemolgica - e de ordem prtica poltica. Em termos ontolgicos, significa que o fundamento de uma determinada realidade,
ou seja, o seu ser expressa-se por conceitos que so produzidos exclusivamente por
operaes racionais desvinculadas da realidade scio-histrica, desta premissa decorre a
seguinte consequncia epistemolgica: somente podemos conhecer a realidade por meio de
princpios perenes e imutveis estabelecidos a priori pela razo.
Consideramos que a Filosofia no se esgota nas teorizaes de cunho ontolgico e
epistemolgico. Ela tem ressonncia de ordem prtica e poltica. De acordo com Gramsci
uma concepo de mundo ou Filosofia responde a problemas que so colocados por um
contexto histrico e social, por isso ele questionava: como possvel pensar o presente, e um presente bem determinado, com um pensamento elaborado em face de problemas de
um passado frequentemente bastante remoto e superado? (GRAMSCI, 2001, p.95). Uma Filosofia no simplesmente um conjunto conceitual, ela expressa normas de
comportamento e conduta de um determinado contexto histrico, assim nela se renem
elementos tericos e de ordem prtica que redundam numa orientao poltica.
Assim, as proposies de ordem ontolgica e epistemolgica conduzem a
consequncias de ordem prtica, a defesa da doutrina aristotlico-tomista conduziu para a
defesa de uma realidade regida por princpios sociais, morais e polticos perenes e estveis,
de modo que as mudanas e transformaes fossem rechaadas. O ensino de Filosofia, no
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 320
Brasil, entre os sculos XVI e os primrdios do sculo XX, viveu imerso em abstraes
que impossibilitava a compreenso da realidade de modo dinmico e contraditrio.
Concordamos com Gramsci, quando ele afirma que:
no se pode ser filsofo isto , ter uma concepo do mundo criticamente coerente sem a conscincia da prpria historicidade, da fase de desenvolvimento por ela representada e do fato de que ela est em
contradio com outras concepes ou com elementos de outras
concepes. A prpria concepo do mundo responde a determinados
problemas colocados pela realidade, que so bem determinados e
originais em sua atualidade (GRAMSCI, 2001, p.95).
Pensamos que o ensino de Filosofia se fossilizou ao ter como guia uma orientao
filosfica que desconsiderou a historicidade, que colocou o viver como algo estranho ao
filosofar. Pensar e ser so aspectos distintos, mas esto vinculados de uma maneira
dialtica e histrica. Pois aquele que pensa no um ser etreo destacado da realidade
histrica, mas um ser que se constitui num determinado contexto histrico e social.
Referncias
ALMEIDA, Anita Correia Lima de. Notas sobre a Reforma Pombalina dos estudos
Menores no Brasil. In: MAGALDI, Ana Maria; ALVES, Cludia; GONDRA, Jos G.
(orgs). Educao no Brasil: Histria, Cultura e Poltica. Bragana Paulista: EDUSF, 2003.
ANCHIETA. Feitos. So Paulo: [s.n], Livro II versos 825-828, s/d.
AZEVEDO, Fernando de. A Cultura Brasileira. So Paulo: Ed. Melhoramentos, 1964.
BARRETO, Tobias. Estudos Alemes. Aracaju-SE: Ed. do Governo de Sergipe, 1926.
CALGERAS, Joo Pandi. Os Jesutas e o Ensino. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1911.
CAMPOS, Fernando Arruda. Reflexo introdutria ao estudo da Filosofia na poca
colonial no Brasil. In: CRIPPA, Adolpho (coord). As ideias filosficas no Brasil. So
Paulo: Convvio, 1978.
_____________ . Tomismo e Neotomismo no Brasil. So Paulo: Grijalbo, 1968.
CURY, Carlos R. Jamil. Ideologia e Educao Brasileira. So Paulo: Cortez & Moraes,
1978.
DEUSDADO, M. A Ferrreira. Educadores Portugueses. Coimbra: [s.n.], 1910.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
2001.v.1
FRANCA, Pe Leonel S. J. Noes de Histria da Filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1978.
HOORNAERT, Eduardo. Histria da Igreja no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1977.
______________. A Igreja no Brasil colnia (1550-1800). So Paulo: Brasiliense, 1982.
LEITE, Serafim. Histria da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Livraria Portuglia,
1938.10 v.
-
Revista HISTEDBR On-line Artigo
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n49, p.309-321, mar2013-ISSN: 1676-258 321
_____________. O curso de Filosofia e as tentativas para se criar a universidade no Brasil
no sculo XVII. Revista Verbum. Rio de Janeiro, v.5, n. 2, p.108-143, abr/mai/jun 1948.
______________. Novas Pginas de Histria do Brasil. So Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1965.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. La sagrada familia - o critica de la critica critica.
Buenos Aires: Editorial Claridad, 1973.
MORAES FILHO, Evaristo. O Ensino de Filosofia no Brasil. Decimlia, Rio de Janeiro,
[s.n.], p.21-25, 1959.
MOURA, D. Odilon. Direes do Pensamento Catlico no Brasil no sculo XX. In:
CRIPPA, Adolfo (coord). As ideias filosficas no Brasil. So Paulo: Convvio, 1978.
PAIVA, Jos Maria de; BITTAR, Marisa; ASSUNO, Paulo de (orgs). Educao,
Histria e Cultura no Brasil Colnia. So Paulo: Ark, 2007.
PRIMITIVO, Moacir. A Instituio e o Imprio subsdios para a Histria da Educao no Brasil. So Paulo: Ed. Nacional, 1936-1938.
SENTROUL, Mons. Charles. O que Philosofia? In: SENTROUL, Mons. Charles.
Tratado de Lgica. So Paulo: [s.n.], 1909.
SODR, Nelson Werneck. Sntese de Histria da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1976.
Notas 1 Ncleo de Estudos e Pesquisas em Histria da Educao Brasileira - NEPHEB/HISTEDBR -
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) Email: [email protected]
2 Neste texto foram utilizadas edies clssicas de alguns livros que constam da referncia bibliogrfica,
optamos propositalmente em no utilizar edies mais atualizadas dessas obras.
3 Alm da Companhia de Jesus, outras ordens religiosas surgiram no perodo da Contra-reforma catlica:
Capuchinhos, Teatinos, Barnabitas e Somascos. Estas ordens foram criadas antes da Companhia de Jesus, no
sculo XVI, elas foram constitudas com um esprito reformador, pois questionavam a conduta pouco crist
das ordens religiosas tradicionais.
4 O livro do professor Silvestre Pinheiro Ferreira intitulava-se Prelees Filosficas sobre a terica do
discurso e da linguagem, a esttica, a dicesina e a cosmologia.
Recebido: Agosto-2012
Aprovado: Novembro-2012