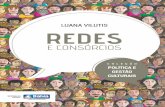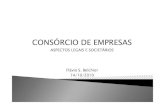Consorcios
-
Upload
ana-paula-melo -
Category
Documents
-
view
36 -
download
0
Transcript of Consorcios
COOPERAO INTERGOVERNAMENTAL EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
LETCIA PINTO VINHAS JOO CARLOS DERZI TUPINAMB
DESAFIOS DA ADAPTAO LEI DE CONSRCIOS PBLICOS: EXPERINCIAS CONCRETAS NO ESTADO DE SO PAULO
Thamara Caroline Strelec
Painel 01/004
Consrcios Intermunicipais: legislao e experincias concretas
DESAFIOS DA ADAPTAO LEI DE CONSRCIOS PBLICOS: EXPERINCIAS CONCRETAS NO ESTADO DE SO PAULOThamara Caroline Strelec
RESUMO A Lei no 11.107/2005 intentou possibilitar aos consrcios a ampliao de seu potencial de atuao, pondo fim sua fragilidade institucional. No entanto, essa possibilidade ou ainda no foi utilizada como fonte de recursos para algumas experincias ou tem ocorrido a um ritmo mais lento do que se esperava. A partir desta problemtica, o presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo a respeito do processo de adaptao dos consrcios Lei no 11.107/2005, com nfase na investigao de consrcios no estado de So Paulo, que no se converteram para consrcios pblicos nos moldes da lei. Em suma, possvel concluir que a lei, ao criar um novo arranjo de pactuao federativa, levou esses arranjos a adotar um comportamento de negao deliberada Lei, tendo em vista sua trajetria de informalidade e flexibilidade. Dessa maneira, compreender de que modo os consrcios pr-existentes Lei no 11.107/2005 tm reconhecido as possibilidades desse novo marco legal apresenta-se como um estudo ainda pouco explorado e como norte principal da discusso neste trabalho.
2
INTRODUO Um dos desafios do modelo de federalismo escolhido pelo Brasil tornar mais equilibrado o relacionamento dos trs nveis de governo e preservar os princpios da autonomia e interdependncia. Tais relaes, marcadas por tenses e conflitos operados entre o local e o nacional, entre a unidade e a diversidade, entre competio e cooperao, tambm podem possibilitar a formao de arranjos institucionais de cooperao para a superao destes conflitos. Nessa dinmica, apresentam-se os consrcios como instrumentos de relaes intergovernamentais cooperativas, capazes de viabilizar a soluo de problemas comuns entre os entes federados, ampliando a capacidade destes na proviso de servios pblicos necessrios ao desenvolvimento dos municpios. No entanto, compreender como opera essa dinmica dos consrcios intermunicipais, em especial na realidade brasileira, requer uma observao atenta complexa teia de elementos que interagem no contexto federativo: autonomia, desigualdades, descentralizao e conflito de competncias. Alm disso, o desafio de equilibrar as relaes entre os entes da federao vem exigindo tambm a evoluo do Direito Constitucional, que tem buscado atualizar-se para promover o atendimento s novas demandas da sociedade, bem como uma melhor coordenao administrativa. Contudo, a figura dos consrcios intermunicipais desenvolveu-se dissociada da institucionalizao jurdica, pois foram constitudos em sua ampla maioria como associaes civis sem fins econmicos, o que influenciou no modo de funcionamento dessas experincias constitudas desde a dcada de 1980. A Lei no 11.107/2005, que alterou o artigo 241 da Constituio Federal de 1988, intentou possibilitar aos consrcios a ampliao de seu potencial de atuao, pondo fim sua fragilidade institucional; ainda, permitindo sua constituio como pessoas jurdicas na figura de um consrcio de direito pblico ou de direito privado, buscou garantir, entre outras questes, o cumprimento das obrigaes assumidas entre os participantes e permitir a participao dos trs nveis da Federao. Sendo resultado de um contnuo processo de articulao em prol de sua regulamentao, a primeira Lei dos Consrcios Pblicos representou a tentativa de aprimoramento do modelo de federalismo cooperativo no Brasil.
3
No entanto, as possibilidades colocadas disposio dos consrcios em funcionamento pelo pas, ou ainda no foram utilizadas como fonte de recursos para algumas experincias, ou tm ocorrido a uma velocidade mais lenta do que se esperava. Devido a esta alterao, no mbito do Direito que contemplou demandas antigas de diversas entidades ligadas ao tema , sups-se que a lei representaria um motor para o desenvolvimento de novas experincias de consorciamento bem como para o aperfeioamento das entidades j estabelecidas, que adotariam a nova personalidade de consrcio pblico tanto de direito pblico como de direito privado , mudana esta necessria para que o consrcio fosse destinatrio do rol de benefcios listados anteriormente. Na contramo da viso dos especialistas do assunto, que vislumbraram o impacto da nova legislao desta maneira, possvel identificar experincias que no adotaram esta nova figura jurdica, e outras que tampouco avanaram na discusso acerca dessa adaptao. Dessa maneira, compreender de que modo os consrcios pr-existentes Lei n 11.107/2005 tm incorporado e reconhecido as possibilidades dispostas por esse novo marco legal apresenta-se como um estudo pouco explorado, e constituir o norte principal da discusso neste trabalho. Para conduzir tal discusso, este trabalho ser divido em quatro partes. Na primeira delas ser apresentada uma breve trajetria da Lei de Consrcios Pblicos no contexto brasileiro. Em seguida, ser apresentada um estudo comparativo do volume de experincias de consrcios no Estado de So Paulo entre os anos de 2005 e 2010, para que, na terceira parte deste trabalho seja apresentado um panorama da situao jurdico dos consrcios existentes atuantes na rea de desenvolvimento scio-econmico. Esses dados foram obtidos atravs da compilao de informaes advindas de rgos competentes como o Centro de Estudos em Administrao Municipal (Cepam) e atravs de contato com os consrcios em questo. Por ltimo, ser apresentada uma investigao emprica a respeito do processo de discusso a respeito da adaptao Lei no interior das atividades Consrcio de Desenvolvimento da Regio de So Joo da Boa Vista (Conderg) que representa um caso ilustrativo do processo em que se d a discusso da lei no funcionamento das entidades, e que auxiliam na compreenso da existncia ou no de desafios adequao do formato jurdico institucional dessas entidades a esse novo marco legal.o
4
BREVE HISTRICO DA LEI DE CONSRCIOS PBLICOS NO CONTEXTO BRASILEIRO Originrio das experincias de consrcios do setor privado, que correspondiam associao de empresas autnomas para a realizao conjunta e temporria das mais diversas atividades da vida econmica do pas, a figura dos consrcios tradicionais, ou seja, as associaes civis, teve sua previso jurdica enquadrada nos moldes dos convnios, sem atendimento s particularidades tpicas do setor pblico: sujeio a mecanismos de controle externo mais rgidos, dotao oramentria para a destinao dos recursos, publicizao, entre outras. At 1987, os consrcios eram vistos ainda como acordos de colaborao inseguros, sem garantia de permanncia e de obrigaes assumidas, mesmo com sua evoluo crescente a partir das eleies de 1982, no governo Montoro. Nesse mesmo ano, j eram 43 entidades consorciadas, que compreendiam no total 355 municpios no estado de So Paulo; no entanto, a previso legal que correspondia constituio dos consrcios era o ajustamento de convnios entre municpios, que dessa maneira respondia apenas como um consrcio administrativo (DIAS, 2006). Com o contexto da redemocratizao, apesar do no reconhecimento jurdico dos consrcios na Constituio de 1988, a poltica nacional de sade, que previu a constituio de consrcios para o fornecimento de servios de sade, propiciou o considervel aumento desse tipo de arranjo, o que impulsionou a demanda pelo aperfeioamento dessas experincias, diga-se, sua regulamentao. Uma das razes para esse descompasso entre o crescimento das experincias de consrcios intermunicipais e sua proteo jurdica apontada por Ribeiro (2007): o desequilbrio entre o discurso municipalista e a prtica governamental nos perodos militar e de redemocratizao. Se, no regime militar, o discurso municipalista atendia ao propsito de servir como sustentao poltica, no perodo de redemocratizao, com a permanncia de governos conservadores, voltava-se ao atendimento das demandas locais. Dessa forma, os consrcios tanto poderiam transformar-se em focos de poder, disputando o apoio das oligarquias locais com o governo central, como poderiam transformar-se em um instrumento que prejudicaria o estmulo espontneo dos prefeitos pela reivindicao de demandas locais, bloqueando as estratgias clientelistas que tambm se mantiveram presentes.
5
Esse
atraso,
contudo,
no
inviabilizou
o
surgimento
de
novas
experincias. Ao contrrio, mesmo com as dificuldades j adiantadas, a partir dos anos 1990, o surgimento de consrcios em outras reas como meio ambiente, aquisio de equipamentos, informtica, resduos slidos como caso paradigmtico do Consrcio do ABC , cresceram vertiginosamente, mas principalmente na rea da sade. Esse crescimento, aliado ao esforo de lideranas polticas envolvidas nessa temtica, como Celso Daniel1, constituram-se em uma forma de presso na negociao da aprovao do artigo 247 da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) no 173/1995, que manifestava a expectativa de introduzir
constitucionalmente novos formatos institucionais para a gesto cooperada entre municpios, estado e Unio. Apesar de sua aprovao na PEC no 173/1995, o artigo 247 foi suprimido quando da aprovao da Emenda Constitucional (EC) n o 19/1998, denominada Reforma Administrativa do Estado, e, em meio nova redao, foi aprovado o artigo 241 da Constituio Federal, que contemplou a possibilidade de constituio de consrcios pblicos. Contudo, o reconhecimento de tal possibilidade, segundo Dias (2006), era desnecessrio, j que a criao de consrcios dependia exclusivamente de aprovao dos entes interessados, com base no princpio da autonomia. O que se esperava solucionar eram os principais entraves enfrentados pelos consrcios j em funcionamento pelo pas: dificuldades para obteno de recursos externos, impossibilidade na prestao de servios de competncia exclusiva do poder pblico, ausncia de orientao jurdica que regulamentasse a obrigatoriedade no cumprimento das obrigaes financeiras assumidas pelos municpios e, sobretudo resultado dessas questes , dificuldades para exercer atividades de mdio e longo prazo, baseadas no planejamento das aes, dado que os municpios poderiam deixar de participar do consrcio sem cumprir com as responsabilidades anteriormente assumidas.1
Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), prefeito de Santo Andr (1989-1992, 1997-2000 e 20012002), deputado federal (1994-1996) e primeiro presidente do Consrcio Intermunicipal do ABC.
6
Nesse sentido, a aprovao do artigo 241 no era suficiente j que as reivindicaes pela sua regulamentao permaneciam em aberto. Foi apenas em 2003, j no Governo Lula, que o Executivo federal demonstrou disposio em atender s demandas pela regulamentao do artigo 241, principal questo a ser solucionada que foi apresentada pela Carta do ABC documento assinado pelos prefeitos das sete cidades integrantes do Consrcio do Grande ABC. Essa transmisso de interesses dos prefeitos ao Executivo federal em prol da regulamentao do artigo 241 da CF 88 parece indicar que tambm foi resultado dos trabalhos realizados pelo Comit de Articulao Federativa (CAF), constitudo em 20032 a partir da assinatura de um protocolo de cooperao entre o governo federal, por intermdio de Jos Dirceu (PT), poca ministro-chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica, e as entidades nacionais de representao de municpios, durante a Sexta Marcha a Braslia em Defesa dos Municpios, realizada em maro de 2003 e que teve como tema O papel dos municpios no pacto federativo e a reforma tributria (MONTENEGRO, 2003). Composto por nove representantes do governo federal e trs representantes das entidades nacionais de representao de prefeitos Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Confederao Nacional de Municpios (CNM) e Associao Brasileira de Municpios (ABM) , o objetivo de trabalho defendido pelo CAF em 2003 era coordenar a interlocuo entre o governo federal e os municpios, para tratar de temas que perpassavam as relaes interfederativas e as aes de interesse comum entre a Unio e os municpios. Entre temas como reforma fiscal e tributria, estava a proposta de dar encaminhamento ao projeto de lei que fixaria normas para a cooperao entre a Unio e os municpios. (LOSADA, 2008). Originrio dessas reivindicaes, o Projeto de Lei no 3.884 foi submetido ao Congresso Nacional em 30 de junho de 2004, quase cinco anos aps a promulgao da EC 19, sendo alvo de intenso debate, alicerado em dois campos de resistncia: jurdico e poltico. De um lado, juristas em debate acerca dos fundamentos e possveis inconstitucionalidades da Lei e de outro, representantes polticos oposicionistas como Fernando Henrique Cardoso PSDB (CARDOSO apud DIAS, 2006, p. 104), o2
Em 2007, por meio do Decreto n 6181, de 3 de agosto de 2007, o CAF foi institudo no mbito da Secretaria de Relaes Institucionais da Presidncia da Repblica. Alm do ministro de Relaes Institucionais, participam do CAF 18 ministrios e 3 entidades de representao nacional dos municpios: CNM, FNP e ABM (BRASIL, 2007).
o
7
deputado federal Walter Feldman DEM (FELDMAN apud DIAS, 2006, p. 105), que apresentaram argumentos que defenderam que a Lei viria a instaurar a centralizao dos poderes nas mos da Unio, retirando do Estado sua importncia na coordenao federativa. Assim, entre outras exposies contrrias votao da matria, o resultado foi o arquivamento do Projeto de Lei n o 3.884/2004 e o aproveitamento de seus conceitos principais em um projeto j em andamento desde 1999, de autoria do deputado federal Rafael Guerra, que j havia sido aprovado pela Cmara dos Deputados e estava em tramitao no Senado Federal. Desse modo, o Projeto de Lei no 1.071/1999 deu origem Lei no 11.107/2005, que promulgada em abril de 2005 dispe sobre normas gerais de contratao de consrcios pblicos e d outras providncias (BRASIL, 2005). Do ponto vista analtico, a Lei no 11.107/2005 representou, tanto aos consrcios pblicos j existentes como aos municpios interessados em constituir tal arranjo e aos demais entes federados, a possibilidade de aperfeioar os reais propsitos dos consrcios pblicos. Podemos observar, inclusive, que a Lei n o 11.107/2005, ao incluir em seu escopo algumas inovaes, sendo elas a possibilidade de se constiturem consrcios entre os trs entes da federao, pretendeu atender s demandas preconizadas pela concepo do federalismo cooperativo, aprimorando o federalismo brasileiro. A possibilidade de se constiturem arranjos de cooperao tambm entre nveis distintos possibilitou contribuir com as possibilidades de viabilizao de maior coordenao das polticas pblicas, compartilhando responsabilidades de acordo com as competncias de cada ente, de modo mais flexvel e dinmico. Vale destacar que a lei no gerou para as entidades anteriormente constitudas a obrigatoriedade de adotarem uma nova personalidade jurdica de direito pblico, mas sim assumirem a personalidade de associao civil de direito privado sem fins econmicos (consrcio pblico de direito privado), respeitando todas as normas do direito pblico que regem os consrcios constitudos aps a Lei.
8
ANLISE COMPARATIVA DO VOLUME DE EXPERINCIAS DE CONSRCIOS 2005 2010 Com o objetivo de observar o comportamento dos consrcios diante da Lei de Consrcios utilizamos como base de dados referencial dois levantamentos realizados pela Fundao Prefeito Faria Lima junto ao Centro de Estudos e Pesquisas de Administrao Municipal (Cepam), cujo objetivo foi atualizar e coletar dados sobre os consrcios pblicos e as formas de cooperao municipal na articulao de polticas pblicas no estado de So Paulo. O primeiro, realizado em 2005 procurou identificar as experincias de consrcios em funcionamento e suas respectivas reas de atuao e o segundo, realizado entre os meses de julho e setembro de 2010, apresentou informaes relevantes para a avaliao do impacto da Lei nessas experincias. A divulgao do levantamento apresentou as seguintes informaes: nome do consrcio, atuao, estado3, nmero de municpios participantes, forma de contato (endereo, telefone, e-mail, site, presidente atual) e sua personalidade jurdica. Alm disso, permitiu a comparao no volume de experincias entre os anos de 2005 e 2010:
3
O levantamento envolveu a coleta de informaes no estado de So Paulo, mas foram identificados consrcios constitudos por mais de um estado.
9
rea de atuao Agricultura Desenvolvimento socioeconmico (1) Informtica Infraestrutura Meio ambiente Sade Segurana alimentar Turismo Total Recursos hdricos Resduos slidos
2005 1 14 1 75 10 5 13 3 2 124
2010 13 1 54 (2) 7 4 (3) 17 3 6 105
Quadro 1 Comparao dos consrcios por rea de atuao 2005-2010 no estado de So PauloFonte: (CRUZ, 2005, p. 10; CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAO MUNICIPAL, 2010). (1) Os consrcios identificados no levantamento de 2010 e denominados como de Desenvolvimento scioeconmico e outras reas, foram includos no Quadro 1 como atuantes nas reas adjacentes, com o objetivo de comparar de modo equivalente os resultados do levantamento de 2005. (2) O levantamento de 2010 incluiu o Consrcio de Desenvolvimento da Regio de So Joo da Boa Vista (Conderg) em duplicidade, como se fossem dois consrcios: um atuante na rea de desenvolvimento socioeconmico e sade e outro na rea de infraestrutura. Atualmente, e j no perodo da coleta dos dados, o Conderg atua nas duas reas, porm sob a estrutura de um nico consrcio, que administra as aes das duas reas. (3) O levantamento no inclui na base de dados o Consrcio Intermunicipal para Aterro Sanitrio (Cipas). Diante disso, ampliamos o nmero de experincias na rea de meio ambiente/resduos slidos.
Comparando o nmero de experincias identificadas entre os anos de 2005 e 2010, ficou demonstrada uma reduo de 15,3% no nmero de consrcios em funcionamento. Essa reduo apresenta-se, grosso modo, como resultado da diminuio significativa (28%) no nmero de consrcios voltados para aes de infraestrutura. Isso talvez se explique pela vinculao da maioria dos consrcios identificados em 2005 ao Programa Pr-Estradas, do governo do estado, desenvolvido em 2000 e que induziu a formao de consrcios entre os municpios para viabilizar parcerias visando recuperao, construo ou manuteno de estradas vicinais, com a utilizao de patrulhas mecanizadas.
10
Esse programa veio a atender a necessidade da Secretaria da Agricultura do Estado de So Paulo de resolver a questo da recuperao da malha viria dos municpios. Dentro das competncias dos municpios estava a recuperao das estradas vicinais, o que no eram realizado por insuficincia de recursos. O governo do estado passou o recurso para a Secretaria de Agricultura, que comprou na poca 80 patrulhas mecanizadas, tendo destinado tais equipamentos Companhia de Desenvolvimento Agrcola do Estado de So Paulo (Codasp), sociedade de economia mista do governo do estado, para trabalhar com os municpios de maneira consorciada. Desta forma, incentivou-se a formao de consrcios para o recebimento dessas mquinas, por intermdio de convnios em que o valor dos maquinrios era descontado dos municpios diretamente do Fundo de Participao Municipal. De acordo com informaes obtidas com o auxlio de Emlio Bizon (PSB), prefeito de So Sebastio da Grama e presidente do Conderg que, como engenheiro florestal da Codasp, participou at o ano de 2005 da formulao e implantao do programa junto ao governo do estado de So Paulo e os municpios , o Programa Pr-Estradas vm sofrendo refluxo na participao dos municpios. De acordo com Bizon, o maior problema enfrentado pelos consrcios com esse programa est relacionado aos meios de contratao de mo de obra para sua execuo. Os consrcios, que a princpio contratavam de modo terceirizado os trabalhadores para operar as mquinas e gerir administrativamente o consrcio firmado, passaram a ter suas aes investigadas pelo Tribunal de Contas, dado que as contrataes eram realizadas sem processo seletivo. Esta alterao causou impedimentos para os consrcios. Um segundo motivo que, segundo Bizon, vem provocando a reduo das experincias dos consrcios vinculados a esse programa pode estar relacionado ao no cumprimento de duas promessas feitas pelos gestores do programa na poca. A expectativa, e orientao do programa, era de que essas mquinas, no trmino do seu pagamento e ao final de quatro anos, teriam suas mquinas repostas, evitando o uso de mquinas obsoletas. Porm, no foi isso o que aconteceu. (BIZON, 2011).
11
A segunda promessa, de acordo com o engenheiro, seria de que, ao final do pagamento das mquinas financiadas, elas seriam convertidas em patrimnio do consrcio. O no cumprimento dessa promessa pelo gestor do programa acabou diminuindo as expectativas de ver tal promessa cumprida. Essa reduo na participao, ainda que elevada, no implicou a reduo do peso do volume de experincias de consrcios intermunicipais no estado, onde mais da metade (51%) dos consrcios continuam atuando na rea de infraestrutura. Este ndice trs vezes maior que o volume de experincias atuantes nas demais reas. Isso leva a reconhecer, por um lado, o impacto e o peso da induo dos rgos governamentais sobre as articulaes cooperadas entre os municpios, ainda que os consrcios sejam identificados e reconhecidos nos mais diversos estudos como experincias originalmente voluntrias. Por outro lado, tambm demonstra o reconhecimento que o governo do estado de So Paulo, no perodo de 2000-2004, atribuiu a esse arranjo coordenado de aes entre os municpios, ainda que limitado a aes voltadas para a implementao de uma poltica pblica especfica. Alm do ocorrido na rea de infraestrutura, consrcios atuantes em outras reas tambm tiveram sua constituio induzida pelas instncias governamentais, como o caso dos consrcios de sade e desenvolvimento socioeconmico e segurana alimentar. J destacados
anteriormente, os consrcios voltados especificamente para a rea da sade vieram complementar as aes no mbito do SUS, no intuito de universalizar o atendimento rede bsica de sade. J os consrcios de segurana alimentar, denominados Consads, surgiram sob induo do governo federal no mbito das aes do Ministrio do Desenvolvimento e dos Programas de Combate Fome. Uma particularidade dessa modalidade de arranjo que, de modo diverso das demais experincias de consrcios identificadas, contam com a participao do Estado e da sociedade civil em sua estrutura organizacional. No que tange aos consrcios das demais reas, embora mantido certo equilbrio no nmero de experincias, as aes voltadas ao turismo e sade apresentaram crescimento, em detrimento das reas de meio ambiente e agricultura, que apresentaram queda.
12
ADAPTAO EM FOCO: RESULTADOS DA LEI E PROCESSO DECISRIO Em um segundo momento, de contedo bastante significativo para a compreenso deste trabalho, utilizou-se o mesmo levantamento para apoiar nosso objetivo central de compreender o processo de adaptao dos consrcios pblicos Lei no 11.107/2005, no que se refere aos dados obtidos em relao personalidade jurdica dos consrcios identificados no estado de So Paulo. Entre os resultados apresentados pelo levantamento, est o percentual de adaptao Lei dos consrcios atuantes na rea de desenvolvimento no Estado de So Paulo4:Tabela 1 Consrcios intermunicipais de desenvolvimento no estado de So Paulo por adaptao Lei no 11.107/2005 rea de atuao Turismo Desenvolvimento socioeconmico Desenvolvimento Segurana alimentar Sade Saneamento Total Sim 1 7 (%) 0,09 0,64 No 3 1 (%) 0,43 0,14 S/I 2 4 (%) 0,33 0,67 Total 6 13 (%) 0,24 0,52
0 2 1 11
0,00 0,18 0,09 0,46
3 0 0 7
0,43 0,00 0,00 0,29
0 0 0 6
0,00 0,00 0,00 0,25
3 2 1 25
0,12 0,08 0,04 1,00
Fonte: a autora, com base em: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAO MUNICIPAL, (2010).
A partir desse quadro, foi necessrio dar continuidade ao levantamento realizado, na medida em que o elevado percentual de dados sem informao da personalidade jurdica (25%) apresentou- se como uma limitao para observaes mais conclusivas.
4
Para evitar divergncias de informaes, ser apresentado o resultado parcial do levantamento realizado pelo CEPAM, tendo em vista que os resultados do levantamento j divulgado pela instituio, tm sofrido alteraes recentes em relao s experincias de adaptao Lei dos consrcios de infra estrutura.
13
Nesse sentido, realizamos contato com os consrcios identificados como sem informao, e apuramos algumas experincias para confirmar os resultados do levantamento apresentado, a fim de concluir tal estudo. Na realizao do levantamento, contatamos por via telefnica os gestores responsveis pela administrao do consrcio, como coordenadores e superintendentes, que, no exerccio de suas funes, possuem maior domnio das informaes e atividades do consrcio envolvido. Outro fator essencial relacionado a tal preocupao a importncia de levantar pistas ainda que iniciais acerca dos motivos que levaram no adaptao dos consrcios que se declararam como no convertidos em consrcio pblico. A partir desse novo levantamento, obtivemos o cenrio detalhado na tabela a seguir:Tabela 2 Consrcios intermunicipais no estado de So Paulo por rea de atuao e adaptao Lei no 11.107/2005 Levantamento complementar Adaptao/total de consrcios por rea rea de atuao Sim (1) Turismo Desenvolvimento Desenvolvimento socioeconmico Segurana alimentar Sade Saneamento Total 2 9 0 1 1 13 (%) 0,23 0,69 0,00 0,08 0,08 0,52 No (2) 4 4 3 1 0 12 (%) 0,33 0,33 0,25 0,08 0,00 0,48 1,00 25 6 13 3 2 1 25 Total
Fonte: a autora, com base em: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAO MUNICIPAL (2010). (1) Sim: adaptaram-se ou esto em processo de adaptao. (2) No: no se adaptaram ou esto em fase de dissoluo.
Entre os consrcios atuantes na rea de desenvolvimento scioeconmico, ser apresentado a seguir, a experincia de um arranjo dessa modalidade no Estado de So Paulo no qual foi conduzida uma investigao emprica a respeito de como o processo de discusso a respeito da possibilidade de adaptao nova legislao conduzido no interior dessas entidades.
14
O CONSRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO DE GOVERNO DE SO JOO DA BOA VISTA (CONDERG) Criado em 1985, o Conderg formado por 16 municpios: Agua, guas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolndia, Esprito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santo Antnio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, So Jos do Rio Pardo, So Joo da Boa Vista, So Sebastio da Grama, Tamba, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul (CONSRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO DE GOVERNO DE SO JOO DA BOA VISTA, 2011), correspondendo a aproximadamente 480 mil habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2011). Essa parceria entre os municpios da regio da Alta Mogiana construiu-se a partir dos estmulos do governo Franco Montoro (1983-1986) no estado de So Paulo, junto aos Escritrios Regionais e o Cepam, em meio a discusses a respeito do desenvolvimento econmico e social, identificando como principal ao para a busca da melhoria das condies de vida da populao a atuao voltada melhoria da infraestrutura dos mecanismos de assistncia sade. Atualmente, mesmo ficando em primeiro plano as atividades na rea da sade, o Conderg mantm ativas as aes voltadas revitalizao das estradas vicinais, vinculadas ao Programa Pr-Estradas, por meio da utilizao conjunta de patrulhas mecanizadas. O Conderg, que funciona sob a personalidade jurdica de associao civil sem fins econmicos desde sua fundao, contratou em 2007 um corpo jurdico assessor para estudar a possibilidade de adaptao, perodo em que acabou repercutindo uma srie de discusses a respeito do assunto, que envolveu sobremaneira:
A ausncia de orientao dos rgos superiores a respeito da aplicabilidade da lei aos consrcios em funcionamento, como relatou o Diretor Jurdico do Conderg, Dr. Rodrigo Molina:No comeo a gente achou que a adaptao era obrigatria. Ningum ainda tinha se pronunciado sobre o assunto. Quando a lei foi aprovada, ficaram muitas dvidas, principalmente quando a lei se referia impossibilidade de os consrcios no convertidos em consrcio pblico receberem recursos pblicos. A gente levou um susto. Ficou desesperado. A gente ficou esperando algum falar da lei e a veio um comentrio dizendo que os consrcios j constitudos poderiam continuar mantendo seus contratos. A a gente deu uma respirada e comeou a avaliar as possibilidades. (MOLINA, 2011).
15
O impacto social gerado pela adaptao: Uma questo peculiar o municpio onde est situado o Conderg. Em funcionamento desde 1985 e administrando o Hospital Regional desde 1987, 90% dos funcionrios do hospital via Conderg so muncipes de Divinolndia ou da regio, e os contratos regidos antes do ano de 2006 so provenientes de contrataes sem concurso. Adaptar o Conderg para a personalidade jurdica de consrcio pblico exigiria a resciso dos contratos atuais includo os contratos anteriores CF88 - e a abertura de concursos pblicos para o preenchimento das vagas, destinadas a qualquer interessado em participar, no sendo necessariamente muncipe ou morador da regio.
O impacto dos encargos trabalhistas: Apesar de o regime jurdico de consrcio pblico de direito pblico conceder iseno do pagamento de impostos federais, a adaptao ao novo regime jurdico ampliaria os encargos trabalhistas do Conderg, dentre eles a cota patronal, que no est no rol de alquotas isentas s instituies do setor pblico, colocando, assim, um dilema de avaliao custo/benefcio para a administrao do consrcio. Segundo Eliana Giantomassi, coordenadora do Conderg, o peso da cota patronal5 sobre o funcionamento do Conderg muito elevado, representando
aproximadamente R$ 150 mil/ms, o que tornaria invivel a manuteno do funcionamento do Conderg. Em 2004, o Conderg passou a pagar a cota patronal, mas a partir da concesso de uma liminar em 2005, o Conderg ficou isento de recolher esses tributos, baseada na defesa de que enquadra-se em uma instituio civil de assistncia social. Por isso, o Conderg vem se preparando para enquadrar- se nos moldes das entidades de sade e assistncia social, que, pela Constituio, possuem iseno de encargos trabalhistas.
5
Iseno previdenciria da cota patronal a permisso de no recolher ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) contribuio de 20% sobre a folha de pagamento dos salrios da entidade. Alm da exigncia de uma srie de requisitos para obter a iseno, a entidade deve possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistncia Social, por intermdio do Ceas (BRASIL, 2011).
16
Por isso, o Conselho de Prefeitos em exerccio, aprovou em 2009 a constituio de uma instituio paralela, que absorveria algumas atividades fim do Conderg as quais seriam transferidas e modificadas para um novo consrcio pblico, como por exemplo, a gesto do Programa Pr Estradas. Denominado Consrcio de Empreendedorismo da Alta Mogiana (Ceam), seu protocolo de intenes foi aprovado em 2009 pelos 16 municpios que fazem parte do Conderg, e est pendente de aprovao de duas Cmaras Municipais (Agua e Tobi). A criao de um consrcio como o Ceam dividiria as aes de desenvolvimento em duas vertentes. O Conderg, j em funcionamento, manteria suas aes focadas na rea da sade, com personalidade de associao civil de direito privado; e o Ceam, pendente de criao, focaria suas aes nas demais reas e absorveria o convnio Pr-Estradas, com a possibilidade de obter as prerrogativas dos consrcios com personalidade jurdica de consrcio pblico de direito pblico. De acordo com o presidente do Conderg: Vamos continuar com um consrcio com as garantias de manter as regalias, principalmente da cota patronal, e o Ceam tratando da questo do empreendedorismo (BIZON, 2011). Apesar da criao do Ceam ser colocada por seus dirigentes como uma vlvula de escape para o Conderg manter a iseno da cota patronal, uma matria veiculada a respeito da ratificao do protocolo de intenes pelos prefeitos evidenciou os objetivos dos Ceam enquanto canalizador de recursos pblicos via captao externa (CONSRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO DE GOVERNO DE SO JOO DA BOA VISTA, 2011).
CONSIDERAES FINAIS Os consrcios, constitudos ao longo de 40 anos, arraigaram-se pelo pas principalmente sob o formato de associaes civis, dotados de flexibilidade para funcionar de acordo com a dinmica local que se lhes apresentava, e construram um sistema complexo de regras, smbolos e condutas, ao mesmo tempo particular, uma vez que cada consrcio desenvolveu o modelo que melhor atendesse a suas necessidades, ainda que existam consrcios de setores especficos com formatos muito parecidos.
17
A experincia do Conderg demonstra, que o objeto em discusso a adaptao Lei - e a escolha em no adaptar-se, advm da escolha deliberada em no adaptar-se. Ainda que dotado de conhecimento, relativamente limitado, a respeito do contedo da lei, o consrcio tomou a deciso de no se adaptar, na medida em que adquiriu um roteiro institucional em que no vantajoso adaptar-se, seja por implicar mudanas administrativas mais profundas, seja porque no h interesse em levar adiante nenhum dos principais aspectos que a lei apresenta em seu teor: protocolo de intenes, contrato de rateio, finalidades, entre outros. Nesse sentido, no se reconheceu no que a lei lhes apresentou. Isso no significou que no foram reconhecidas vantagens na modalidade de consrcio pblico apresentada pela Lei. Pelo contrrio, j que foi constitudo um novo arranjo sob os moldes da Lei, que inclusive tm como uma de suas principais finalidades, a captao de recursos externos, ainda que tambm seja utilizado como uma alternativa para a soluo dos problemas relacionados aos encargos trabalhistas enfrentados pelo Conderg. Ao que tudo indica esses instrumentos que acompanham a lei podem no corresponder s necessidades dessas experincias. Nesse sentido, a formalidade e as especificidades que a lei apresenta ainda que positivas, por possibilitarem a consolidao de pactos mais resistentes a mudanas de gesto e divergncias polticas, bem como a aplicao das normas contbeis e fiscais a que se submetem as organizaes pblicas no se encaixam a consrcios que adquiriram formatos muito mais flexveis e sob um aparato jurdico voltado para entidades civis. Na verdade, o que a lei apresenta como alternativa para esses consrcios no sua transformao, mas sim sua dissoluo e a criao de um novo consrcio. A comear pelos documentos de constituio dos consrcios: o que a lei determina muito mais especfico que o simplificado estatuto que atualmente rege essas entidades. Compreender a lei outro desafio. Se para os juristas e advogados matria de debate, no ser diferente para os gestores e administradores pblicos. Por isso, a negao Lei em relao aos consrcios constitudos antes da Lei, ainda que seja um constrangimento resultante da dependncia da trajetria informal desses consrcios, tambm se explica pela trajetria da lei. O modo como a lei foi produzida distante da realidade dos mltiplos formatos existentes indica
18
que a lei no atendeu s especificidades no funcionamento desse grupo de experincias. Esse distanciamento da realidade demonstra como, de alguma maneira, a lei no levou em considerao uma srie de cenrios que poderiam ter sido construdos quando ela fosse sancionada, devido s implicaes de ordem poltica e administrativa nessas realidades. O comportamento de negao lei, representado por 48% dos consrcios de desenvolvimento scio econmico em funcionamento no estado de So Paulo e evidenciado pela experincia do Conderg aponta que, apesar de ter sido aplicada na maioria das experincias, a lei no representou vantagens unnimes para significativa parcela de experincias. Entre as vantagens e desvantagens que a lei apresenta, as segundas parecem prevalecer para tal grupo de experincias. Se, entre as vantagens, reside a possibilidade de obter mais recursos, maior garantia de que os membros cumpriro seus compromissos financeiros, e a possibilidade de se prestarem servios pblicos que antes eram prerrogativas apenas dos rgos pblicos, nas desvantagens residem os custos para essa modificao. Estes se localizam nos mais diversos espaos de deciso dos consrcios. Entre eles, repactuar vontades, interesses e competncias por meio do protocolo de intenes, que nem sempre um processo rpido. O envolvimento das Cmaras Legislativas potencializa os desafios no perodo de aprovao da constituio. A necessidade de realizao de concursos pblicos um fator relevante, na medida em que a cesso de funcionrios e os cargos via indicao poltica so os mais comumente utilizados. As mudanas nos processos administrativos: prestao de contas, alterao no recolhimento de impostos e dotao oramentria tambm se constituem como questes que alteram a dinmica de funcionamento desses arranjos.
19
REFERNCIAS BIZON, E. Entrevista concedida a Thamara Strelec. So Sebastio da Grama, 21 jan. 2011. Gravao sonora em arquivo MP3. BRASIL. Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispe sobre normas gerais de contratao de consrcios pblicos e d outras providncias. Braslia, DF, 2005. Disponvel em: . Acesso em: 31 dez. 2010.
______. Decreto-Lei n 6.181, de 3 de agosto de 2007. Institui o Comit de Articulao Federativa CAF. Braslia, DF, 2007. Disponvel em: . Acesso em: 1 fev. 2011.
______. Ministrio da Previdncia Social. Iseno previdenciria. Disponvel em: . Acesso em: 22 jan. 2011.
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAO MUNICIPAL. Levantamento consrcios pblicos no Estado de So Paulo. So Paulo, 2010. Disponvel em: . Acesso em: 14 dez. 2010.
CONSRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO DE GOVERNO DE SO JOO DA BOA VISTA. Prefeitos do Conderg se renem para discutir assuntos de interesse regional. Disponvel em: . Acesso em: 31 jan. 2011.
CRUZ, M. do C. M. T. Cooperao intermunicipal: a experincia do estado de So Paulo, Brasil. In: CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIN PBLICA, 10., 18-21 out. 2005, Santiago do Chile. Anais eletrnicos... Disponvel em: . Acesso em: 31 jan. 2011. p. 1-11.
DIAS, S. G. Possibilidades jurdico-institucionais dos Consrcios Pblicos. 2006. Tese (Doutorado em Direito) Faculdade de Direito, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2006.
20
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA, 2011.
LOSADA, P. R. O Comit de Articulao Federativa: instrumento de coordenao e cooperao intergovernamental de polticas pblicas no Brasil. In: Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, 13., 4-7 nov. 2008, Buenos Aires. Anais eletrnicos... Disponvel em: . Acesso em: 22 jan. 2011
MOLINA, R. Entrevista concedida a Thamara Strelec. Divinolndia, 21 jan. 2011. Gravao sonora em arquivo MP3.
MONTENEGRO, C. Instalado comit de articulao e pactuao federativas. Agncia CNM, 9 abr. 2003. Disponvel em: . Acesso em: 1 fev. 2011.
RIBEIRO, W. A. Cooperao federativa e a Lei de Consrcios Pblicos. Braslia, DF: Confederao Nacional dos Municpios, 2007.
21
___________________________________________________________________AUTORIA Thamara Caroline Strelec Publicitria e Mestre em Administrao Pblica pela Escola de Administrao de Empresas de So Paulo da Fundao Getlio Vargas (FGV/EAESP). docente da Universidade Bandeirante de So Paulo e do Centro Universitrio Anhanguera de Campinas/SP. Endereo eletrnico: [email protected]
CONSRCIOS INTERMUNICIPAIS PAULISTAS RUMO AOS CONSRCIOS PBLICOS REFLEXES
Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz Ftima Fernandes de Arajo
Painel 01/003
Consrcios Intermunicipais: legislao e experincias concretas
CONSRCIOS INTERMUNICIPAIS PAULISTAS RUMO AOS CONSRCIOS PBLICOS REFLEXESMaria do Carmo Meirelles Toledo Cruz Ftima Fernandes de Arajo
RESUMO Com o objetivo de identificar os consrcios existentes no Estado de So Paulo e sua adequao Lei Federal 11.107/2005 (Consrcios Pblicos), a Fundao Prefeito Faria Lima Cepam realizou levantamento nos 645 municpios paulistas, entre junho e setembro de 2010. Foram identificados dados cadastrais, finalidade, municpios participantes, regio administrativa, entre outros. O levantamento teve como roteiro metodolgico o envio, por e-mail, de uma base de dados do Cepam, originada em 2006, para atualizao pelos municpios. As informaes obtidas foram disponibilizadas no site do Cepam e na Rede CIM, para possvel complemento pelos gestores municipais. Posteriormente, foram encaminhadas s secretarias de Estado para indicar novos consrcios. Dentre os 105 consrcios identificados, h 31 adaptados Lei de Consrcios Pblicos, ou seja, se transformaram em consrcios pblicos. Os demais no se adequaram nova lei ou os gestores no possuem informaes sobre o marco legal. O texto finaliza com hipteses sobre os motivos da adaptao ou no nova lei.
2
1 INTRODUO A Fundao Prefeito Faria Lima Cepam, rgo do governo do Estado de So Paulo, tem como misso fortalecer os municpios. Para tanto, realiza estudos e pesquisas1 e assessora municpios em todas as reas das polticas pblicas e gesto. Ao longo das ltimas dcadas, vem apoiando a formao de consrcios intermunicipais, bem como outras formas de cooperao intermunicipal
(associaes, agncias, etc.). A cooperao entre as unidades federativas permite somar esforos para maximizar os meios empregados e uma alternativa para promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos muncipes. A Constituio Federal e as leis que a regulamentam preveem, dentro do pacto federativo, a cooperao tcnica e financeira da Unio e do Estado com os municpios. Este texto focar a anlise nos consrcios formados pelos municpios, uma forma organizacional de cooperao destinada a solucionar problemas e obter resultados conjuntos de natureza superior s capacidades poltica, financeira e operacional individuais dos municpios. So criados a partir da vontade dos seus partcipes Unio, Estados/Distrito Federal e municpios para realizar suas tarefas constitucionais e gerir seus prprios servios, de maneira a alcanar o desenvolvimento da sua populao. H consrcios que prestam servios aos municpios (clnicas de especialidades mdicas, plantio de rvores, reflorestamento, aterro sanitrio, fornecimento de mquinas agrcolas, etc.) e outros que realizam a articulao entre os municpios, com o Estado ou a Unio. Este texto contm um breve histrico dos consrcios e os resultados do levantamento realizado2, de junho a setembro de 2010, sobre os consrcios intermunicipais/pblicos que envolvem dois ou mais municpios. Esto identificados aqueles cuja organizao surgiu a partir da iniciativa municipal e j esto institucionalizados.
1 2
As pesquisas esto disponveis em: www.cepam.sp.gov.br O levantamento foi realizado por Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz e Marinez Monteiro. A tabulao dos dados contou com a contribuio de Romulo Augustus Falco, estagirio do Cepam. As autoras agradecem as colaboraes jurdicas de Mariana Moreira e Jos Carlos Macruz.
3
No so tratados aqui os Comits de Bacias Hidrogrficas, rgos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, as agncias
metropolitanas de desenvolvimento, as mesorregies de desenvolvimento, criadas pelo governo federal, e as regies metropolitanas criadas por iniciativa dos governos estaduais. Tambm no esto discutidas as informaes sobre as demais formas de cooperao intermunicipal, como as agncias intermunicipais de desenvolvimento, as fundaes intermunicipais, as associaes de municpios, etc. So destacados o mapeamento dos consrcios no Estado de So Paulo, as reas de atuao dos mesmos, as regies atendidas e se esses arranjos organizacionais se adequam nova Lei dos Consrcios Pblicos (Lei federal 11.107/2005) e ao decreto que a regulamenta (Decreto federal 6.017/2007).
2 BREVE HISTRICO DOS CONSRCIOS Os consrcios intermunicipais passam a ser organizados, principalmente nas dcadas de 1980 e 1990, como parte da estratgia de descentralizao de algumas polticas pblicas3. Um exemplo se localiza no Estado de So Paulo, com o ento governador Andr Franco Montoro (1983 a 1986), que, ao gerir o Estado, incentivou a criao e implementao de consrcios. Na poca, optou-se por promover a cooperao intermunicipal por meio de associao com personalidade jurdica prpria e de direito privado nos casos em que havia a prestao de servios e a necessidade de recursos. Criou-se uma figura nova, com personalidade jurdica de direito privado, mas com partcipes pblicos os municpios. Essa forma foi chamada de consrcio administrativo e se constituiu como um ajuste celebrado entre duas ou mais pessoas jurdicas de direito pblico de mesmo nvel, ou entre entidades da administrao indireta, com objetivos comuns. Regido pelo Cdigo Civil, segue os princpios da Administrao Pblica.3
Segundo Ana Thereza Junqueira, a ideia de consorciamento j constava da Constituio paulista desde 1891. Os consrcios intermunicipais existem em So Paulo desde a dcada de 1960 e o mais antigo o Consrcio de Promoo Social da regio de Bauru, criado na dcada de 1960, e o Consrcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraba (Codivap), da dcada de 1970. A Emenda Constitucional 1/69 tambm previa a cooperao entre entes da Federao, por meio de convnios para a execuo de suas leis, servios ou decises, por intermdio de funcionrios federais, estaduais ou municipais.
4
A operacionalizao do consrcio intermunicipal era feita, basicamente, por meio da disponibilizao de recursos materiais, humanos e financeiros prprios de cada municpio ou de outros parceiros (governos estaduais e federal, organizaes no governamentais, instituies internacionais, entre outras). Os consrcios intermunicipais assumiram, em sua maioria, a personalidade jurdica de associao civil sem fins econmicos4 e, aps serem constitudos pelos municpios, passavam a ter um estatuto prprio, inscrio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ) e demais formalidades necessrias ao registro de qualquer associao civil sem fins econmicos. Para sua manuteno, havia uma cota de contribuio financeira, obrigatria para todos os municpios envolvidos, de acordo com critrios estabelecidos em seu estatuto5. importante observar que, apesar da flexibilidade gerada por esse arranjo organizacional, muitos enfrentavam problemas por causa da fragilidade jurdica; natureza jurdica; relao com outros entes federados; falta de compromisso e responsabilidade de pagamento das contribuies municipais, gerando dficits; descompromisso com os acordos firmados entre os municpios; uso poltico; irresponsabilidade fiscal; entre outros. Por funcionarem, em sua maioria, com recursos pblicos, esse arranjo organizacional passou a ser analisado por vrios rgos do Executivo, Judicirio e Legislativo. Muitos Tribunais de Contas estaduais passaram a fiscalizar os consrcios, principalmente no incio da dcada de 1990. Vrios rgos pblicos no permitiam o repasse de recursos devido indefinio da natureza dessas organizaes. Esse movimento, juntamente com a necessidade de aprofundar o pacto federativo, culminou com a promulgao da Lei federal 11.107, de 6 de abril de 2005, conhecida como Lei dos Consrcios Pblicos, que estabelece normas gerais de contratao.
4
Ressalta-se que, antes da alterao do Cdigo Civil, os consrcios podiam ser sociedades e associaes e eram sem fins lucrativos, hoje, so denominados associaes sem fins econmicos. 5 Os critrios para composio do rateio podem ser definidos como um valor fixo, um valor proporcional populao de cada municpio, utilizao dos servios, participao de uma porcentagem do Fundo de Participao dos Municpios (FPM), do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS), do faturamento obtido, combinao de dois ou mais fatores, entre outros.
5
A Lei surge para regulamentar o artigo 241 da Constituio Federal, com a redao dada pela Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, que assim dispe:Art. 241. A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os municpios disciplinaro por meio de lei os consrcios pblicos e os convnios de cooperao entre os entes federados, autorizando a gesto associada de servios pblicos, bem como a transferncia total ou parcial de encargos, servios, pessoal e bens essenciais continuidade dos servios transferidos.
Com a Lei, o consrcio pblico institudo como: associao pblica, um novo arranjo organizacional; ou pessoa jurdica de direito privado. A Lei estabelece que o consrcio pblico constitudo por contrato entre os entes participantes e deve ser precedido de um protocolo de intenes determinando: a denominao, a finalidade, o prazo de durao e a sede do consrcio; a identificao dos entes da federao consorciados; a indicao da rea de atuao do consrcio; a previso de que o consrcio pblico associao pblica ou pessoa jurdica de direito privado sem fins econmicos; as normas de convocao e funcionamento da assembleia geral; o nmero, as formas de provimento e a remunerao dos empregados pblicos; entre outras. O contrato ser celebrado com a ratificao, mediante lei, do protocolo de intenes. O consrcio pblico, diferentemente da legislao anterior, deve adquirir personalidade jurdica de direito pblico, no caso de constituir associao pblica, ou de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislao civil. O consrcio pblico com personalidade jurdica de direito pblico integra a administrao indireta de todos os entes da Federao consorciados6. No caso de ter a personalidade jurdica de direito privado, observar as normas de direito pblico no que concerne realizao de licitao, celebrao de contratos, prestao de contas e admisso de pessoal, que ser regido pela Consolidao das Leis do Trabalho (CLT). A Lei dos Consrcios Pblicos um avano, pois, outrora, os arranjos institucionais eram formalizados sob uma legislao no especfica, a exemplo, dos dispositivos do Cdigo Civil, que disciplinam as associaes civis.
6
Alguns juristas entendem que passa a ser uma espcie de autarquia especial intermunicipal.
6
A nova Lei permite a participao de entes federados distintos 7, a responsabilidade solidria dos partcipes, o compromisso institucionalizado dos partcipes de assumir suas responsabilidades com o rateio das despesas, a possibilidade de licitao compartilhada, a ampliao dos valores licitatrios8, entre outras questes. Todavia, importante ressaltar que os consrcios administrativos anteriores Lei, e constitudos sob normas legais civis, podem permanecer como esto, ao lado dos consrcios pblicos. A readequao facultativa aos consrcios j existentes. Em 2007, foi publicado o Decreto federal 6.017 que regulamenta a Lei. Estabelece normas referentes a: objeto; objetivos; protocolo de intenes; contrataes; estatutos; regime contbil e financeiro; contrato de rateio; licitaes compartilhadas; concesso, permisso ou autorizao de servios pblicos ou de uso de bens pblicos; da retirada e excluso de ente consorciado; do contrato de programa; entre outros. No caso do Estado de So Paulo, o Tribunal de Contas do Estado, desde a dcada de 1990, j fiscaliza os consrcios e atualmente est vlida a Instruo 2/2008.
3 METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO O Cepam realizou o levantamento dos consrcios
intermunicipais/pblicos, de junho a setembro de 2010, para quantificar e atualizar dados cadastrais, dentre eles, o nome do consrcio, do presidente, rea de atuao/finalidade, municpio-sede, municpios participantes, se houve adequao Lei de Consrcios Pblicos, entre outras informaes. O levantamento tambm identificou novos consrcios, mas no qualificou as experincias e seus resultados.
7
Os consrcios pblicos permitem a participao da Unio e dos Estados, em conjunto com os municpios. Entretanto, a Unio somente participar de consrcios pblicos em que tambm faa o parte o Estado em cujo territrio estejam situados os municpios consorciados (Lei 11.107, art. 1 , o 2 ). 8 Os valores so o dobro para modalidades de cartas-convite, tomadas de preo e concorrncia, quando se tratarem de consrcios formados por at trs entes da federao e o triplo dos valores,quando forem formados por mais de trs entes da federao.
7
Os dados secundrios contidos na base de dados da Fundao, primeiramente, foram encaminhados a cada consrcio, por e-mail, e atualizados por sua equipe. Posteriormente, a relao foi disponibilizada no site do Cepam e na Clula de Inovao do Municpio Rede CIM9, e todos os municpios do Estado foram contatados, por e-mail, para atualizar as informaes. Apesar de todas as prefeituras possurem endereo eletrnico, o retorno foi de 20%. Os consrcios que no encaminharam as informaes foram contatados por telefone para que complementassem pendncias. Em alguns casos, em funo de dvida sobre a adequao do consrcio nova lei, foi solicitado o encaminhamento do estatuto para anlise. Muitos gestores no o forneceram no tempo estabelecido para o levantamento, e a equipe do Cepam considerou o campo sem informao. A lista atualizada foi encaminhada s secretarias estaduais para que identificassem outros consrcios que possuem convnio com as pastas. Foi verificado, na Secretaria de Assuntos Federativos da Previdncia da Repblica, rgo do governo federal responsvel pela articulao de temas interfederativos, se possua informaes sobre os consrcios paulistas. Alguns tcnicos e prefeitos de consrcios que mantiveram contato com o Cepam no perodo do levantamento tambm foram entrevistados. Em casos de dvidas quanto adequao foram solicitados aos consrcios os protocolos de inteno, estatutos e outros documentos, no fornecidos por todos contatados.
4 OS CONSRCIOS PAULISTAS O Cepam identificou 105 consrcios, que abrangem 536 municpios, dos quais 523 so paulistas (81,08% dos municpios do Estado de So Paulo)10, nove so de Minas Gerais e quatro do Rio de Janeiro (Mapa 1).
9
Clula de Inovao do Municpio Rede CIM uma rede social na Internet que funciona de forma aberta, colaborativa e participativa. Objetiva promover o debate sobre gesto e polticas pblicas, potencializar as aes de capacitao e estimular a interao e a troca de experincia entre prefeitos, vereadores, servidores pblicos, especialistas, pesquisadores das questes locais e cidados em geral. 10 O Estado de So Paulo possui 645 municpios.
8
Mapa 1: Municpios paulistas membros de consrcios intermunicipais/pblicos
H
trs
iniciativas com
abrangncia interestadual: uma envolve
municpios dos Estados de So Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e duas abrangem municpios paulistas e mineiros. Destes, um consrcio 11
de
desenvolvimento e dois so de meio ambiente com foco em recursos hdricos . No foi identificada nenhuma iniciativa com a participao do governo estadual ou da Unio. Os dados levantados apontam as Regies Administrativas de Registro, Sorocaba, Bauru e Araatuba como aquelas com maior nmero de consrcios por municpio. Apia, Barra do Chapu, Itaoca, Juquitiba, So Loureno da Serra e Penpolis so os municpios paulistas com mais participao em consrcios: so membros de cinco, criados, em sua maioria, nas dcadas de 1980 e 1990. Trs dos municpios esto na Regio Administrativa do Vale do Ribeira, conhecida pelo baixo11
So eles: Consrcio Cercanias, de desenvolvimento local; Consrcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundia, de Meio Ambiente/Recursos Hdricos; e Consrcio Intermunicipal do Rio Jaguari-Mirim, de Meio Ambiente/Recursos Hdricos.
9
ndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e pelas dificuldades financeiras. Dois fazem divisa com o Vale do Ribeira e historicamente trabalham juntos. A outra localidade Penpolis, sede de uma microrregio, conhecida pela cultura de cooperao intermunicipal dos prefeitos da microrregio na poca. A maioria dos municpios que participam de mais de cinco consrcios de pequeno porte (menos de 30 mil habitantes), com exceo de Penpolis12. H ainda 32 dos municpios (5% dos municpios do Estado) que participam de quatro consrcios; 66 (10%), de trs; 187 (29%), de dois; e 23213 (36%), de um. No participaram de consrcio 121 localidades (19%), concentradas principalmente nas Regies Administrativas de Santos, Barretos, Central e Presidente Prudente. Dos 523 municpios paulistas consorciados, 369 (71%) possuem menos de 30.000 habitantes, 56 (11%) tm de 30.001 a 50.000, 43 (8%) tm de 50.001 a 100.000, e 55 (10%) tm mais de 100.001 habitantes. A populao total abrangida com os municpios consorciados de 23.768.764 habitantes (58% da populao do Estado). Portanto, so, principalmente, as pequenas localidades (menos de 30 mil habitantes) que utilizam esse tipo de arranjo organizacional de parcerias intermunicipais para implementar polticas pblicas. O levantamento mostra similaridade na distribuio populacional do Estado, onde 71% dos municpios tm at 30 mil habitantes (Tabela 1).Tabela 1: Distribuio dos municpios paulistas, por porte populacional e populao Faixa Populacional (habitantes) 0 a 10.000 10.001 a 30.000 30.001 a 50.000 50.001 a 100.000 100.001 a 500.000 mais de 500.000 TotalFonte: IBGE, 201012 13
Quantidade de Municpios 279 179 64 48 66 9 645
% 43 28 10 7 10 1 100
Populao (habitantes) 1.374.057 3.167.236 2.545.681 3.352.637 13.340.269 17.472.280 41.252.160 3 8 6 8
%
32 42 100
A populao de Penpolis de 58.529 (IBGE, 2010). No esto includos os municpios mineiros e cariocas.
10
As Regies Administrativas com maior frequncia de municpios consorciados em relao ao total de municpios abrangidos so Registro, So Jos dos Campos, Franca, Campinas, Sorocaba e Bauru (Tabela 2). Observou-se que o nmero de consrcios decresceu 15% desde o ltimo levantamento realizado pelo Cepam, em 2005, pois, na poca, foram identificadas 116 iniciativas.Tabela 2: Quantidade de municpios existentes e consorciados, por Regio Administrativa Regio Administrativa Registro So Jos dos Campos Franca Campinas Sorocaba Bauru Araatuba Marlia So Jos do Rio Preto Ribeiro Preto So Paulo Presidente Prudente Central Barretos Santos Total Quantidade de Municpios 14 39 23 90 79 39 43 51 96 25 39 53 26 19 9 645 Quantidade de Municpios Consorciados 14 39 22 85 73 35 38 45 71 18 28 30 13 9 3 523 % 100 100 96 94 92 90 88 88 74 72 72 57 50 47 33 81
Os
105
consrcios meio
existentes meio
atuam
nas
seguintes hdricos,
reas: meio
desenvolvimento14;14
ambiente,
ambiente/recursos
H diversos conceitos de desenvolvimento na literatura econmica. Optou-se por adotar a rea de atuao/finalidade de desenvolvimento daqueles consrcios que possuem, em seus estatutos, essa denominao e cuja equipe entende que suas atividades promovem o desenvolvimento.
11
ambiente/resduos slidos, infraestrutura (explorao de pedreira e patrulhas mecanizadas), sade, informtica, segurana alimentar, turismo e saneamento ambiental (Tabela 3).Tabela 3: Quantidade de consrcios paulistas existentes, discriminados por rea de atuao rea de Atuao Infraestrutura Sade Desenvolvimento Desenvolvimento e turismo Meio ambiente/recursos hdricos Meio ambiente/resduos slidos Desenvolvimento e segurana alimentar Desenvolvimento e sade Desenvolvimento e saneamento ambiental Informtica Meio ambiente TotalFonte: Cepam, 2010
Quantidade de Consrcios 55 15 13 6 5 3 3 2 1 1 1 105
A maioria dos consrcios paulistas tem como finalidade atuar na rea de infraestrutura (55 consrcios). Desses, 54 (51% do total de consrcios) foram induzidos, a partir de 2000, pelo Programa Pr-Estrada, do governo estadual, que auxilia os municpios na conservao de estradas rurais, combatendo os processos erosivos e evitando o assoreamento de rios e mananciais15. H ainda 25 consrcios de desenvolvimento, 16 de sade, 9 de meio ambiente, 6 de turismo, 3 de segurana alimentar, 1 de saneamento ambiental, 1 de informtica. Os consrcios podem abranger mais de uma rea e, neste estudo, foram contabilizados em todas as reas envolvidas.
15
O consrcio do Pr-Estrada pode adquirir equipamentos como motoniveladora, p-carregadeira, retroescavadeira e trator de esteiras para uso coletivo, e os municpios-membros arcam com investimentos e custos de manuteno.
12
Ressalta-se que a atuao em saneamento ambiental nova e no aparecia no levantamento realizado em 2005. Sua criao deve estar associada promulgao da Lei Nacional de Saneamento Bsico (11.445/2007), que apresenta o consrcio como uma alternativa para a gesto de servios pblicos de saneamento. Os 105 consrcios paulistas tm, em mdia, 9,29 municpios-membros por iniciativa, mas esta composio diferenciada por rea de atuao. Os consrcios de infraestrutura, saneamento, meio ambiente e resduos slidos possuem, na sua maioria, menos de dez municpios-membros (Tabela 4). Seria importante refletir por que h poucas iniciativas de resduos slidos, tema de interesse e competncia municipal, e com perfil adequado a esse tipo de arranjo. J os consrcios de informtica e segurana alimentar possuem mais de dez municpios-membros. As reas de meio ambiente/recursos hdricos e segurana alimentar tm uma distribuio diferenciada; possuem, em mdia, 31,4 e 21 membros, respectivamente. Essa distribuio est muito vinculada ao objeto e finalidade de atuao.Tabela 4: Quantidade de consrcios, de municpios-membros (faixa), por rea de atuao rea de Atuao Quantidade de Consrcios 2 4 1 Desenvolvimento 2 1 3 Desenvolvimento e saneamento ambiental Desenvolvimento e sade 1 1 Desenvolvimento e segurana alimentar 2 Mais de 22 municpios 14 a 17 municpios 14 a 17 municpios 1 1 14 a 17 municpios 18 a 21 municpios Mais de 22 municpios 2 a 5 municpios 2 a 5 municpios Quantidade de Municpios-Membro (faixas) 2 a 5 municpios 6 a 9 municpios 10 a 13 municpios
13
1 3 Desenvolvimento e turismo 1 1 Informtica 1 17 Infraestrutura 37 1 Meio ambiente 1 1 Meio ambiente/recursos hdricos 1 3 2 Meio ambiente/resduos slidos 1 4 4 3 Sade 2 1 1 TotalFonte: Cepam, 2010
2 a 5 municpios 6 a 9 municpios 10 a 13 municpios 14 a 17 municpios 10 a 13 municpios 2 a 5 municpios 6 a 9 municpios 10 a 13 municpios 2 a 5 municpios 2 a 5 municpios 10 a 13 municpios Mais de 22 municpios 2 a 5 municpios 6 a 9 municpios 2 a 5 municpios 6 a 9 municpios 10 a 13 municpios 14 a 17 municpios 18 a 21 municpios Mais de 22 municpios
105
Os consrcios de desenvolvimento, segurana alimentar e meio ambiente/recursos hdricos so aqueles, proporcionalmente, com maior nmero de municpios-membros. Os de recursos hdricos esto vinculados s bacias hidrogrficas, que muitas vezes envolvem territrios extensos. Os de segurana alimentar, chamados de Consrcio de Segurana Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad), foram induzidos pelo governo federal e atendem a reas vulnerveis do Estado, que, normalmente, tm uma abrangncia grande. J muitos dos de desenvolvimento esto vinculados formao de regies (Vales do Ribeira e do Paraba e Alta Mogiana) ou microrregies.
14
O Consrcio Intermunicipal Tiet-Paran (CITP) tem o maior nmero de membros (68 municpios), abrangendo toda a calha dos rios Tiet e Paran. Os quatro menores so os consrcios intermunicipais de So Jos dos Dourados, Calgab, Cervo Barra Mansa e Integrao, com dois municpios participantes. Esses so de infraestrutura e foram criados com a induo do governo do Estado, por meio do Programa Pr-Estrada. Na poca de sua fundao tinham de seis a sete membros, mas no decorrer do seu funcionamento muitos se desligaram por problemas de custo ou de gesto. Trinta e um consrcios (30% das iniciativas) informam que se adaptaram Lei de Consrcios Pblicos (Tabela 5). Muitos ainda no se adequaram ou os gestores no possuem informaes sobre o novo marco legal.Tabela 5: Quantidade de consrcios existentes, adaptados Lei de Consrcios Pblicos, no adaptados e sem informao Sem Informao sobre a Adequao Lei 6 0 0 0 1 0 18 0 0
rea de Atuao
Quantidade
Adequados Lei
No Adequados Lei
Desenvolvimento Desenvolvimento e saneamento ambiental Desenvolvimento e sade Desenvolvimento e segurana alimentar Desenvolvimento e turismo Informtica Infraestrutura Meio ambiente
13 1 2 3 6 1 55 1
4 1 1 0 1 0 11 1 4
3 0 1 3 4 1 26 0 1
Meio ambiente/recursos 5 hdricos Meio ambiente/resduos 3 slidos Sade Total 15 105
1 7 31
0 4 43
2 4 31
15
Houve dificuldade em obter as informaes sobre a adequao lei. Muitos consrcios confundiam o conceito de consrcio pblico. Entendiam que apenas pelo fato de os participantes serem entes pblicos e seguirem as regras do direito pblico (municpios), o consrcio j seria pblico, sem o devido conhecimento dos conceitos trazidos pela Lei de Consrcios Pblicos. Os consrcios j existentes de meio ambiente, incluindo aqui os de resduos slidos e de recursos hdricos, so aqueles que os gestores afirmam mais terem se adequado Lei. importante ressaltar que alguns destes, com personalidade jurdica de direito privado, entendiam que j estavam adequados Lei mesmo sem ter feito alterao no estatuto, elaborado o protocolo de intenes ou o contrato de rateio. No levantamento desses casos foram considerados como readequados, pois possuam pareceres jurdicos que constatam a consonncia do estatuto existente com a nova Lei, a afastar qualquer ajuste. Essa questo exigir estudos aprofundados sobre os requisitos para a adequao. Os consrcios de sade, que at 2005 assumiam a personalidade jurdica de associao civil sem fins lucrativos/econmicos, so aqueles que, segundo seus gestores, mais se adequaram lei de Consrcios Pblicos, transformando-se em associao pblica. Uma hiptese para essa situao pode estar vinculada ao estabelecido no Decreto federal 6.017/2007, em seu artigo 39:A partir de 1 de janeiro de 2008 a Unio somente celebrar convnios com consrcios pblicos constitudos sob a forma de associao pblica ou que para essa forma tenham se convertido.o
Seguindo a orientao de alguns rgos federais, muitos consrcios com convnios com ministrios procuraram adequar-se Lei dos Consrcios Pblicos. Entretanto, essa exigncia ainda no est sendo implementada por todos os ministrios, o que tem possibilitado aos consrcios mais tempo para refletir sobre a sua modificao. O nico novo consrcio vinculado a saneamento ambiental j foi criado sobre os princpios da nova Lei e com a forma de associao pblica. Os arranjos organizacionais de turismo e de infraestrutura pouco se adequaram lei. Ao longo dos contatos telefnicos e das entrevistas, alguns consrcios informaram que esto analisando as vantagens e desvantagens dessa
transformao, bem como se a natureza das atividades j desenvolvidas so
16
inerentes a um consrcio pblico ou se devem ser desenvolvidas por uma associao civil. Alguns, cuja atuao basicamente de articulao poltica, avaliam que a readequao no diferenciar o trabalho realizado. Um avano na nova base legal que o novo arranjo, para ser institucionalizado, necessita de um planejamento maior por parte das equipes locais. A elaborao do protocolo de intenes exige definio clara e prvia dos objetivos, dos recursos necessrios, da forma de trabalho e de vrios aspectos da gesto, anteriormente sua criao. A prtica de planejamento, monitoramento e avaliao permanente ainda um desafio para muitos gestores, o que pode estar postergando a readequao. Outro aspecto que, apesar de ser um avano na Lei, preocupa alguns prefeitos a responsabilidade solidria, que poderia ser dirimida com discusses com os partcipes. A existncia de contratos de rateio ou de programa gera responsabilidades aos municpios, e os recursos destinados ao consrcio pblico devem ser incorporados aos instrumentos do processo oramentrio: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Oramentrias (LDO) e Lei Oramentria Anual (LOA). O entendimento de que esse arranjo organizacional uma autarquia intermunicipal tambm inspira cuidados de alguns gestores contatados. Eles apontam a necessidade de estudo financeiro para identificar o impacto desse tipo de estrutura sobre os gastos com pessoal, que no pode ultrapassar o limite de 54% da receita corrente lquida, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Como alguns consrcios so intensivos de mo de obra, h uma preocupao daquelas administraes cujos gastos esto prximos ao limite. O Cepam entende que esse tema exige reflexo tambm quando se tratar de consrcios pblico sob a forma de associao civil de direito privado. H consrcios16 compostos por municpios e outros atores (empresa, sociedade civil organizada, etc.) que no pretendem fazer a adequao Lei, pois entendem que a diversidade de atores tem contribudo para seus resultados e que a composio de consrcios pblicos, com a participao apenas de entes pblicos, restringiria suas aes previstas.
16
Estes so associaes que recebem o nome fantasia de consrcio.
17
CONSIDERAES FINAIS Observa-se que a Lei 11.107/2005 atende antigos anseios dos consrcios para que tivessem mais segurana institucional, inclusive de contratualizao entre si e com outros entes, uma vez que um dos maiores problemas era a impossibilidade de cobrana de partcipes que simplesmente deixavam de cumprir com suas obrigaes financeiras (rateios), fazendo com que os outros membros participantes se responsabilizassem pelas despesas, levando alguns consrcios, inclusive, a uma situao de insolvncia e inviabilidade. Outro item de reivindicao era sobre a possibilidade de os consrcios serem contratados com dispensa de licitao, o que foi contemplado na nova Lei, desde que pela administrao direta ou indireta dos entes da Federao consorciados. No obstante a Lei tratar de temas objeto de reivindicaes anteriores, observa-se, no levantamento realizado, que a maior parte dos consrcios existentes no se adequou Lei dos Consrcios, seja por desconhecimento das suas implicaes, por insegurana ou pela certeza de que no h vantagem em tal adequao. Como facultativo, importante identificar as motivaes para essa situao. Mesmo transcorridos mais de cinco anos da edio da Lei, o desconhecimento sobre as vantagens e desvantagens da adequao imenso e presente em todos os portes de municpios e consrcios. A promulgao da Lei 11.107/2005 e do Decreto 6.017/2007 trouxe perspectivas para o trabalho de cooperao intermunicipal e interfederativo que podero viabilizar iniciativas de ao conjunta que no seriam possveis nos formatos adotados anteriormente. H vantagens que devem ser divulgadas pelos rgos pblicos, tais como: Possibilidade de participao de entes das trs esferas de governo; Aumento dos valores para obrigatoriedade da modalidade de licitao; Dispensa de licitao para contratar com entes federados ou da administrao indireta; Reduo de valores de impostos; e Obrigatoriedade de contratualizao.
18
inegvel a importncia de aes conjuntas entre os entes da federao na busca de solues para as questes que no podem ser tratadas isoladamente ou que no se viabilizariam financeira, administrativa ou politicamente por um nico municpio. A colaborao cada vez mais uma alternativa de abordagem dos problemas comuns. Assim, torna-se imprescindvel o aprofundamento de estudos sobre as razes da pouca adeso nova lei, para que, em conjunto, os governos federal, estaduais e municipais encontrem os pontos de conflito, incompreenso ou de necessidade de mudana para que o instrumento Consrcio Pblico seja de fato um arranjo institucional vivel e eficaz para as polticas pblicas.
19
REFERNCIAS BORGES, Alice Gonzalez. Consrcios pblicos, nova sistemtica e controle. Revista Eletrnica de Direito Administrativo Econmico. n. 6, Salvador: Instituto de Direito Pblico da Bahia, maio/jun./jul. 2006. Disponvel em: . Acesso em: 15 mar. 2011.
BRASIL. Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispe sobre normas gerais de contratao de consrcios pblicos.
______. Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispe sobre normas gerais de contratao de consrcios pblicos e d outras providncias.
CRUZ, Maria do Carmo M. T. O Consrcio de Desenvolvimento da Regio de Governo de So Joo da Boa Vista: uma forma de resolver a sade conjuntamente. In: FUNDAO PREFEITO FARIA LIMA CEPAM. Coordenadoria de Gesto de Polticas Pblicas (Cogepp). Municpios paulistas em busca de novas prticas: as 12 finalistas do prmio Chopin Tavares de Lima novas prticas municipais. So Paulo, 2005. p. 99-110.
______. Consrcios intermunicipais. In: SPINK, Peter, BAVA, Silvio Caccia, PAULICS, Veronika (Orgs.) Novos contornos da gesto local: conceitos em construo. So Paulo: Instituto Plis e Programa Gesto Pblica e Cidadania Eaesp/FGV, 2002.
______. Cooperao intermunicipal: a experincia do Estado de So Paulo, Brasil. Congresso Internacional del Clad sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, 10., Santiago, Chile, 18-21 out. 2005.
CRUZ, Maria do Carmo M. T. Universalizao do acesso ao medicamento: a experincia da farmcia de manipulao do Consrcio Intermunicipal de Vale do Paranapanema Civap/Sade. In: FUNDAO PREFEITO FARIA LIMA CEPAM. Coordenadoria de Gesto de Polticas Pblicas (Cogepp). Municpios paulistas em busca de novas prticas: as 12 finalistas do prmio Chopin Tavares de Lima novas prticas municipais. So Paulo, 2005. p. 111-122.
DA CUNHA, Rosani Evangelista. Federalismo e relaes intergovernamentais: os consrcios pblicos como instrumento de cooperao federativa. Revista do Servio Pblico v. 55, n.3, p. 5-36.
20
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O Consrcio Pblico na Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Revista Eletrnica de Direito Administrativo Econmico, Salvador: Instituto de Direito Pblico da Bahia, n. 3, jul./ago./set. 2005. Disponvel em: < www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2011.
FARAH, Marta F. S. Parcerias, novos arranjos institucionais e polticas locais. In: FUNDAO KONRAD ADENAUER. Subsidiariedade e fortalecimento do poder local. Srie Debates, n. 6, So Paulo, 1995. FUNDAO PREFEITO FARIA LIMA Cepam. O municpio do sculo XXI: cenrios e perspectivas. So Paulo, 1999. p. 325-343.
______. Consrcio: uma forma de cooperao intermunicipal: estudos, legislao bsica e pareceres. Informativo Cepam, v. 1, n. 2. So Paulo, 2001.
______. Coordenadoria de Gesto de Polticas Pblicas (Cogepp). Municpios paulistas em busca de novas prticas: as 12 finalistas do prmio Chopin Tavares de Lima novas prticas municipais. So Paulo, 2005. 124 p.
JUNQUEIRA, Ana Thereza M. Consrcio intermunicipal, um instrumento de ao. Revista Cepam, So Paulo, v. 1, n. 2, abr./jun. 1990, p. 29-35.
______, CRUZ, Maria do Carmo Meirelles Toledo, MARCON, Maria Teresinha de Resenes. Cooperao intermunicipal na federao brasileira: os consrcios intermunicipais e as associaes de municpios. Atual: So Paulo: Fundao Konrad-Adenauer-Stiftung, 2002. 54 p. Documenta: Leituras de interesse local e regional, 1.
MACRUZ, Jos Carlos, MOREIRA, Mariana. Consrcios pblicos e convnios de cooperao. So Paulo, out. 2005. 18 p. Mimeografado.
SPINK, Peter. The intermunicipal consortia in Brazil: an institutional introduction. CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIN PBLICA, 10, Santiago, Chile, 18-21 out. 2005.
21
___________________________________________________________________AUTORIA Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz: administradora pblica e mestre pela Escola de Administrao de Empresas de So Paulo da Fundao Getlio Vargas (FGV-Eaesp), especialista em polticas pblicas e tcnica da Fundao Prefeito Faria Lima Cepam. Endereo eletrnico: [email protected] ou [email protected]
Ftima Fernandes de Arajo: administradora de empresas pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP), especialista em polticas pblicas e tcnica da Fundao Prefeito Faria Lima Cepam. Endereo eletrnico: [email protected]
Painel 01/001
Consrcios Intermunicipais: legislao e experincias concretas
COOPERAO INTERGOVERNAMENTAL EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO REGIONALLETCIA PINTO VINHAS JOO CARLOS DERZI TUPINAMB
RESUMO
O objetivo geral do trabalho identificar de que forma a cooperao intergovernamental pode colaborar para a elaborao de polticas pblicas integradas, promovendo a concretizao do federalismo cooperativo no pas. Nesse sentido, pretende-se investigar a contribuio das aes transversais para o fortalecimento de municpios e macrorregies, bem como para a diminuio dos desequilbrios verticais e horizontais caractersticos de uma federao. Para tanto, atravs de pesquisa explicativa, documental e bibliogrfica, apoiada em estudo de caso, ser analisado o Plano de Desenvolvimento Sustentvel das Regies Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro projeto integrante de Convnio celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro/ SEPLAG-RJ, o Municpio de Maca, o Municpio de Rio das Ostras e a Petrobras, no mbito do Programa de Desenvolvimento Social de Maca e Regies (Prodesmar). O estudo conclui que uma das possibilidades de contribuio da cooperao intergovernamental assemelha-se s prticas do caso estudado, em que so encontrados elementos de gesto compartilhada, alinhada s necessidades locais, com benefcios para a sociedade e demais stakeholders.
SUMRIO 1INTRODUO...................................................................................................... 03 2 OBJETIVOS......................................................................................................... 04 3 METODOLOGIA.................................................................................................. 04 4 JUSTIFICATIVA................................................................................................... 05 5 HIPTESES DE TRABALHO.............................................................................. 12 6 O CASO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO NORTE NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO................................................. 17 7 CONCLUSO...................................................................................................... 24 8 REFERNCIAS................................................................................................... 26 9 ANEXO I: Convite para o Lanamento do Plano de Desenvolvimento Sustentvel das Regies Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro: Agenda de Aes................................................... 31
3
1 INTRODUO A federao brasileira tem como caracterstica a forte assimetria entre os governos subnacionais, o que traz a necessidade de se planejar polticas capazes de corrigir ou minimizar as desigualdades entre estados e municpios do pas. As medidas que tm sido adotadas nesse sentido muitas vezes contemplam auxlio financeiro e administrativo, da Unio para estados e municpios ou entre os estados e os governos locais. No entanto, a efetividade das polticas transversais vai muito alm das meras transferncias de recursos. A fragilidade da coordenao federativa no Brasil demonstra a carncia de mecanismos de integrao governamental que possam: nivelar a qualidade da gesto pblica nos estados e municpios; reestruturar os mecanismos de transferncias, a fim de diminuir os desequilbrios verticais e horizontais; criar polticas estruturantes, voltadas para objetivos comuns e nacionais, que visem a um desenvolvimento sustentvel de longo prazo; e estimular a complementaridade de polticas pblicas, elaboradas nos diversos mbitos, e o compartilhamento (de experincias, solues, boas prticas de gesto, tecnologia, pesquisa e recursos), evitando a duplicao de esforos e o retrabalho. Os mecanismos de transferncias precisam ser acompanhados de aes estrategicamente planejadas, capazes de criar meios para potencializar a sociedade local e atrair novos investimentos privados, com intuito de minimizar as dependncias financeiras entre os entes polticos, bem como estimular meios de cooperao, integrao e sustentabilidade. Tais iniciativas podem ser observadas em experincias j realizadas nos consrcios, convnios e contratos de repasse, os quais procuram solues compartilhadas em benefcio da sociedade local, gerando tambm externalidades positivas para macrorregies e para a federao. Assim, pretende-se, com o estudo Cooperao Intergovernamental em Busca do Desenvolvimento Regional, analisar solues compartilhadas que colaborem para a transversalidade das polticas pblicas. Para tanto, ser analisado o Plano de Desenvolvimento Sustentvel das Regies Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido no mbito do Programa de Desenvolvimento Social de Maca e Regies - Prodesmar, a fim de se exemplificar algumas boas prticas de gesto integrada, focadas no desenvolvimento regional.
4
2 OBJETIVOS O objetivo geral deste estudo identificar de que forma a cooperao intergovernamental pode colaborar para a elaborao de polticas pblicas integradas, focadas no desenvolvimento regional, a partir do estudo de caso do Plano de Desenvolvimento Sustentvel do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Esse foi um projeto pioneiro, dentre um rol de aes inseridas no Prodesmar, por meio de parceria entre o governo do Estado do Rio de Janeiro (Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto), o Municpio de Maca, o Municpio de Rio das Ostras e a Petrobras. O plano, de longo prazo, tem como objetivo desenvolver outras potencialidades para a Regio, alm das j conhecidas, como a petrolfera, extrativa mineral e agricultura.
3 METODOLOGIA A metodologia empregada nesta anlise est baseada em uma pesquisa terica explicativa, documental e bibliogrfica, a qual pretende esclarecer quais elementos contribuem, de alguma forma, para a ocorrncia de fatores como: federalismo compartimentalizado versus cooperativo, repartio de competncias constitucionais; poltica social; polticas pblicas integradas; transferncias e
intergovernamentais; transversalidade.
cooperao
intergovernamental,
intersetorialidade
O campo heurstico foi organizado de forma que as teorias abordadas entrem em comunho com o tema do estudo, o qual trata da Cooperao Intergovernamental em Busca do Desenvolvimento Regional. Dessa forma, os autores selecionados, tais como Fernando Luiz Abrucio, Marta Arretche e Celina Souza, dentre outros, constituem o apoio terico essencial criao do trabalho. Pretende-se, por meio de uma reviso bibliogrfica, destacar os fatores capazes de potencializar polticas intergovernamentais e compreender essa forma de gesto a partir de um olhar analtico sobre a Carteira de Projetos, resultado final do Plano de Desenvolvimento Sustentvel do N/NO Fluminense.
5
O intuito desta anlise demonstrar, com auxlio de um caso concreto, a contribuio das polticas pblicas integradas, para a promoo do desenvolvimento regional. Tal estudo poder trazer grande contribuio para a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, bem como visibilidade para as aes voltadas para a cooperao intergovernamental, as quais tm sido desenvolvidas em parceria com a Petrobras e os Municpio de Maca e Rio das Ostras. Os resultados que so esperados, a partir da implementao do Plano supracitado, esto de acordo com os as variveis abordadas neste estudo, quais sejam: incentivar a atuao cooperada entre o Estado do Rio de Janeiro e seus municpios, visando a um desenvolvimento estruturado de longo prazo; minimizar as assimetrias existentes nas Regies Fluminenses; destacar a importncia da transversalidade e da complementaridade das polticas pblicas entre distintas instncias; tornar responsvel a utilizao das transferncias fiscais, bem como minimizar a dependncia dessas transferncias para que haja o equilbrio nas finanas pblicas.
4 JUSTIFICATIVA A Carta Magna de 1988 assegurou, como princpio administrativo, a descentralizao da execuo de servios sociais, infraestrutura e recursos oramentrios para os estados e municpios, a fim de promover racionalizao no uso de recursos. No entanto, a concesso de maior autonomia na realizao de servios e o favorecimento das unidades subnacionais caminham lentamente devido crena arraigada na cultura poltica brasileira de que cabe Unio promover diretamente o desenvolvimento social do pas1. Nota-se, ainda, certa dificuldade para descentralizao de encargos, ou seja, responsabilidade pela efetiva resposta dos entes subnacionais s demandas sociais, principalmente em virtude do desequilbrio entre as receitas dos estados e municpios, o que gera diferentes nveis de desenvolvimento, concentrao de renda e assimetrias.
1
BRESSER, 1995, p. 26.
6
Como observam Fbio Giambiagi e Ana Cludia Alm, a Constituio de 1988 (...) no previu os meios, legais e financeiros, para que se desenvolvesse um processo ordenado de descentralizao de encargos. Alm disso, a seguridade social e a educao, reas de atuao governamental onde h maior volume de atividades descentralizveis, foram contempladas com garantia de disponibilidade de recursos no nvel federal. (1999: 194). O processo traz, como subproduto, um descompasso ou desbalanceamento entre as atribuies e as capacidades de mobilizar recursos das distintas esferas da administrao pblica, penalizando a 2 instncia central de poder.
Alm disso, a CF/88 tambm modificou o cenrio de relaes intergovernamentais, gerando um federalismo compartimentalizado3, em que cada nvel de governo procura encontrar o seu papel especfico e no se incentiva o compartilhamento de tarefas e a atuao consorciada. Por um lado, percebe-se o fortalecimento dos municpios, que ganharam um status constitucional indito e receberam competncias prprias. Por outro, configurou-se uma frgil articulao intergovernamental, seja pela omisso, seja pelo despreparo dos entes para gerar polticas pblicas transversais articuladas.O resultado principal disso foi a municipalizao de vrias polticas pblicas, algo que retirou os governos estaduais da execuo direta de diversos servios, dando-lhes o papel de coordenao, financiamento suplementar ou de ao conjunta junto ao poder local tarefas que ainda no foram completamente digeridas pelos estados. Alm disso, a Constituio de 1988 e o front intergovernamental dos ltimos vinte anos produziram uma espcie 4 de federalismo compartimentalizado (Abrucio, 2005a).
Em tese, as garantias constitucionais de Estado federativo permitem que os governos locais estabeleam sua prpria agenda na rea social. Apesar disso, algumas reas de poltica pblica, as quais so definidas constitucionalmente como sendo de competncias comuns, concentram-se no governo federal, j que atribuem Unio os papis de principal financiador, bem como de normatizador e coordenador das relaes intergovernamentais. o caso, por exemplo, das polticas de sade, habitao e saneamento, ainda que com graus variados de distribuio daquela autoridade5.
2
CARNEIRO, Ricardo. Por onde passam as reformas tributria e da Previdncia: uma breve abordagem sob a tica da administrao estadual de Minas Gerais. Revista do Legislativo, n 36. Disponvel em Acesso em 04 de maio de 2011, s 17h40. 3 Segundo Abrucio (2006, p.4), Trata-se de uma situao na qual h poucos incentivos ao entrelaamento e compartilhamento de tarefas entre os nveis de governo, dificultando a articulao entre as vrias competncias comuns e concorrentes estabelecidas pela Carta constitucional. 4 Abrucio, F. L.; Gaetani, F. (2006), p. 4. 5 ARRETCHE, 2004, pp 29 e 30.
7
De certa forma, a concentrao de autoridade no governo federal apresenta vantagens para a coordenao das polticas no territrio nacional, pois reduz o risco de conflitos entre os programas e de elevao nos custos da implementao, riscos estes cuja ocorrncia mais provvel em Estados Federativos (Weaver e Rockman, 1993) 6 . Alm do mais, a concentrao do financiamento na Unio poderia gerar resultados redistributivos para os demais entes, minimizando as desigualdades horizontais de capacidade de gasto. Por outro lado, quanto maior o nmero de entes envolvidos na poltica desenvolvida pelo rgo central, maior a necessidade do controle da gesto dos recursos repassados 7 e de sua utilizao estritamente vinculada ao objeto dos programas e/ou projetos pelos entes polticos beneficiados. Sem contar com a iluso fiscal acarretada pelas transferncias fiscais e o efeito flypaper, que provoca maior expanso nos gastos pblicos municipais que o efetivo aumento de renda dos seus contribuintes.Outra razo aventada para o crescimento do governo diante da descentralizao fiscal seria o chamado efeito flypaper, que compara o impacto de mudanas nas rendas pessoais sobre os gastos pblicos locais, por um lado, com o efeito de mudanas nas transferncias fiscais sobre os mesmos gastos. Segundo Acosta (2004), este efeito representa a vontade de governos locais aumentarem os seus gastos em uma proporo maior, em funo de um aumento nas transferncias fiscais, do que quando a renda local aumenta a arrecadao pblica na mesma magnitude. Em resumo, o efeito flypaper representa a idia de que as transferncias intergovernamentais tendem a ser gastas nas jurisdies receptoras (expanso de gastos) ao invs de serem redistribudas entre os 8 contribuintes locais por meio da diminuio de impostos.
Alm da maior amplitude do controle, que requer mais esforos voltados accountability e auditoria de resultados, tal concentrao de recursos na Unio gera uma hierarquizao entre os entes governamentais, com o governo federal que nesse caso poderia chamar-se governo central comandando linearmente as finanas pblicas. Nada mais distante da soberania compartilhada que marca o federalismo.9 Uma poltica nacional pode favorecer a coordenao federativa, porm, uma poltica nacional condio necessria, mas no suficiente, para o xito do6 7
Id Ibiden, p 30. A aferio dos gastos, quanto legitimidade, legalidade e economicidade, monitorada em mbito interno e externo, de acordo com as premissas constitucionais constantes nos Arts. 70 a 75 da CF/88. 8 GASPARINI e GUEDES, 2007, p. 213. 9 ABRUCIO, 2005, p. 57.
8
processo de coordenao intergovernamental10. Caractersticas de alguns estados e principalmente de municpios - como a heterogeneidade do desenvolvimento scio