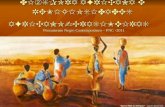História da Ciência como instrumento de reflexão metodológica no ensino de Biologia.
Da História Da Igreja à História Das Religiosidades No Brasil - Uma Reflexão Metodológica
description
Transcript of Da História Da Igreja à História Das Religiosidades No Brasil - Uma Reflexão Metodológica

DA HISTÓRIA DA IGREJA À HISTÓRIA DAS RELIGIOSIDADES NO BRASIL:
Uma reflexão metodológica.
IN: BEZERRA, Cunha Cícero. (Org.) Temas de Ciências da Religião. São Cristovão:
Editora da UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2008, p. 251-267.
Prof. Dr. Antônio Lindvaldo Sousa
Docente do Departamento de História e Líder do Grupo “História das Religiões,
religiosidades e Identidades” da UFS.
Orientando monografias na temática da história das religiosidades do Brasil,
percebemos o ressentimento de muitos alunos da quase inexistência de textos
metodológicos a fomentar novos direcionamentos de suas pesquisas. Indagam-se, por
exemplo, como estudar um visionário, um sacerdote “comum”, uma beata, entre outros
personagens que “manipulam” o sagrado. Como abordar a “trajetória de padres
considerados falsários” no período colonial? De que forma estudar um sacerdote visionário
internado como louco? Seria através da história eclesiástica conforme a concepção dos
historiadores ligados à Igreja Católica?
Nesse artigo pretendemos compreender alguns elementos centrais da História da
Igreja defendida pelos historiadores da própria Igreja Católica. Perceberemos com a
categoria “autocompreensão” é frequentemente usada como ferramenta principal em suas
análises. Apontaremos como essa História adentra no universo acadêmico da Universidade
de São Paulo/USP nos anos de 1980, através do professor Augustin Wernet. Indagaremos
até que ponto a abordagem que se apóia na categoria “autocompreensão” contempla
personagens mais anônimos, os esquecidos pela memória oficial. Em seguida,
dialogaremos com autores mais ligados ao domínio da História Cultural, remetendo a opção
do enfoque dos objetos de estudos não mais na História da Igreja, mas das “religiosidades”
no Brasil.

Desde 1963, o historiador Sérgio Buarque de Holanda apontava a importância de se
estudar o papel das instituições religiosas na vida brasileira, em diversos momentos de sua
história. Holanda tinha a convicção de que não era possível estudar determinadas questões
da História do Brasil “sem a exploração prévia e isenta de nossa história eclesiástica”.1 Em
1984 Oscar Beozzo seguiu a mesma observação de Holanda. Para Beozzo os livros de
História ignoram a importância da Igreja na História do Brasil. 2
Três anos depois dessas observações de Beozzo, o historiador da Universidade de
São Paulo /USP, Augustin Wernet, publicou “A Igreja Paulista no século XIX. A
Reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-1861)”. Trata-se de uma importante
publicação na temática das Instituições Religiosas no Brasil, especificamente dedicado ao
estudo da Igreja Católica no império brasileiro. Wernet estudou aspectos do processo de
romanização3 da Igreja Católica no Brasil a partir da administração de D. Antonio Joaquim
de Melo, bispo de São Paulo.
Esse historiador optou por uma abordagem que entende a história eclesiástica como
a história de sucessivas “autocompreensões”.
O conceito de “autocompreensão” foi bastante usado entre os historiadores mais
ligados a Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina/ CEHILA ou a
outros centros de estudos dentro da própria Igreja Católica. Surgiu na década de 1960 no
limiar das mudanças do Concílio Vaticano II e no Brasil passou a ser largamente explorado
na Revista Concilum e em diversas publicações organizadas pelo CEHILA. Um desses
livros foi “História da Igreja no Brasil: ensaios de interpretação a partir do povo”
1 HOLANDA, Sergio Buarque. Prefácio do livro de autoria de José Ferreira Carrato. As Minas Gerais e os
Primórdios do Caraça. São Paulo: Editora Nacional, 1963, p. XIII. 2 BEOZZO, José Oscar. A Igreja e a Revolução de 1939, O Estado Novo e a Redemocratização. In: BORIS,
Fausto (Org) História da Civilização Brasileira – São Paulo: Difel, tomo III, col.4, 1984, p.273. 3 O termo “romanização”, é necessário destacar, assemelhava-se ao “ultramontanismo”, que inicialmente
significava a vinculação dos católicos franceses à Santa Sé. Posteriormente, seu significado ampliou-se,
indicando, em qualquer parte do mundo, a obediência e a defesa dos interesses da Cúria Romana.
Por outro lado, a romanização pode ser considerada uma extensão do ultramontanismo, constituindo-se em
uma política elaborada pelo Vaticano e posta em prática em todos os países católicos, numa tentativa de retomar os valores tridentinos – abrandados ou deturpados ao longo do tempo – para enfrentar as inovações
do mundo moderno e, em especial, o liberalismo.
Um outro aspecto fundamental para o entendimento da política de romanização diz respeito ao
estabelecimento do dogma da infalibilidade papal, aprovado pelo Concílio Vaticano I (1869/70),
representando, portanto, um reforço à teologia tridentina. De acordo com Riolando Azzi, a autoridade papal
passou a ser o grande centro irradiador da verdade de salvação para o mundo inteiro. Portanto, já não se
difundia mais aquela idéia de salvação incorporada à nação, mas de uma salvação incorporada à instituição
eclesiástica (1986).

organizado por Eduardo Hoornaert e outros autores. No primeiro capítulo desse livro
intitulado “A Autocompreensão”, os autores ao referirem-se aos primórdios da colonização
brasileira mencionam o termo “autocompreensão” fazendo as seguintes perguntas:
Como foi que os missionários, que tão numerosos vieram ao
Brasil, entenderam a sua missão aqui? Que autocompreensão
tinham eles da evangelização? Como pensaram a respeito, não
somente os famosos jesuítas...?4
Para os autores do livro em questão, há duas distinções que se deve levar em conta
na análise dos trabalhos dos missionários aqui no Brasil: o discurso e a vivência. “A
evangelização” – escreve esses autores –
“é entendida pelos missionários dentro de um discurso típico,
característico, peculiar, enquanto a vivência escapa frequentemente
aos quadros comuns, não pode ser analisada, por conseguinte,
segundo os ditames de uma denominação comum”.5
Apropriam-se desse conceito de “autocompreensão” Hubert Jedin6 Anton Weiler
7;
A Saucerotte 8; Nestor Tomás Auza, entre outros .
9 Para Antor Weiler o historiador deve
“iluminar por dentro as fases da história humana e dar uma resposta em perfil à seguinte
pergunta: como se compreenderam os homens das várias sociedades, tanto a si mesmos
com a sua Sociedade? Qual era a sua “Selbstverstandnis” (autocompreensão) individual e
coletiva?” 10
Nesse aspecto, tratando-se do conceito de “Igreja”, esse autor chama a atenção
4 HOORNAERT, Eduardo e outros. História Igreja no Brasil. Petrópolis/ Rio de Janeiro: Vozes, 1977, tomo
II/1, 444p. 5 HOORNAERT, Eduardo e outros. 1977, op. cit. 6 JEDIN, Hubert. Kirchengeschichte. Lexikon fur Theologie und Kirche. Apud. WEILER, Anton. História
Eclesiástica como autocompreesão da Igreja. Concilium, 1971, no. 07,p. 805. 7 WEILER, Anton. História Eclesiástica como autocompreensão da Igreja. Concilium. São Paulo, no. 07, p. 805-924, 1971. Esse trabalho de Weiller é o Editorial do número 07 dessa revista “Concilium”. Nesse
prefácio apresenta o conceito de “autocompreensão” baseando-se nos vários textos apresentados nesse
número. 8 A Saucerotte em “As Sucessivas Autocompreensões da Igreja vistas por um marxista”. Trad. de Frei
Almir R. Guimarães. OFM. Concilium, no. 07, p. 804, 1971 9 AUZA, Nestor Tomás . El perfil del historiador de la Iglésia: perspectivas latino-americana. Anuário de
História de la Iglesia. Pamplona/Espanha, no.05, p.98,1996. 10 WEILER, Anon, 1971,p.806.

do historiador para compreender a Igreja inserida em tempos específicos. “O conceito de
Igreja como povo-de-Deus-em-marcha do Vaticano II”, - afirma o autor –“revela uma
consciência social-psicológica evidentemente diferente daquele que estava presente na
Igreja pós-tridentina.”. 11
Conforme vimos acima, o conceito de “autocompreensão” foi utilizado pelos
historiadores ligados à própria Igreja Católica. Esse conceito chegou à universidade
brasileira pelas “mãos” do professor da USP, Augustin Wernet. Na década de 1980 este
professor herda parte das reflexões dos historiadores da Igreja e acrescenta outras de
autores condizentes com a opção teórico-metodológica de sua escolha.
O livro “A Igreja Paulista no século XIX....”, conforme citamos acima, é
fundamental para a compreensão da abordagem da história eclesiástica no sentido de
percebê-la como a história de sucessivas “autocompreensões”. Na introdução do livro,
Wernet esclarece que as “autocompreensões” da Igreja:
são “tipos ideais”, ou seja, “construções mentais” ou
“imagens mentais” cuja elaboração se faz necessária,
exagerando elementos específicos da realidade,
selecionando características dela mesma, ligando-as entre
si num quadro mental relativamente homogêneo”. 12
O autor, ao conceitualizar as “autocompreensões” como “tipos ideais”, procurou
enquadrar a história da Igreja a partir do referencial teórico de Max Weber. Uma possível
indagação que se faça, por exemplo, a um membro de uma seita sobre os processos de
pertencimento, quaisquer que sejam as imprecisões de suas impressões, ele chegará,
decididamente, aos enunciados das definições “tipo-ideal” da seita. De igual forma, se
fizermos esse mesmo questionamento a um membro da Igreja Católica sobre as razões que
o faz pertencer a essa Igreja, e não a uma seita, ele seria, do mesmo modo, conduzido,
decididamente, a agir de acordo com as idéias que expressam o “tipo-ideal” a que pertence.
Foi a partir desse entendimento do pensamento de Weber que Wernet orientou sua
pesquisa, ou seja, definiu o objeto, norteou a interpretação empírica das fontes e, de certo
modo, deu um sentido ao que, de outra maneira, seriam descobertas empíricas desconexas
11 Idem.

de suas pesquisas. Esse seu encaminhamento, de igual forma, estendeu-se aos seus
orientados no processo de escritura de suas respectivas dissertações ou teses e no dia a dia
das aulas de História da Igreja no Brasil, disciplina do curso de pós-graduação da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/ FFLCH da USP. Entre os orientados
pelo professor, destacamos o trabalho ”Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Corrêa
Nery e a Romanização do Catolicismo Brasileiro (1909-1920)”, de Marcus Levy Albino
Bencosta 13
.
Nesta obra, Bencosta privilegiou como objetivo central de análise a maneira como
D. João Batista Corrêa Nery administrou a mitra de Campinas entre os anos de 1908 a
1920. Com a criação da diocese campineira, D. Nery responsabilizou-se pela continuidade
do processo de romanização já iniciada por outros eclesiásticos.
Bencosta estudou um período de “autocompreensão” da Igreja correspondente ao
processo de institucionalização da romanização do catolicismo brasileiro, adotando a
mesma perspectiva defendida por Augustin Wernet. Sua pesquisa se insere no universo da
história eclesiástica que identifica a romanização implementada pela ação dos
ultramontanos católicos como modelo de catolicismo. Vale ressaltar que os ultramontanos
surgiram no interior da Igreja Católica francesa nos fins do século XVIII, precisamente
após a Revolução de 1789, como uma crítica às inovações apresentadas pelo discurso do
mundo moderno, que ameaçavam sua disciplina e autoridade. A restauração da Ordem dos
Jesuítas e do Pontificado de Gregório XVI – autor de Mirari Vos (1832), carta encíclica
sobre os principais erros de seu tempo – possibilitou, no início do século XIX, ao
“ultramontanismo” fortalecer sua expansão pelo mundo católico.
O autor situa essa “romanização” no Brasil depois de 1810, a partir da vinda de
padres Lazaristas – futuros bispos e reitores de seminários no Brasil. Tal processo resultou
na difusão de missões populares e da educação escolar de futuros padres, em colégios e
seminários católicos, como os de Caraça, Campo Belo e Mariana, marcados por uma moral
cristã conservadora e fiel à romanização. Segundo a mesma interpretação da nova
historiografia sobre a Igreja no Brasil, o autor destaca que, em 1880, a província de São
12 WERNET, Augustin. 1987, op. Cit. p.12 13 BENCOSTA, M. L.Albino. Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Correia Nery e a romanização do
catolicismo brasileiro (1880-1920). Tese (doutorado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
USP, São Paulo, 1999.

Paulo deixou-se influenciar, diretamente, pelas reformas clericais implementadas por D.
Joaquim de Melo, o bispo que o seu orientador Augustin Wernet tinha pesquisado.
A principal contribuição de Bencosta é, portanto, a de ter acrescentado, na trajetória
de “romanização”, o destaque à ação de D. Nery enquanto bispo que procurou, antes dos
anos 20, aproximar a Igreja do Estado. Além desse aspecto, Bencosta afirmou que, ao
contrário dos bispados paulistas “ultramontanos” da segunda metade do século XIX, a
gestão de D. Nery não foi marcada por grandes desavenças que comprometesse a
continuidade do projeto reformador da Igreja. Para compreender a importância da atuação
de D. Nery, o autor salienta como se deu o funeral e as exéquias desse bispo, ocorrido em
1920. Segundo Bencosta, tal acontecimento foi uma clara demonstração de que os ex-
comandados de D. Nery aceitaram o modelo de catolicismo por ele defendido nos seus
vinte e quatro anos de episcopado. Em sua conclusão, a administração da diocese, por meio
das Visitas Pastorais, a formação doutrinária do clero, o controle das irmandades e o bom
relacionamento com os representantes do poder civil foram recursos, dentre outros, que
viabilizaram seu projeto nas três dioceses que fundou e governou.
Apesar da expressiva contribuição do trabalho de Bencosta na inovação da História
Eclesiástica, há, sobretudo, uma continuidade da perspectiva adotada pelo seu orientador,
Augustin Wernet. Vale ressaltar que o autor optou pelo processo metodológico-teórico,
cujo período e objeto de pesquisa remontam à época em que o catolicismo iluminista ou
pombalino foi substituído pelo “ultramontanismo”. Nesse período da História da Igreja se
processou a instalação de novas dioceses e o avanço da romanização do catolicismo no
Brasil, em particular, na Igreja de São Paulo, profundamente marcada por essas mudanças.
Bencosta se preocupou com as ações de um representante ideal para o entendimento
desse período de “autocompreensão” da Igreja. Escolheu as ações racionais de D. Nery no
processo de institucionalização da romanização do Brasil. Tentou compreender esse sujeito
identificando-o não somente como um “ser-em-si”, mas também como “sendo-para-si”.
Ao invés de se dedicar em analisar a pessoa de um bispo como um tipo ideal de
romanizador, não seria também interessante “compreender” as ações de um considerado
bom pároco, que assumia as inovações do catolicismo e agia conforme os interesses da
Cúria Romana? No lugar de privilegiar um “tipo-ideal” não seria também importante
privilegiar um sacerdote “marginal” desse processo de romanização, imerso em conflitos e

confrontos na sua paróquia? De igual forma, poderíamos pensar que um pároco
romanizador, inovador da vida religiosa da paróquia, certamente não enfrentaria, no seu
cotidiano, os revezes de suas inovações? Um pároco comum “romanizador”, imerso em
conflitos, não revelaria, sob diversos aspectos, as contradições da administração de um
bispo?
Essas indagações certamente levariam o historiador a buscar não somente
explicações que privilegiam a importância da Igreja Católica na História do Brasil, como
acima se referiram Holanda e Beozzo. São importantes, sem sombra de dúvida, mais
estudos sobre como os missionários vieram ao Brasil; como entenderam a sua missão aqui;
qual a autocompreensão deles da evangelização que praticavam; como os bispos efetivaram
suas pastorais. Entretanto, mais ainda torna-se importante perceber os “outros”, quase
sempre mal compreendidos e propositadamente silenciados pela história oficial.
Quase sempre a “memória oficial” - aquela em que o passado é evocado para
ilustrar o que há de mais “digno” e “honrado” na história de “poucos” em nome de “todos”,
como forma de servir de “exemplo” a gerações futuras - é composta de “fatos” ou pessoas
“extraordinárias”, “heróis eminentes”, que supostamente contribuíram para o
desenvolvimento de sua cidade, estado ou país. Como forma de reconhecimento ao mérito
pelos feitos “eminentes”, é comum encontrar seus bustos ou seus nomes em praças, ruas,
avenidas, entre outros espaços públicos. Sutilmente, por trás dessa “preferência” por certas
pessoas “eminentes”, em detrimento a outras menos nobres, aparentemente sem nenhum
feito “heróico” de relevância para o agrupamento social, impõe-se um silêncio avassalador
não somente aos considerados “inexpressivos”, mas também àqueles, em especial, de
comportamento “atípico”, “incomum” para a sua época. Como se pode perceber, no
processo de construção dessa “memória oficial” há todo um esforço deliberado em ocultar
as contradições de uma sociedade plural e ambígua.14
Somos tentados a registrar tudo o que os documentos aos nossos olhos nos
oferecem, como se eles nos pudessem revelar os fatos tais quais ocorreram. Bloch disse,
enfaticamente, não haver “pior conselho a dar a um iniciante do que esperar, numa atitude
de aparente submissão, a inspiração do documento”. 15
O medievalista Jacques Le Goff
14
POLLAK, Mickael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio e Janeiro, n.3, p. 3 -15, 1989. LE GOFF, Jacques.
Documento/Monumento. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão; 2a. ed, Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 1992, p.535-549.
15 BLOCH, Marc . Apologia da História. Ou ofício do Historiador . Prefácio Jacques Lê Goff, apresentação à edição brasileira de Lilia
Moritz Schwarcz, Trad. André Teles, Rio de Janerio: Jorge Zahar, 2001, p.79

igualmente afirmou não existir “uma realidade histórica preconcebida e que se entregue
espontaneamente ao historiador”.16 Um pesquisador submisso à inspiração dos documentos
não iria perceber a presença ou a ausência das fontes “nos fundos dos arquivos, numa
biblioteca, em tal solo, deriva de causas humanas, que não escapam de modo algum à
análise e aos problemas que a sua transmissão coloca”. 17
Essas observações, sem dúvida, estimulam-nos a pensar o pesquisador enquanto um
“voraz apreciador” das ações humanas no tempo, como se referiu, igualmente, Bloch ao
comparar o historiador a um “ogro da lenda”, uma espécie de “monstro que fareja
incessantemente sua caça”.18
Esta analogia permite encarar o historiador enquanto um
perscrutador incansável do seu “objeto de pesquisa”.
Pollak, Marc Bloch e Jacques Le Goff e o italiano Carlo Ginzburg compartilham a
idéia de que o historiador não pode se relacionar passivamente com os documentos com os
quais trabalha. Para este último, torna-se imperativo o estreitamento das relações existentes
entre o próprio documento, o narrador e a narração, aqui entendida como o resultado de um
diálogo intenso estabelecido entre o pesquisador e as suas fontes. Ginzburg quer somente
chamar a atenção do historiador para a preocupação na busca exaustiva de “prova”, mas do
que podemos tirar delas, da forma como lidamos com a narração. De acordo com Ginzburg,
talvez a própria idéia de narração surgisse pela primeira vez em uma sociedade de
caçadores a partir de uma experiência de decifração de pistas. É possível que um
observador, acrescenta Ginzburg, ao se deparar com diversas pegadas e pistas de um
animal, tenha produzido, por exemplo, uma seqüência de narrações do tipo alguém passou
por ali. Diante desta situação, o caçador, provavelmente, seria o primeiro a “narrar uma
história porque era o único capaz de ler, nas pistas mudas (se não imprescindíveis) deixadas
pela presa, uma série coerente de eventos”.19
. Entretanto, a tarefa do historiador não se
16 Le Goff, Jacques. 1990, op. cit, p. 259 17 BLOCH, Marc, 2001,op. cit p.83.
18 Queremos chamar a atenção para o sentido que a expressão ogro da lenda pode suscitar. Entendemos os termos monstros e presa não
no sentido exato da palavra, como alguém violento a destruir uma vítima ou alguém frágil esperando ser devorado. Bloch taxat ivamente
diz: “o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça”. (p.54). Isto quer dizer
que ele é um pesquisador do passado que não se entrega facilmente às fontes como elas se aparentam à primeira vista; desconfia delas e
busca “revirá-las” ou “varrê-las ao contrário como assim também diz Walter Benjamin no texto Sobre o Conceito de História. Para
Benjamin é necessário “escovar a história a contrape-lo”. Cf. Benjamin, Walter. Obras escolhidas. 7a ed. Rio de Janeiro: brasiliense,
1994, p. 225. 19
GINZBURG, Carlo. Sinais: sinais de um paradigma indiciário. In: Mito, Emblemas e Siansi: Morfologia e História. Trad. Frederic
Carotti, São Paulo: Cia das Letras, 1990, op. cit. p.152

restringe a analisar “pegadas, rastros, (...) córneas, pulsações (...); mas analisar escritas,
pinturas ou discursos”. 20
No entanto, na “oficina da História”, a “narração”, a partir do diálogo estabelecido
entre o pesquisador e as “provas”, é mais complexa do que a simples relação estabelecida
entre o caçador e a sua presa. A todo instante, o historiador se depara com documentos
“rarefeitos”, contendo informações incompletas, imprecisas, como conseqüência não
somente do mau uso e preservação do material de pesquisa, mas também em razão de, em
si mesmas, estas fontes não apresentarem informações claras, precisas, intencionalmente
silenciadas pela ação humana. 21
É necessário, assim, estranhar as fontes, fazer inúmeras
perguntas não só no momento que as encontrou. Na circunstância da elaboração do
discurso, onde o historiador ali constrói a sua narração, interpretação ou explicação, as
indagações com as “provas” devem continuar incessantemente e é aí que o “ogro da lenda”
continua agindo. Esse “monstro” toma impulso também na escrita, utilizando-se da retórica
e dos documentos, como provas. O “ogro historiador”, por mais que tenha um “apetite
voraz por carne humana”, nunca será um “ogro” completamente livre, ou seja, capaz de
criar os fatos e narrá-los usando somente a imaginação, como bem fazem os “ogros” da
literatura, como os romancistas. 22
As idéias de Ginzburg, concernentes à postura do historiador em relação às fontes
investigadas e o discurso, leva-nos a pensar o método da “grelha ou grade de cruzamento”.
Tomando como referência a montagem cinematográfica, as repetições das imagens
fotografias que, uma vez combinadas, produzem o movimento, Walter Benjamim sugere ao
historiador “montar” um caminho semelhante. É preciso “recolher” os traços do passado
para, a partir deles, de forma repetida e combinada, montar o verdadeiro quebra-cabeça da
história. Assim, as peças se articulam, em composição ou justaposição, cruzando-se em
todas as combinações estabelecidas, e dessa “maneira algo será revelado, conexões serão
desnudadas, explicações se oferecem para a leitura do passado”. 23
Este seria o “método da
grelha” ou “grade de cruzamento” iniciado por Carlo Ginzburg, onde os cacos da história –
a dispersão e falha dos documentos - tomados na sua rede de correspondência, apresentam-
se como sintomas de uma época. Selecionar, cruzar, combinar, compor, montar, cruzar,
20
Id. p. 161. 21
GINZBURG, Carlo, Relações de Força: História, Retórica, Provas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p.14 22
Carlo Ginzburg nos recomenda seguir a tradição de Aristóteles que usa a retórica com o núcleo fundamental: a prova. Idem,p 63.

“revelar o detalhe, dar relevância ao secundário, eis o segredo de um método do qual
História se vale, para atingir os sentidos partilhados pelos homens de um outro tempo”. 24
José Jobson de Andrade Arruda, prefaciando o livro “O Crime do Padre Sório”, do
historiador Luiz Eugênio Vescio, faz elogios a esse método de pesquisa, do domínio da
história cultural, herdado do Benjamin e do Carlo Ginzburg. Segundo Arruda, assim
“como o policial que organiza os delitos, o filosofo que gera as idéias, o poeta que faz os
versos, o escritor que produz os livros, o historiador refaz a história, dá-lhe sentido,
compreensividade”.25
Essa possibilidade de “compreensividade” do passado poderá se concretizar não
somente com o diálogo com Weber, como faz Wernet e seus orientados. O caminho a ser
seguida não é exclusivamente de uma História da Igreja usando a categoria de análise
“autocompreensão” à maneira dos historiadores da CEHILA, conforme citamos acima. Um
encontro faz-se necessário com os diversos autores pertencentes ao domínio da história
cultural, como Ginzburg, Giovanni Levy, Michel de Certeau, Marc Bloch, Febvre, entre
outros.
O medievalista Marc Bloch escreveu que o historiador, para pensar o humano, deve
considerar o homem em seu tempo; em outras palavras, o pesquisador, ao farejar carne
humana, como o faz o “ogro da lenda”, deve, necessariamente, situar o sujeito em seu
tempo. 26
Essa sugestão significa enxergar um pároco, considerado “sem eixo”, como um fio-
condutor da “intriga”, puxando, a partir dele, outros fios que remetem ao mundo em que ele
pertencia. Dessa forma, o pároco (ou qualquer outro personagem à margem da estrutura de
poder) se torna um guia a nos mostrar o lugar onde exercia sua profissão (uma paróquia,
por exemplo), as pessoas com que conviveu e como essas pessoas interagiam e pensavam o
mundo que esse pároco fazia parte.
23 Pesavento, Sandra Jatahy. História & História cultural. 2ª. ed, Belo Horizonte: Autêntica,2004,p.64. 24 Idem, p. 65. 25 Arruda, José Jobson. O enigma da História. In: Vescio, Luiz Eugenio. O crime do Padre Sório; Maçonaria e
Igreja Católica no Rio Grande do Sul (1893-1928). Santa Maria: editoraufsm: Porto Alegre/ Ed. da UFRGS,
2001, p. 11.
26
Bloch, Marc. APOLOGIA DA HISTORIA ou Ofício do historiador. Prefácio Jacques Le Goff; apresentação à edição brasileira Lilia
Moritz Schwarcz; trad. André Telles; Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p.55

No nosso trabalho “Um porta-voz da romanização do catolicismo brasileiro:
silêncios e conflitos na administração de D. José Thomaz na Diocese de Aracaju (SE) -
1911-1917” partirmos de aspectos da "trajetória de vida" de um pároco, Vicente Francisco
de Jesus, pertencente a uma pequena cidade do interior sergipano, para compreendermos os
sete primeiros anos da administração do primeiro bispo da diocese de Aracaju (Se), D. José
Thomaz (1911-1917) e os traços mais gerais sobre a Igreja Católica no Brasil após a
proclamação da República, num dos momentos do processo convencionalmente chamado
de romanização do catolicismo brasileiro.
A reflexão metodológica sobre "trajetória de vida" concebe que alguns momentos
da 'história de vida" de um determinado personagem pode servir na apreensão de traços
mais gerais de uma determinada sociedade e de algumas visões de mundo. Parte-se da idéia
de que se pode debruçar no particular para se chegar a aspectos mais gerais, ou seja, do
micro ao macro.
Esta perspectiva de análise do micro para o macro requer um esclarecimento. A
opção feita certamente é diferente da abordagem que leva em consideração a compreensão
de todo o processo histórico de vida de um personagem estudado para se entender aspectos
de uma sociedade. Torna-se necessário observar a referência a uma "parte" da "trajetória de
vida" de um personagem, os momentos mais significativos de sua vida a "jogar luz ao
coletivo". Esse personagem, situado num agrupamento social, torna-se parte de uma
“sociabilidade” compartilhada por outros.
Nesse tecido social os personagens não estão presos a uma “estrutura social” como
se fossem determinados por um sistema normativo. É necessário pensar na liberdade de que
os sujeitos dispõem. Segundo Giovanni Levi (1996, p. 179-180):
[...] deveríamos indagar mais sobre a verdadeira amplitude da
liberdade de escolha. Decerto essa liberdade não é absoluta:
culturalmente e socialmente determinada, limitada,
pacientemente conquistada, ela contínua sendo no entanto uma
liberdade consciente que os interstícios inerentes aos sistemas
gerais de normas deixam aos atores. Na verdade nenhum
sistema normativo é de fato suficientemente estruturado para
eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, de

manipulação ou interpretação das regras, de negociação. Ao
meu ver a biografia é por isto mesmo o campo ideal para
verificar o caráter intersticial – e toda via importante – da
liberdade de que dispõem os agentes e para observar como
funcionam concretamente os sistemas normativos, que jamais
estão isentos de contradições 27
.
É importante atentarmos para as contradições dos sistemas normativos. Sobretudo,
atentar para a fragmentação, a pluralidade dos pontos de vista que tornam todos os sistemas
fluídos e abertos. Para Carlo Ginzburg a cultura é uma jaula, porém, flexível, onde o
sujeito pode exercer a liberdade.
No Nordeste brasileiro encontramos inúmeros exemplos de personagens ligados às
religiosidades que ilustram muito bem esses espaços de liberdade referidos acima por
Giovanni Levi e Carlo Ginzburg. Cabe-se explorar suas trajetórias de vida, ou melhor, ser
conduzidos por elas, para entendermos melhor as diversas religiosidades presentes na
história do nosso imenso país. Um caminho importante é a pesquisa nos arquivos. Sem
documentos o historiador não é historiador.
BIBLIOGRAFIA
ARRUDA, José Jobson. O enigma da História. In: Vescio, Luiz Eugenio. O crime do
Padre Sório; Maçonaria e Igreja Católica no Rio Grande do Sul (1893-1928). Santa
Maria: editoraufsm: Porto Alegre/ Ed. da UFRGS, 2001,
AZZI, Riolando. A Romanizinação da Igreja a partir da República (1889). In: Aculturação
e Libertação. São Paulo: Paulinas/CNBB?CIMI, s/d.
A, Saucerotte. As Sucessivas Autocompreensões da Igreja vistas por um marxista. Trad. de
Frei Almir R. Guimarães. OFM. Concilium, no. 07, p. 804, 1971
AUZA, Nestor Tomás . El perfil del historiador de la Iglésia: perspectivas latino-americana.
Anuário de História de la Iglesia. Pamplona/Espanha, no.05, p.98,1996.
27 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína (Orgs.) Usos
& Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996, p. 179-180

BENCOSTA, M. L.Albino. Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Correia Nery
e a romanização do catolicismo brasileiro (1880-1920). Tese (doutorado), Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, São Paulo, 1999.
BENJAMIM, Walter. Sobre o Conceito de História. Obras escolhidas. 7a ed. Rio de
Janeiro: brasiliense, 1994.
BEOZZO, José Oscar. A Igreja e a Revolução de 1939, O Estado Novo e a
Redemocratização. In: BORIS, Fausto (Org) História da Civilização Brasileira – São
Paulo: Difel, tomo III, col.4, 1984, p.273.
BLOCH, Marc . Apologia da História. Ou ofício do Historiador . Prefácio Jacques Lê
Goff, apresentação à edição brasileira de Lilia Moritz Schwarcz, Trad. André Teles, Rio de
Janerio: Jorge Zahar, 2001,
CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Trad. Maria de Lourdes de Menezes. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
GINZBURG, Carlo. O Queijo e os vermes. O cotidiano e as idéias de um moleiro
perseguido pela inquisição. Trad. Maria Betania Amoroso. 3ª ed. São Paulo: Cia das
Letras,1987, 271p.
_________Sinais: sinais de um paradigma indiciário. In: Mito, Emblemas e Sinais:
Morfologia e História. Trad. Frederic Carotti, São Paulo: Cia das Letras, 1990.
_________ Relações de Força. História, Retórica e Prova. Trad. Jônatas Batista Neto.
São Paulo: Cia de Letras, 2002.
HOLANDA, Sergio Buarque. Prefácio do livro de autoria de José Ferreira Carrato. As
Minas Gerais e os Primórdios do Caraça. São Paulo: Editora Nacional, 1963, p. XIII.
HOORNAERT, Eduardo e outros. História Igreja no Brasil. Petrópolis/ Rio de Janeiro:
Vozes, 1977, tomo II/1, 444p.
LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão;
2a. ed, Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 1992, p.535-549.
LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO,
Janaína (Orgs.) Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
_____________ A herança Imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do
século XVIII. Prefácio de Jacques Revel, trad. de Cynthia Marques de Oliveira. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, 266p.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História cultural. 2ª. ed, Belo Horizonte:
Autêntica,2004.

POLLAK, Mickael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio e Janeiro,
n.3, p. 3-15, 1989.
SCHMIDT, Benito Bisso. A biografia: O “retorno” do gênero e a noção de “contexto”. P.
121-129. In: GUAZZELLI, César Augusto Barcellos e outros. Questões de Teoria e
Metodologia da História. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2000.
SOUSA, Antônio Lindvaldo. Um Porta-Voz da Romanização do Catolicismo
Brasileiro: Silêncios e Acordos na administração de D. José Thomaz na Diocese de
Aracaju (Se) -1911-1917. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Ciências e
Letras de Assis – UNESP – Universidade Estadual Paulista , Assis, 2005, 223p.
VAINFAS, Ronaldo. O que falta estudar? – as Religiosidades e africanidades.São Paulo:
Folha de São Paulo, 02 de abril de 2000, Caderno Mais, p.9.




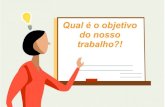





![ÁREA TEMÁTICA: Crenças e Religiosidades [AT]historico.aps.pt/viii_congresso/VIII_ACTAS/VIII_COM0466.pdf · Área temÁtica: crenças e religiosidades [at] memoria y resistencia.](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5bbf9f9409d3f2e72d8bc1a0/area-tematica-crencas-e-religiosidades-at-area-tematica-crencas-e.jpg)