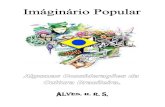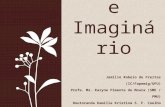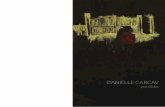Danielle Imaginário e Corpo
-
Upload
naiara-gomes -
Category
Documents
-
view
223 -
download
1
description
Transcript of Danielle Imaginário e Corpo
The inserted body in a diversity of cultural logics: a poetics of sexualityDanielle Perin Rocha Pitta Professora do Programa de Ps-Graduao em Antropologia daUniversidade Federal de [email protected] corpo inserido em diversas lgicas culturais: uma potica da sexualidade66ResumoO corpo culturalmente construdo e a sexualidade matizada, em termos acadmicos pelos estudos sobre gnero, so vistos em geral atravs da tica binria que reduz esta ltima a duas categorias: feminino e masculino. Este tipo de lgica excludente causa dramas freqentes no que diz respeito vivencia da sexualidade individual. Na vida cotidiana, entretanto, fora da academia, h quem considere a existncia de dezessete categorias sexuais. Parece, ento, que a questo poderia ser abordada atravs das teoriascontemporneas,baseadasnalgicadoterceiroincludo,nasquaisnose centra mais a ateno em categorias, mas na dinmica que subentende a vivncia. A propostapois seguindoospassosdeBachelard,comafenomenologiapotica, Gilbert Durand, com o trajeto antropolgico e Michel Maffesoli, com sua viso da ps-modernidadeestudarasexualidadeeogneroatravsdanoodetrajeto antropolgico,delineandootrajetosexual:vetorpolarizadonoqualavivnciada sexualidade, ao longo da vida,pode deslizar dinamicamente entre os dois plos. Palavras-chave: Imaginrio. Corpo. Sexualidade. Gnero. Trajeto antropolgico. Trajeto sexual. AbstractThe body culturally constructed and the sexuality shaded in academic terms by the studies about gender, are seen in general through the binary optics that reduces it in two categories: feminine and masculine. This kind of logic, excluded logic, causes frequent dramas in the individual sexuality. In the daily life however, outside the academy, there are some people who consider the existence of seventeen sexual categories. Then, it seems that the question could be aproached through contemporary's theories based on the logic of the third included one, whose attention is not centred in categories, but in the dynamics that presumes the experience. The proposition is therefore according to Bachelardstheoryaboutthepoeticalphenomenology,GilbertDurandwiththe anthropologicalrouteandM.Maffesoliwithhisvisionofpos-modernitytostudy sexuality,gender,throughthenotionofanthropologicaltrajectory,delineatingthe sexual course: polarized vector in which the experience of the sexuality, throughout the life, can slide dynamically between the two poles.Keywords:Imaginary.Body.Sexuality.Gender.Anthropologicaltrajectory.Sexual course.Estudos sobre o corpo tm se multiplicado na literatura antropolgica, enfocando progressivamente menos a esfera do natural e mais a do cultural, enquanto trabalhos sobre a sexualidade foram complementados pelo conceito degnero tendoemvistaasprpriascaractersticasdaps-modernidade. Novas teorias antropolgicas, novos paradigmas vm assim trazer uma nova viso dessas duas dimenses.Amudanadeparadigmasquecaracterizaaps-modernidade, 1principalmente na tica de Michel Maffesoli,implica, ou reflete, vivncias do cotidianodistintasdaquelasquecaracterizaramamodernidade.Coma crescente valorizao do imaginrio como meio de conhecimento proposta por Bachelard, as abordagens tericas dos objetos de estudo tm se diversificado e se distanciado da lgica binria ocidental. Na perspectiva clssica binria, conforme diz Sousa Filho (2008, p.1),umalongahistriadecolonizaopelopreconceito, praticadasobreoimaginriodediversassociedades, representando a homossexualidade como uma exceo ou como um desvio ou inverso no quadro de uma pretendida normalidadeheterossexual,levouaquesebuscassea causa especfica que produziria a homossexualidade e no importando se esta tenha sido pensada, variando as pocas, como vcio, pecado, crime, doena, perverso ou 2como um desvio no desenvolvimento sexual.,67Danielle Perin Rocha Pittan. 02 | 2008 | p. 65-73Enquanto todas as iniciaes sociais africanas (tais comoasestudaramGriaule,D.Zahaneoutros) tm,comoobjetivoprimordial,aseparaodos sexos,suprimindoafeminilidadedoprepcio atravsdacircunciso,eamasculinidadedo clitrispelasuaexciso,demodoaintegraro novio na ordem social, a iniciao religiosa em frica,massobretudoentreaspopulaesde escravos deportados que perderam o contato com alinhagemeoestatutosocial, indiferentemente dada para homens e mulheres. G. Durand (1997)1 Cf. livros do autor nas referncias que o tema desenvolvido mais aprofundadamente.2 Cf. outros trabalhos do autor nas referncias.Em reao a tal tipo de abordagem de sexualidade, a ps-modernidade tem induzido novos estudos nesse campo, questionando categorias estabelecidas na modernidade, como por exemplo na Teoria Queer, segundo a qualo grande desafio no consiste, apenas, em assumir que as posies de gnero e sexuais se multiplicaram e escaparam dos esquemas binrios; mas tambm em admitir que as fronteiras vm sendo constantemente atravessadas e que o lugar social no qual alguns sujeitos vivem exatamente a fronteira.Umanovadinmicadosmovimentos(edas teorias) sexuais e de gnero est em ao. dentro desse quadroqueaTeoriaQueerprecisasercompreendida. Admitindo que uma poltica de identidade pode se tornar cmplice do sistema contra o qual ela pretende se insurgir, tericos/as Queer sugerem uma teoria e uma poltica ps-identitrias (LOURO, 2001, p. 2). O olhar da antropologia sobre a sexualidade vem dos seus primeiros passos. O etnlogo Marcel Mauss (1978) considera que a cultura que modela o corpo, os gestos, os hbitos. Considerao que permite a Alcntara (2001, p. 1) dizer: Assim, parafraseando Marcel Mauss, o corpo, instrumento inato da espcie Homo sapiens, transformado em corpo-representao,ouseja,umartefatoculturalparase contrapor fronteira que delimita aquilo que toda cultura chama de selvagem, promovendo assim a separao entre naturezaecultura,construtofilosficoquenosajudaa esquecer que somos parte da espcie animal Homo sapiens.Emliteratura,Perec(1967),porsuavez,sedebruousobreos aspectos do corpo relativos leituracomo a voz, os gestos das mos etc., em suas dimenses culturais.Ora,considerandoqueoaprendizado,tantoinstitucionalizadocomo familiar,temporobjetivofazercomqueoindivduosesitueemumcampo significativoespecfico,pertinenteverquaissoasrelaescorpo/cosmos estabelecidasporculturasdiversas.Ocorpo,antesdetudo,umcorpo imaginrio: da parte mais slida e interior, os ossos, parte mais fluida e exterior, os cabelos, tudo no corpo se desenvolve a partir da imagem que uma cultura dele sefaz.Falangesdepsatrofiados;crniosdeformadosdevriasmaneiras; deformaes da coluna vertebral; dentes serrados; mutilaes; escarificaes; circuncises;excises;deformaesdelbios,orelhas,pescoos;tatuagens; pinturas;penteados;roupas...inmerassoasmaneiraspelasquaiscada cultura fabrica um corpo prprio. Impossvel, entretanto, ter acesso ao significado ,68dessecorposemterconhecimentodaculturaemqueeleestinserido.As variaesculturaissoevidentes,tambm,emrelaoaossignificados atribudosacadapartedocorpo:cadaumavalorizadapositivaou negativamente,maisoumenos(des)valorizada,sempresegundoadinmica subjacente cultura, orientada pela dinmica dos mitos (ROCHA PITTA,2005).Esse corpo, que pouco tem de natural, tanto na sua aparncia (gestos, andar, olhar, sexo etc., que levam transformao da matria) quanto nas suas funes ou nas suas expresses, pode ser apreendido nas diversas produes deumacultura:descriodireta(atitudesdocotidiano,representaesem teatro,dana,folcloreetc.),fotografia,cinemaeseusderivados,relatos mticos, literatura, artes plsticas... enfim, no so as imagens que faltam, nem adiversidadedestas.Talvezmaisimportantedoquetantadiversidadede aparncia, seja o fato de o corpo ser o suporte do gesto. Este ser, pois, o meu ponto de partida, a base da anlise. Gilbert Durand, discpulo de Bachelard, constri uma teoria que, em contraposiospropostaspositivista,funcionalistaeevolucionista, estabelece,medianteumaabordagemfenomenolgica,arevalorizaodo imaginrio na sua dimenso de funo psquica e a reintroduo, nas cincias, da dimenso afetiva do homem. Nessa perspectiva, toda construo do saber consequncia da interao entre observado e observador. Emseulivrobsico,Asestruturasantropolgicasdoimaginrio, Gilbert Durand prope um estruturalismo figurativo, ou seja, um estruturalismo no qual a estrutura uma forma transformvel e, em consequncia, um vetor dinmicotransformadorqueorganizaasimagens.Amaneiracomoessas imagensvoserorganizadas,odinamismoprprioemao,quevai determinarotrajetoantropolgico,isto,oincessanteintercmbio existente, no nvel do imaginrio, entre as pulses subjetivas e assimiladoras e as intimaes objetivas que emanam do meio csmico e social. O imaginrio, assim, seria este trajeto no qual a representao do objeto se deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual reciprocamente [...] asrepresentaessubjetivasseexplicam'pelasacomodaesanterioresdo sujeito'aomeioobjetivo(DURAND,1969,p.38).Nessesentido,oautor relaciona os gestos fundamentais do corpo com a formao e organizao das imagens.Baseadoemvriaspesquisasemdiferentescamposde conhecimento Delmas, Boll, Piron, Piaget e na reflexologia de Betcherev, Durand (1969, p. 51) coloca que existe uma estreita concomitncia entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as representaes simblicas. 69Danielle Perin Rocha Pittan. 02 | 2008 | p. 65-73 a maneira como se d essa interao entre sensibilidade e meio ambiente (geogrfico e social) que caracteriza faz a especificidade de uma cultura. Existem culturas nas quais possvel fechar o corpo, outras em que possvel reduzir as funes fsicas a quase nada, outras ainda em que o corpo matria eivada de pecados, outras nas quais o corpo, pela dana, desafia a morte...De que maneira ocorre essa diferenciao? Segundo Durand, diante da questo fundamental que se coloca para o ser humano, que a da sua condio de ser mortal, existem trs maneiras fundamentais de responder: tomando as armas e enfrentando o inimigo, construindo uma harmonia que no permita a aproximaodamorteouaindaconsiderandoaciclicidadedotempo transformando-oemrenovaonolugardemorte.Essastrsatitudes fundamentais correspondem s estruturas do imaginrio: respectivamente, a estrutura herica, a mstica e a sinttica (ou disseminatria). Porm, na medida em que o autor define a estrutura como forma estruturante, logo, dinmica, cada uma se caracteriza como plo organizador do pensamento. Na verdade, existiriam dois plos (que integram as trs estruturas) de atrao entre os quais se posicionam as culturas. No se trata, ento, para compreender uma cultura, de classific-la, mas de perceber seu dinamismo subjacente: situado nesse dinamismo que o simbolismo do corpo tem significado. O trajeto antropolgico formado por schemes (uma generalizao dinmica e afetiva da imagem), arqutipos e smbolos em constante interao. Ao estabelecer a juno entre os reflexos e as representaes, o scheme que vai se encontrar na base da expresso corporal. Nessa perspectiva, cada cultura se encontra atrada mais por um plo do que por outro, o que significa que certos gestos sero por ela privilegiados de acordo com essa dinmica. Por exemplo, a culturaatualnaEuropa,tendendoparaopoloheroico,vaiprivilegiaruma imagem de corpo masculino de guerreiro jovem, sadio e ativo seno combativo; j outra cultura, como aquela vigente em parte do Nordeste do Brasil, polarizada pelaestruturamstica,vaivalorizarocorpofemininopositivoemsua sexualidadeefertilidade.datensoentreosplosquenasceadinmica social, diz Durand. A total polarizao de uma estrutura seria patolgica.70 Trajeto Antropolgico Polo Heroico Polo Mstico ?Cultura ? Quanto ao corpo, tomaremos um caso especfico: no Brasil, existem, no campo da educao, componentes africanos, ocidentais e indgenas, entre outros,direcionandoaconstruodocorpo,fazendocomqueesteadquira aspectos originais (ver a vasta literatura sobre identidade brasileira). Aqui, a partir de noes vindas de culturas distintas, com suas mitologias prprias, mas em permanente dilogo, que se constri o trajeto antropolgico no qual o corpo toma forma. No que diz respeito ao comportamento sexual desse corpo, vo entrar em ao as lgicas presentes nas diferentes vises de mundo que compem, no casoaquireferendado,ocotidianonordestino,podendopassar,deduasa 3dezessete categorias (segundo opinio de pessoas do cotidiano),enquanto na lgicaocidental,asexualidadereduzidaaduascategorias,femininoe masculino,quesoexcludentes.Jaqui,podemserencontradasessas17 categorias.Ora,apropostaqueaquifazemos,paraacompreensodessa sexualidade, em adequao com a teoria acima exposta e com as prticas do cotidiano, considerar a existncia no mais de categorias, mas de polarizaes (DURAND, 1980), criando uma dinmica especfica sempre em atividade. A sexualidade se atualiza ento entre os dois polos, feminino e masculino. A proposta metodolgica decorre da fenomenologia potica de Gaston Bachelard. Nessa perspectiva, teremos o feminino e o masculino como plos atrativos de um vetor, no mesmo modelo do trajeto antropolgico. Aqui da tensoentreospolosfemininoemasculinoquenasceesedesenvolvea dinmica sexual: Cada indivduo, com sua bagagem cultural especfica, poder, ento, a partir no mais de uma lgica de excluso, mas sim de uma lgica de incluso, seposicionarnesseeixo.Almdomais,sendoavidaumadinmica,tal posicionamentonoprecisaserfixo.Segundoascircunstnciasdevida 3 Dado fornecido em entrevista com um grupo de lsbicas no Recife em 2004. No vem ao caso descrever aqui essas categorias, pois seria tarefa para outro artigo.Trajeto SexualPolo Feminino Polo Masculino ?indivduo ?71Danielle Perin Rocha Pittan. 02 | 2008 | p. 65-73individuais, ele pode se deslocar, atrado momentaneamente mais para um ou outro plo. Nessa perspectiva, a sexualidade pode ser vivida de forma feliz, oscilando no eixo entre dois polos, sem que haja excluses possveis. Prope-se,pois,aquiumavisodocorpoedasexualidade 4correspondenteculturaps-moderna (cibercultura,ciberespao, cibercidadania, cibersade...). Em relao a essa nova realidade no cabem maiscategorias.Dinmica,virtualidade,interculturalidadesoasnovas dimenses da vida cotidiana.72Paralelismos:4 Cf. os trabalhos do Groupe de Recherche sur l'Anthropologie du Corps et ses enjeux (CEAQ Paris 5) criadoem 1987comainiciativadeA.BioeposteriormentedirigidoporJ.Griffet.Cf.tambmosite http://incubadora.fapesp.br/sites/opuscorpus/.Trajeto SexualTrajeto Antropolgico H - Heroico M - Mstico H M F - Feminino M - Masculino F MRefernciasALCANTARA,MariadeLourdesBeldide.Ocorpobrasileiro:estudosdeestticae beleza. Revista de Antropologia. v.44, n.2, So Paulo,2001.BACHELARD, G. Os Pensadores. So Paulo: Abril Cultural, 1988.DURAND,G.Lesstructuresanthropologiquesdel'imaginaire.Introductionune archtypologie gnrale. Paris: Bordas, 1969. ______. L'me tigre. Paris: Denol-Gonthier, 1980.______. Imagens e reflexos do imaginrio portugus. Lisboa: Hugin, 1997.Fazendo Gnero. 2002. Disponvel em: . Acesso em: 20 dez. 2008.LOYOLA, M. Andra (Org.). A sexualidade nas cincias humanas. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1998.______. A antropologia da sexualidade no Brasil. Physis: revista de sade coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, 2000.LOURO, Guacira Lopes. Teoria Queer: uma poltica ps-identitria para a educao. Disponvelem:.Acessoem:20dez. 2008.MALINOWSKI, Bronislaw. La Sexualit et sa Rpression dans les Socits Primitives. Paris: Payot, 1980.MEAD, Margareth. Sexo e temperamento. So Paulo: Perspectiva, 1979.MAUSS, M. Les techniques du corps. Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1978.MAFFESOLI,M.Laconquteduprsent,sociologiedelaviequotidienne.Paris: Descle de Brouwer, 1979.______. A parte do diabo: resumo da subverso ps-moderna. Rio de Janeiro: Record, 2004.______.AsombradeDionsio:contribuioaumasociologiadaorgia.Rio:Graal, 1985.PEREC, G. Un homme qui dort. Paris: Denol,Les Lettres Nouvelles, 1967.ROCHA PITTA, D. P. Iniciao teoria do imaginrio de Gilbert Durand. Rio de Janeiro: Atlntica Editora, 2005.SOUSAFILHO,Alpio.Homossexualidadeepreconceito:crticadeumafraudenos camposcientficoemoral.RevistadaArticulaodeMulheresBrasileirasAMB, Recife, Bocas no Mundo, Ano I, jun., 2003.______. Teorias sobre a gnese da homossexualidade: ideologia, preconceito e fraude. http://www.cchla.ufrn.br/alipiosousa/index_arquivos/. Acesso em: 20 dez. 2008.73Danielle Perin Rocha Pittan. 02 | 2008 | p. 65-7374