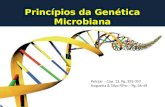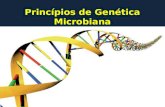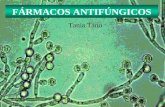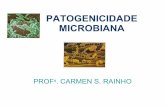DETERMINAÇÃO DA FLORA MICROBIANA DO DETERMINAÇÃO DA FLOR …
Transcript of DETERMINAÇÃO DA FLORA MICROBIANA DO DETERMINAÇÃO DA FLOR …

JOSÉ ROBERTO RIBEIRO GUÉRIOS
DETERMINAÇÃO DA FLORA MICROBIANA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Fe-deral do Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre .
CURITIBA 1 9 8 9
JOSi: ROBERTO RIBEIRO GUÉRIOS
DETERMINAÇÃO DA FLORA MICROBIANA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Dissertação apresentada ao Curso de PósGraduação em Clínica Cirúrgica do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre.
CURITIBA 1989

Este trabalho é dedicado
à minha esposa Ercília e às minhas
filhas, Fl.ávia e Roberta, pela resig-
nação com que aceitaram minha
ausência e a todos aqueles que lutam
para reduzir o sofrimento de seus
semelhantes.
ii
Este trabalho é dedicado
~ minha esposa Ercl1ia e ~s minhas
filhas, FlAvia e Roberta, pela resig
naç~o com que aceitaram minha
aus~ncia e a todos aqueles que lutam
para reduzir o sofrimento de seus
semelhantes.
ii

Oo Prof. Dr. Júlio Cezar U. Coelho, pela amizade,
paciência e despreend intento na orientação deste estudo.
flo Prof. Dr. Osvaldo Malafaia, Coordenador do Mes-
trado em Clinica Cirúrgica da Universidade Federal do Paraná,
pelo constante estimulo e dignificante exemplo de espirito
cientifico.
Po Prof. Dr. Giocondo V. Ortigas, pelo constante
exemplo de competência e dignidade profissional.
Ro Dr. Jo3o B. Marchesini, pelas incontáveis
demonstrações de amizade, apoio e pelo permanente estimulo em
minha formaçSo.
Êi equipe do Laboratório de Parasitologia e Análises
Clinicas "PRRRNPLISE", pela inestimável colaboraçSo, presteza,
competência e profunda dedicação na realizaç3o das pesquisas
que orientaram este trabalho.
h Dra. Carmen Kataoka, pela execuçSo das culturas de
água.
Ro Dr. Luiz Carlos Rlmeida de Domênico, pela ajuda
na realização do estudo estatístico.
lis Dras. Rita Bernadete ü. Bornia e Maria Antonieta
G. Cava, ao Dr. Miguel Jo3o Coeicov Jr. e às bibliotecárias
iii
RGHRDECIMENTQ.$..
Ro Prof. Dr. Jdlio Cezar U. Coelho, pela amizade,
paciência e despreendimento na orientaç~o deste estudo.
Ro Prof. Dr. Osvaldo Malafaia, Coordenador do Mes-
trado
pelo
em Clinica Cirúrgica da Universidade Federal do
constante estimulo e dignificante exemplo de
cientifico.
Par'an~ ,
espir'ito
Ro Prof. Or. Giocondo V. Rrtigas, pelo constante
exemplo de competência e dignidade profissional.
Rll Dr. Jo~o B. Marchesini, pelas incont~veis
demonstraç~es de amizade,
m:l.nha f'o\~maç:!o.
apoio e pelo permanente estimulo em
~ equipe do Laboratório de Parasitologia e Rn~lises
Clinicas IPRRRNr:lLISE", pela inestim~vel colaboraç~o, presteza,
competência e profunda dedicaç~o na realizaç~o das pesquisas
que orientaram este trabalho.
~ Ora. Carmen Kataoka, pela execuç~o das culturas de
água.
Ro Dr. Luiz Carlos Rlmeida de Domênica,
na realizaç~o do estudo estatistico.
pela ajuda
~s Oras. Rita BernadeteO. Bornia e Maria Rntonieta
G. Cava, ao Or. Miguel Jo~o Cocicov Jr. e ~s bibliotec&rias
iii

Suzana GuimarSes Castilho, Píurea Maria Costin e Clarice Si-queira Gusso pela auxilio na pesquisa bibliográfica.
h Dra. Maria Terezinha C. Le3o, chefe da Comissão de
controle de infecçSo hospitalar do Hospital de Clinicas da
Universidade Federal do Paraná, pela revisSo e valiosas suges-
tões apresentadas.
Ros meus pais, pelo apoio desmedido desde o inicio
da minha formação.
h minha esposa, c0111 panhe-j. ra fiel, cujo apoio e dedi-
cação muito auxiliou na realização deste trabalho.
iv
Suzana Guimar~es Castilho. ~urea Maria Costin e Clarice 81-
queira Gusso pelo auxilio na pesquisa bibliogrAfica.
h Dra. Maria Terezinha C. Le~o. chefe da Comiss~o de
controle de infecçlo hospitalar do Hospital de Clinicas da
Universidade Federal do ParanA.
t~es apresentadas.
pela revis~o e valiosas suges-
Ros meus pais.
da minha formaç~o.
~elo apoio desmedido desde o inicio
~ minh~ empoma. comp~nheir~ fiel. cujo apoio e dedi
caç~o muito auxiliou na realilaç~o deste trabalho.
iv

SllMPÍRIQ
INTRODUÇÃO 1
HISTCÍRICQ . 5
MRTERIRL E MÉTODOS . 10
Grupo I - Culturas de vários locais do centro c :i.riirg ico Método de colheita „. 10
Preparo dos meios de cultura 11
Semeadura 12
Incubação 13
lderitificaç3o das bactérias e fungos..... 13
Provas de identificação........ 14
Provas de identificação de Staphulococcus sp 14
Prova de sensibilidade à penicilina 17
Provas de identificação de bacilos Gram-negativos.... 18 Provas de identificaçSo de Pseudomonas sp. 20
Grupo II - Culturas de água 24
Método de colheita......... 24
RESULTADOS 26
Culturas bacteriológicas 26
Culturas mico lógicas 35
Culturas de água de torneira 40
PIBCILSSÕQ 41
CONCLUSÕES 58
S.UMMRRY - 60
REFERÊNCIRS BIBLIOGRÁFICOS 62
v
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
• • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5
• • • • • • _ • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • a _ • • • • • • • • • 10
Grupo I Culturas de vários lc)ca:l.s do centro
c:i. rl:lrg i(:o •••••••••••••••••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10
Método de colheita. • a • • n • • • • • • • • a • • • • • • • a • a • • • • _ • • • 10
Preparo dos meios de cultura ••••••••••••••••••••••••• 11
Semeadura. • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inc:ubaç~o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Identifi.c:aç:~o das b,H: t.ér i a 5 e fungos. a • a • • • • • • • • • • • • • 13
Provas de identificaç~o •••••••••••••••••••••••••••••• 14
Pr'ovas de identificaç:lo de Staph'y"!ocQ.ÇcltS sp. ••••••• 11..
Prova de sensibilidade ~ penicilina •••••••••••••••••• 17
Provas de identificaç~o de bacilos Oram-negativos. 18
. . . . . . . . . . Z0
Gr'upo I I C uI tu r a-s c:t e li 9 u a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Método de colheita ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24
B.~;~ S ld.!-:'!..I.f.'.fJ._Q.ª-. a • .. • .. • .. .. .. .. .. • a • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. a " .. li .. .. .. a .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. Z 6
Culturas bacte,"'iológ ic as. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. a .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 26
Culturas mico16gic.as ••••• .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 35
Cul tur .. :\s de água de torneira. .. • .. .. .. .. .. • • .. .. • .. • .. • .. .. - a .. .. .. .. 40
• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. a .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. • • 41
.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . 58
fJJm.tl8RY.- ••• .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . " .. 60
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • D • 62
v

LISTB DE TOBELflS
1 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas do piso das salas de cirurgias 27
2 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das torneiras dos lavabos do centro cirúr-
gico 28
3 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos laringoscópios do centro cirúrgico 29
4 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das sondas endotraqueais do centro ci-
rúrg ico 30
5 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos tubos dos respiradores do centro
cirúrgico 31
6 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das bacias com o anti-séptico álcool
iodado 32
7 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos campos cirúrgicos estéreis 33
8 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos colchîîes das mesas de cirurgia.... 34
9 Culturas bacterianas positivas de todas as a-
mostras obtidas de diversos locais do centro
cirúrgico 35
10 Culturas micológicas positivas das amostras
obtidas dò piso das salas do centro cirúrgico 36
vi
lIST~ DE T~BEl~~
1 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas do piso das salas de cirurgias ••••••••••••••• Z7
Z Cul tura s bacte1ri ológ icas pos i ti vas das amostras
obtidas das torneiras dos lavabos do centro cirúr-
gico ............................... ;................................................. .......... 28
3 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos laringoscópios do centro cirúrgico •••••••. 29
4 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das sondas endotraqueais do centro ci-
rúrgic:o.............................................. 30
5 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos tubos dos respiradores do centro
cil"'{lrgico ............................................. 31
6 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das bacias com o anti-séptico álcool
i odado.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32
7 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos campos cirúrgicos estéreis ••••••••••••••• 33
8 Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos colc:h3es das mesas de cirurgia ••••••••••• 34
9 Culturas bac:terianas positivas de todas as a
mostras obtidas de diversos locais do centro
cir~trgico ........................... a." ............................................ ",,,........ 35
10 Culturas micológicas positivas das amostras
obtidas dó piso das salas do centro cirúrgico •••••••• 36
vi

11 Culturas micológicas positivas das amostras
obtidas das torneiras dos lavabos 36
12 Culturas micológicas positivas das amostras
obtidas dos laringoscópios 37
13 Culturas micológicas positivas das amostras ob-
tidas dos tubos dos respiradores 37
14 Culturas micológicas positivas de todas as a-
mostras obtidas de diversos locais do centro
c irúrgico . 3?
15 Resultado de todas as culturas bacteriológi-
cas e micológicas da água de torneira » 40
v i i
11 Culturas micol6gicas positivas das amostras
obtidas das torneiras dos lavabos ••••••• ~ ••••••••••• 36
12 Culturas micol6gicas positivas das amostras
obtidas dos laringosc6pios ••••••••••••••••••••••••••• 37
13 Culturas mico16gicas positivas das amostras ob-
tidas dos tubos dos respiradores ••••••••••••••••••••• 37
14 Culturas mico16gicas positivas de todas as a
mostras obtidas de dive~sos locais do centro
cir(trgico .........•............•...•••••.••.••••.•..• 39
15 Resultado de todas as culturas bacteriol6gi-
cas e micol6gicas da ~gua de torneira •••••••••••••••• 40
vii

RESUMO
Com o objetivo de determinar a flora microbiana existente no centro cirürgico do Hospital de Clinicas da Uni-versidade Federai do Paraná, rea1izaram-se 100 culturas para bactérias e 100 culturas para fungos de vários locais do centro cirürgico, no periodo de 29/09/86 a 10/02/87. Foram também realizadas 5 culturas da água das torneiras dos lavabos, prove-niente da rede püblica, para determinar possível fonte de contaminação. Houve crescimento de bactérias em 9 amostras (90,0%) do piso das salas, 3 amostras (30,0%) das torneiras dos lavabos, 6 amostras (60,0%) dos laringoscópios, 6 amostras (60,0%) das sondas endotraqueais, 4 amostras (40,0%) dos tubos dos respiradores, 3 amostras (30,0%) das bacias com álcool iodado, 2 amostras (20,0%) dos campos cirúrgicos e 10 amostras (100,0%) dos colchOes das mesas cirúrgicas. Rs bactérias mais frequentemente isoladas foram o Staphulococcus epidermidis (53,5%) e o Staphulococcus saprophuticus (46,5%), com um Índice global de 76,7% cie resistência á penicilina. Gram-negativos cresceram em 2 amostras (20,0%) dos laringoscópios. 0 cresci-mento de fungos ocorreu em 2 amostras (20,0%) do piso das salas, 2 amostras (20,0%) das torneiras dos lavabos, 2 amostras (20,0%) das lâminas dos laringoscópios, 1 amostra (10,0%) das sondas endotraqueais, 2 amostras (20,0%) dos tubos dos respira-dores e 1 amostra (10,0%) dos colchBes das mesas cirúrgicas. Os fungos mais frequentemente isolados foram os filamentosos (80,0%) e leveduras (20,0%). Não houve crescimento de bactérias é fungos nos fios de sutura de ácido polig1icóiico 00 e * nas luvas cirúrgicas obtidas de pacotes selados. Não houve cresci-mento de fungos nas bacias com álcool iodado e nos campos cirúrgicos. Não foram isoladas bactérias nas 5 culturas de água. Entretanto, o crescimento de fungos ocorreu em todas as culturas de água (100,0%), variando de 2 a 8 colônias por mililitro. Podemos concluir que a flora microbiana do centro cirúrgico do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná era predominantemente composta por Staphulococcus epidermidis e Staphqlococcus saprophuticus altamente resisten-tes ò penicilina. Os métodos utilizados no controle da flora microbiana do ambiente cirürgico não foram efetivos contra Staphulococcus epidermidis. Staphulococcus saprophyticus e fungos. Rs torneiras dos lavabos não eram importantes reserva-tórios de bactérias e fungus. Os cuidados dispensados aos laringoscópios, cânulas endotraqueais e tubos dos respiradores eram inadequados, requerendo reavaliação criteriosa. Naquelas condiçOes, a possibilidade de contaminação por bactérias e fungos da orofaringe e árvore trauqeobrônquica dos pacienteis submetidos a intubação endotraqueal poderia ser de até 94,5%;? 0 processo de esterilização empregado nos fios de sutura de ácido pol ig'1 icó'1 ico e nas luvas cirúrgicas eram eficazes contra bac-térias e fungos. Rs bacias com o anti-ôeptico álcool iodado permitiram o desenvolvimento de bactérias, requerendo reavalia-
v i i i
Com o objetivo de determinar a flora microbiana existente no centro cir~rgico do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paran~, realizaram-se 100 culturas para bactérias e 100 culturas para fungos de vArios locais do centro cirdrgico, no periodo de 29/09/86 a 10/02/87. Foram também realizadas 5 culturas da Agua das torneiras dos lavabos, proveniente da rede pdblica, para determinar possivel fonte de contaminaç~o. Houve crescimento de bactérias em 9 amostras (90,07.) do piso das salas, 3 amostras (30,07.) das torneiras dos lavabos, 6 amostras (60,07.) dos laringoscópios, 6 amostras (60,0%) das sondas endotraqueais, 4 amostras (40,07.) dos tubos dos respiradores, 3 amostras (30,07.) das bacias com Alcool iodado, 2 amostras (20,07.) dos campos cirdrgicos e 10 amostr~s (100,07.) dos colch~es das mesas cir~rgicas. Rs bactér~as mais freqUentemente isoladas foram o StaQhY..lococcus. epidermidi.ã ( 53 , 57.) e o S t a R h y I o c o c cus. s a p l~ o P h Y t i cus (46, 57.), c o m um i n d i c e global de 76,77. de resist@ncia A penicilina. Oram-negativos cresceram em 2 amostras (20,07.) dos laringoscópios. O crescimento de fungos ocorreu em 2 amostras (20,07.) do piso das salas, 2 amostras (20,07.) das torneiras dos lavabos, 2 amostras (20,07.) das llminas dos laringoscópios, 1 amostra (10,07.) das sondas endotraqueais, 2 amostras (20,0%) dos tubos dos respiradores e 1 amostra (10,07.) dos colch~es das mesas cir~rgicas. Os fungos mais freqUentemente isolados foram os filamentosos (80,07.) e leveduras (20,07.). N~o houve crescimento de bactérias ~ fungos nos fios de sutura de ~cido poliglicólico 00 e nas luvas cirdrgicas obtidas de pacotes selados. N~o houve crescimento de fungos nas bacias com Alcool iodado e nos campos cir~rgicos. N~o foram isoladas bactérias nas 5 culturas de água. Entretanto, o crescimento de fungos ocorreu em todas as culturas de ~gua (100,07.), variando de 2 a 8 colOnias por· mililitro. Podemos concluir que a flora microbiana do centro cirdrgico do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná era predominantemente composta por Staphylococcus ~.Q i d. e r·I)}.!.l!t~. e ê.:kitR h Y 1 o c 0J;;..f..J:! s s a Bl-:Q.Q.!:tY ... t.!.f: usa I ta me n t e l~ e s i s t e ntes a penicilina. Os métodos utilizados no controle da flora microbiana do ambiente cir~rgico n~o foram efetivos contra ª,~.E..nl1YJ o c;..Q.ç_ç.~~2. g.n.:l d e r.m.l.Q .. !.~i , ê..lª.R.b . .!:1J...QJ;'.Qf_Ç.'!:'~ â.s..Q l~ o p h Y t i c ti s e fungos. Rs torneiras dos lavabos n~o eram importantes reserva-tórios de bactérias e fungus. Os cuidados dispensados aos laringoscópios, c~nulas endotraqueais e tubos dos respiradores eram inadequados, requerendo reavaliaç~o criteriosa. Naquelas condiç~es, a possibilidade de contaminaç~o por bactérias e fungos da orofaringe e ~rvore trauqeobrOnquica dos pacient~~ submetidos a intubaç~o endotraqueal poderia ser de até 94 5~J O processo de esterilizaç:o empregado nos fios de sutura de'~cido poliglicÓlico e nas luvas cirdrgicas eram eficazes contra bactérias e fungos. Rs bacias com o anti-~eptico ~lcool iodado permitiram o desenvolvimento de bactérias, requerendo reavalia-
viii

ç3o criteriosa quanto ao seu uso. 0 método de limpeza e esteri-lização dos campos cirúrgicos demonstrou ser ineficiente nesta amostra. Os colchOes das mesas cirúrgicas eram importantes reservatórios de bactérias. n água poderia ser uma fonte de contaminaçSo por fungos. Conclui-se deste estudo que, no pe-ríodo de 29/09/96 a 10/02/87, o centro cirúrgico do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná apresentou cresci-mento expressivo de bactérias e fungos em vários locais e instrumentos, que poderiam ser fontes de infecçSo pôs-operatd~ ria em alguns pacientes.
i x
ç~o criteriosa quanto ao seu uso. O método de limpeza e esterilizaç~o dos campos cir~rgicos demonstrou ser ineficiente nesta amostra. Os colch~es das mesas cir~rgicas eram importantes reservatórios de bactérias. R água poderia ser uma fonte de contaminaç~o por fungos. Conclui-se deste estudo que, no período de 29/09/86 a 10/02/87, o centro cir~rgico do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná apresentou crescimento expressivo de bactérias e fungos em v~rios locais e instrumentos, que poderiam ser fontes de infecç~o pós-operatória em alguns pacientes.
ix

INTRODUÇÃO
Pasteur iniciou em 1863 a investigação cientifica
moderna das causas de um problema que aflige a humanidade desde
o inicio de sua histórias a infecçSo.
Baseado nestes estudos, Joseph Lister em 1867 propôs
a primeira medida de anti-sepsia através da lavagem das m3os,
das feridas e dos instrumentos cirúrgicos com ácido fênico,
contrariando as teorias dos miasmas t3o comuns naquela época
(12, 70).
Desde ent3o, inúmeros estudos determinaram profunda
evolução no conhecimento das infecçBes, assim como o advento
dos antibióticos, que revolucionaram o arsenal médico no con-
trole desse problema. Porém, o uso indiscriminado desses anti-
microbianos resultou em um continuo processo de seleçSo de
germes resistentes, favorecendo o aparecimento de infecçBes
hospitalares de dificil controle (2, 4, 6, 8, 15, 42, 43, 61,.
63, 65).
Atualmente, 70% das infecçBes das feridas cirúrgicas
ocorre por germes hospitalares, mais frequentemente o
Staphulococcus sp. (17). Muitos fatores têm participado da pa-
torjênese dessa infecç3o, principalmente aqueles relacionados ao
hospedeiro e ao ambiente do centro cirúrgico (66).
Embora grandes esforços estejam sendo realizados na
tentativa de reduzir os Índices de infecçSo pôs-cirúrgica,
estima-se que ocorram 325 mil infecçBes em feridas cirúrgicas a
cada ano nos Estados Unidos (60). Diferentes autores relatam
,UHRODUCRO
Pasteur iniciou em 1863 a investigaç~o cientifica
moderna das causas de um problema que aflige a humanidade desde
o inicio de sua hist6ria: a infecç~o.
Baseado nestes estudos, Joseph Lister em 1867 propbs
a primeira medida de anti-sepsia através da lavagem das
das feridas e dos instrumentos cirúrgicos com ~cido
contrariando as teorias dos miasmas t~o comuns naquela
(12,70).
m~os,
f~nico,
época
Oesde ent~o, inúmeros estudos determinaram profunda
evoluç~o no conhecimento das infecç~es, assim como o advento
dos antibióticos, que revolucionaram o arsenal médico no con
trole desse problema. Porém, o uso indiscriminado desses anti
microbianos resultou em um continuo processo de seleç~o de
germes resistentes, favorecendo o aparecimento de infecç~es
hospitalal~es de dificil controle (2, li, 6, 8, 15, 1~2, 43, 61"
63 65).
Rtualmente 70% das infecç~es das feridas cirúrgicas
ocorre por germes hospitalares, mais freqUentemente o
S~.JPt:t...Ylºcoccus sp. (17). Muitos fat.ores t~m participado da pa
tog@nese dessa infecç~o, principalmente aqueles relacionados ao
hospedeiro e ao ambiente do centro cirúrgico (66).
Embora grandes esforços estejam sendo realizados na
tentativa de reduzir os indices de infecç~o pós-cirúrgica,
estima-se que ocorram 325 mil infecç~es em feridas cirúrgicas a
cada ano nos Estados Unidos (60). Diferentes autores relatam

o 1.A
Índices de infecção da parede abdominal que variam de 4,7% a
17% (22) e estima-se que os custos causados pela infecção pós-
cirilrgica da ferida operatória nos Estados Unidos sejam de 130
a 845 milhOes de dólares a cada ano (60). Portanto, além da
grande morbidade e mortalidade associadas á infecção, ocorre
uma elevação acentuada dos custos, agravados pelo prolongamento
do período de internação (59). Segundo Cruse (21, 22) a infec-
ção da parede abdominal aumenta o período de internamento em
10,1 dias em média; e o custo do paciente infectado se eleva em
400 dólares a cada dia. 0 custo final do tratamento se eleva
entre 6.700 e 9.500 dólares.
Cohen (17) em estudo semelhante, observou que o pe-
ríodo de internação dos pacientes com infecção se elevou em
média 17,6 dias. Mayhall (60) observou que o aumento do custo
do tratamento dos pacientes com infecção se elevou de 400 a
2.600 dólares.
Stone et. ai-, citado por Cruse (21) estimou a média
do custo adicional causado por uma infecção de parede ou peri-
tônio em 2.686 dólares apenas na parte hospitalar.
Deve-se computar ainda uma série de fatores que
certamente aumentam estes custos, como a utilização de novos
antibióticos causados pelo aparecimento de cepas de microorga-
nismos mais resistentes e que» exigem também estudos laborato-
riais mais sofisticados, as perdas pela falta ao trabalho,
elevação dos honorários médicos, etc. R mortalidade elevada da
infecção gera custos com indenizaçfles, além da perda de mão de
obra produtiva. Exige ainda grandes investimentos em isolamen-
tos, pesquisas de novos antimicrobianos, reoperaçfles e até no
desenvolvimento de nova metodologia no manejo do paciente com
infecção (18, 22, 82).
indices de infecç~o da parede abdominal que variam de 4,7% a
17% (Z2) e estima-se que os custos causados pela infecçlo pós-
cir~rgica da ferida operatória nos Estados Unidos sejam de 130
a 845 milh~ea de dólares a cada ano (60). Portanto, além da
grande morbidade e mortalidade associadas ~ infecç~o, ocorre
uma elevaç~o acentuada dos custos, agravados pelo prolongamento
do periodo de internaç30 (59). Segundo Cruae (21, ZZ) a infec-
ç~o da parede abdominal aumenta o periodo de internamento em
10,1 dias em m~dia; e o custo do paciente infectado se eleva em
400 dólares a cada dia. O custo final do tratamento se eleva
entre 6.700 e 9.500 dólares.
Cohen (17) em estudo semelhante, observou que o pe-
riodo de internaçlo dos pacientes com infecç~o se elevou em
média 17,6 dias. Hayhal1 (60) observou que o aumento do custa
do tratamento das pacientes com infecç~o se elevou de 400 a
2.600 dólares.
Stone et. ai., citado por Cr~se (21) estimou a média
do custo adicional causado por uma infecçlo de parede ou peri-
tanio em 2.686 dólares apenas na parte hospitalar.
Oeve-se computar ainda uma série de fatores que
certamente aumentam estes custos, como a utilizaçlo de novos
antibi6ticos causados pelo aparecimento de cepas de microorga-
nismos mais resistentes e que exigem também estudos laborato-
riais mais sofisticados, as perdas pela falta ao trabalho,
elevaç!o dos honor~rios médicos, etc. R mortalidade elevada da
infecçlo gera custos com indenizaç~es, além da perda de mIo de
obra produtiva. Exige ainda grandes investimentos em isblamen-
tos, pesquisas de novos antimicrobianos, reoperaç~es e até no
desenvolvimento de nova metodologia no manejo do paciente com
infecç~o (18, 22, 82).

Outro fator agravante está na grande falta de leitos
hospitalares que ocorre em nosso meio, além da falta de recur-
sos que há longo tempo vem sucateando toda a estrutura hospita-
lar, elevando o risco de infecções, o que, como já citamos
anteriormente, exigirá enormes recursos para seu controle.
0 hospital é um lugar insalubre por natureza e deve-
mos cuidar para que continue sendo um lugar para promover saúde
e n3o o local para se adquirir mais doenças <8, 75).
É. necessária uma profunda reavaliação das técnicas
executadas nos hospitais, que muitas vezes s3o mantidas erradas
por várias gerações por desinformação ou tradiçSo. fl infecção
cruzada é de fácil prevenç3o através do conhecimento e aplica-
ç3o correta dos cuidados médicos e de enfermagem.
R infecção hospitalar é causada em aproximadamente
30 a 40% das vezes por germes da microbiota normal do paciente
(35) que, nos procedimentos invasivos levam a complicações por
contamiriaçSo dos tecidos adjacentes <5, 18, 33). Neste caso, a
melhora dos cuidados de anti-sepsia leva a uma sensível reduçSo
dos Índices de infecçSo hospitalar.
muito difícil determinar a real concorrência do
ambiente hospitalar na incidência da infecç3o nosocomial, espe-
cialmente nos pacientes cirúrgicos, pois existem inúmeras va-
riáveis particulares para cada caso <44).
Nos últimos anos, esse problema tem recebido espe-
cial atençSo em nosso meio e muitos esforços tem sido envidados
na tentativa de prevenir a infecçSo hospitalar. t. requisito
indispensável o conhecimento dos tipos de germes existentes e
quais os antibióticos mais usados em cada meio, para então se
falar em prevenç3o da infecçSo hospitalar, especialmente no
Outro fator agravante estA na grande falta de leitos
hospitalares que ocorre em nosso meio, além da falta de recur-
50S' que h~ longo tempo vem sucateando toda a estrutura hospita-
lar, elevando o risco de infecç~es, o que, como j~ citamos
anteriormente, exigir~ enormes recursos para seu controle.
O hospital é um lugar insalubre por natureza e deve-
mos cuidar para que continue sendo um lugar para promover saóde
e n~o o local para se adquirir mais doenças (8, 75).
t necess~ria uma profunda reavaliaç~o das técnicas
executadas nos hospitais, que muitas vezes s~o mantidas erradas
por vArias geraç~es por desinformaç~o ou tradiç~o. R infecç~o
cruzada é de f~cil prevenç~o através do conhecimento e aplica-
ç~o correta dos cuidados médicos e de enfermagem.
R infecçao hospitalar é causada em aproximadamente
30 a 40X das v~les por germes da microbiota normal do paciente
(35) que, nos procedimentos invasivos levam a complicaç~es por
contami~aç~o dos tecidos adjacentes (5, 18, 33). Neste caso, a
melhora dos cuidados de anti-sepsia leva a uma sensivel reduç~o
dos indices de infecç~o hospitalar.
t muito diflcil determinar a real concorrência do
ambiente hospitalar na incidência da infecç~o nosocomial, espe-
cialmente nos pacientes cirórgicos, pois existem inómeras va-
ri~veis particulares para cada caso (44).
Nos óltimos anos, esse problema tem recebido espe-
cial atenç~o em nosso meio e muitos esforços tem sido envidados
na tentativa de prevenir a infecç~o hospitalar. t requisito
indispens~vel o conhecimento dos tipos de germes existentes e
quais os antibióticos mais usados em cada meio, para ent~o se
falar em prevenç~o da infecç~o hospitalar, especialmente no

paciente cirúrgico.
0 objetivo desse estudo é a determinação da flora
bacteriana de vários locais do centro cirúrgico do Hospital de
Clinicas da Universidade Federal do Paraná, como subsidio ini-
cial para o estudo das medidas profiláticas da infecção pós-
operatória neste centro médico. Nosso estudo foi baseado na
pesquisa de bactérias e fungos de vários locais, instrumentos e
da água dos lavabos do centro cirúrgico.
paciente cir~rgico.
O objetivo desse estudo é a determinaç!o da flora
bacteriana de v~rios locais do centro cir~rgico do Hospital de
~linicas da Universidade Federal do Paran~ como subsidio ini-
cial para o estudo das medidas profil~ticas da infecç!o p6s
operatória neste centro médico. Nosso estudo foi baseado na
pesquisa de bactérias e fungos de vários locais, instrumentos e
da ~gua dos lavabos do centro cir~rgico.
4

HISTORICO
Rntony Van Leeuwenhoek, nascido em 1632 na Holanda,
foi o primeiro ser humano a contemplar um mundo novo e miste-
rioso, composto por milhares de espécies de seres minúsculos,
através de microscópios simples e primitivos que ele mesmo
construía ('49, 68).
Muito antes, porém, assina lava-se no CeilSo a exis-
tência de hospitais cinco séculos antes de Cristo, fato confir-
mado por documentos históricos. Na Ilha de Cós, conquistada por
Podalirio, filho de Esculápio ou Rsclépio, foi fundado o Asclé-
pio, a cuja sombra se formou e pontificou o gênio de Hipócrates
(460 - 370 a.C.) que observou os efeitos da infecçSo na cica-
trização das feridas. Dele partiram os primeiros cuidados de
anti-sepsia, através da limpeza das rnSos e das unhas antes da
operaçSo e o uso de água fervida e vinho no cuidado das feri-
das. Roma, sob inspiraç3o da Grécia, construiu organizações
hospitalares do tipo asclepiano (27, 73).
Lucretius (96-55 a.C.) observou a característica de
transmissibilidade das moléstias, reconhecendo a existência de
"sementes" das doenças (33).
Galeno (131-201) estabeleceu as bases da escola
greco-romana, reunindo os ensinamentos de Hipócrates aos conhe-
cimentos egípcios da escola de Alexandria. Criou ainda a teoria
humoral sobre a origem das doenças (33, 73).
Seguiram-se séculos de obscurantismo, com a estag-
nação e a degradação da arte médica, agravados pela ascensSo do
cristianismo, que restringiu o exercício da medicina aos mon-
ges, por um decreto de Constantino, o que transformou as orga-
nizações existentes em hospitais cristSos (27, 33).
HISTORIÇO
Rntony Van Leeuwenhoek, nascido em 1632 na Holanda,
foi o primeiro ser humano a contemplar um mundo novo e miste
rioso, composto por milhares de espécies de seres minósculos,
através de microscópios simples e primitivos que ele mesmo
construia (Q9, 68).
Muito antes, porém, assinalava-se no Ceil~o a exis-
tência de hospitais cinco séculos antes de Cristo, fato confir
mado por documentos históricos. Na Ilha de Cós, conquistada por
Podalirio, filho de EsculApio ou Rsclépio, foi fundado o Rsclé
pio, a cuja sombra se formou e pontificou o g~nio de Hipócrates
(460 - 370 a.C.) que observou os efeitos da infecç~o na cica-
trizaç~o das feridas. Dele partiram os primeiros cuidados de
anti-sepsia, através da limpeza das m~os e das unhas antes da
operaç~o e o uso de água fervida e vinho no cuidado das feri
das. Roma sob inspiraç~o da Grécia, construiu organizaç~es
hospitalares do tipo asclepiano (27, 73).
Lucretius (96-55 a.C.) observou a caracteristica de
transmissibilidade das moléstias, reconhecendo a exist~ncia de
"sementes" das doenças (33).
Galeno (131-201) estabeleceu as bases da escola
greco-romana, reunindo os ensinamentos de Hipócrates aos conhe
cimentos eg1pcios da escola de Rlexandria. Criou ainda a teoria
humoral sobre a origem das doenças (33, 73).
Seguiram-se séculos de obscurantismo, com a estag
naç~o e a .degradaç~o da arte médica, agr~vados pela ascens!o do
cristianismo, que restringiu o exercicio da medicina aos mon
ges, por um decreto de Constantino, o que transformou as orga
nizaç~es existentes em hospitais crist~os (27, 33).

6
Após quase um milênio no esquecimento, Ugo de Lucca
(1100) e Theodorico (1205-1296) reviveram os conhecimentos de
anti-sepsia preconizados por Galeno no tratamento das feridas
(33, 73).
Hieronymus Francastorius em 1546 foi o primeiro c
postular a idéia de que o contágio fosse devido a agentes vivos,
criando assim a doutrina do "contagium vivum". Francastoriu«
distingiu também as três formas de contágios contágio d iret<
(pelo contato), o contágio indireto (por meio de objetos de use
do doente) e o contágio à distância (12, 13).
Durante dois séculos esta doutrina foi discutid.
apenas sobre as bases de espeeulaçOes teóricas, até que em 176Í
Plenciz, reconhecendo a descoberta dos micróbios por Leeuwenhoel
em 1675, atribuiu àqueles não apenas a causa das doenças, como
também sugeriu que cada doença teria o seu micróbio especifica
(12, 13, 49, 68).
Após a revelação, por Leeuwenhoel-:, da existência do
mundo cios organismos microscópicos, ainda permanecia a dúvida
sobre sua origem. Needhan (1749) ferveu uma infusão orgânica
para destruir qualquer ser vivo que ali houvesse, fechou-a com
uma rolha de cortiça e verificou que apesar disto a infusão se
turvou de micróbios após algum tempo. Estes, já que não pode-
riam ter vindo de outros pré-existentes naquele meio, deveriam
então ter aparecido por geração espontânea (12, 68).
Spallanzani, em 1776, refutou esta idéia, pois fer-
vendo prolongadamente uma infusão de carne, colocou-a em um
frasco previamente aquecido e fechou-a hermeticamente, obser-
vando então que não se desenvolviam micróbios (12, 49, 68).
Comprovadas essas observaçOes por outros pesquisa-
dores, Pouchet preconizou que, com o aquecimento, expulsava-se
Rpós quase um milênio no esquecimento, Ugo de Lucca
(1100) e Theodorico (1205-1296) reviveram os conhecimentos de
anti-sepsia preconizados por Galeno no tratamento das feridas
(33, 73).
Hieronymus Francastorius em 1546 foi o primeiro i
postular a idéia de que o cont~gio fosse devido a agentes vivos
cl~iando assim a doutl~ina do " contagium vivum". FrancastorilH
distingiu também as três formas de contágio: contágio diret<
(pelo contato), o cont~9 io i nd i l~eto (por' mei.o de objetos de use
do doente) e o cont~gio ~ dist~ncia (12, 13).
Durante dois séculos esta doutrina foi discutidi
apenas sobre as bases de especulaç~es teóricas, até que em 176;
Plenciz, reconhecendo a descoberta dos micróbios por Leeuwenhoe~
em 1675, atribuiu àqueles n~o apenas a causa das doenças, como
também sugeriu que cada doença teria o seu micróbio especifico
(12,134968).
Rpós a revelaç~o, por Leeuwenhoek, da existência do
mundo dos organismos microscópicos, ainda permanecia a ddvida
sobre sua origem. Needhan (1749) ferveu uma infus~o org3nica
para destruir qualquer ser vivo que ali houvesse, fechou'-a com
uma rolha de cortiça e verificou que apesar disto a infuslo se
turvou de micróbios após algum tempo. Estes, j~ que nlo pode
riam ter vindo de outros pré-existentes naquele meio, deveriam
ent;o ter aparecido por geraç!o espont3nea (12, 68).
Spallanzani, em 1776, refutou esta idéia, pois fer
vendo prolongadamente uma infus~o de carne, colocou-a em um
frasco previamente aquecido e fechou-a hermeticamente, obser
vando ent~o que n~o se desenvolviam micróbios (12, 49, 68).
Comprovadas essas observaçBes por outros pesquisa
dores, Pouchet preconizou que, com o aquecimento, expulsava-se
6

7
o ar que seria essencial para a geraç3o espontanêa.
Pasteur (1861) conseguiu ent3o demonstrar que infu-
sões fervidas permaneciam límpidas em frascos abertos desde que
estes possuíssem um colo com trajeto sinuoso onde os micróbios
ficavam retidos e o ar passava livremente. Com esta experiência
Pasteur venceu a batalha da geraçSo espontânea e as eventuais
objeções ao seu trabalho deixaram ent3o de ser levadas a sério
( 1 2 ) .
Em 18MB Henle expôs suas idéias sobre o contágio
através de observações nos doentes com varíola e estabeleceu as
condições para que um agente particular fosse considerado cau-
sador de doença infecciosa:
1. Deveria ser encontrado com constância no corpo do doente.
2. Deveria ser possível isolá-lo e com ele poder-se-ia reprodu-i
zir experimentalmente a doença.
Apesar disto, em 1860 Pettenkofer tentou ainda sus-
tentar a idéia de que a causa das doenças infecciosas tinha
relação com o solo e que os micróbios deviam sofrer uma espécie
de maturação antes de se tornarem infectantes. Teoria esta derru-
bada por Pasteur no ano seguinte nas já citadas investigações
sobre a geraçSo espontânea.
0 ar estando livre de germes e as putrefações sendo
obra de micróbios, deveria ser possível evitar infecções cirúr-
gicas desinfectando previamente o instrumental, o campo operató-
rio e as mSos do cirurgiSo (Lister,1867) (70, 73). Foi assim
instituída a cirurgia anti-séptica, inicialmente recebida com
considerável ceticismo mas que se tornou uma prática comum A
medida que se foi observando seu sucesso na prevençSo da infec-
ção cirúrgica.
'1
o ar que seria essencial para a geraç~o espontanêa.
Pasteur (1961) conseguiu ent~o demonstrar que infu-
s~es fervidas permaneciam limpidas em frascos abertos desde que
estes possuissem um colo com trajeto sinuoso onde os micróbios
ficavam retidos e o ar passava livremente. Com esta experiência
Pasteur venceu a batalha da geraç~o espont~nea e as eventuais
objeç~es ao seu trabalho deixaram ent~o de ser levadas a sério
( 12) •
Em 1948 Henle expOs suas idéias sobre o contágio
através de observaç~es nos doentes com variola e estabeleceu as
condiç~es para que um agente particular fosse considerado cau-
sador de doença infecciosa:
1. Deveria ser encontrado com const~ncia no corpo do doente.
z. Deveria ser possivel isolá-lo e com ele poder-se-ia reprodu-,
zir experimentalmente a doença.
Rpesar disto, em 1860 Pettenkofer tentou ainda sus-
tentar a idéia de que a causa das doenças infecciosas tinha
relaç~o com o solo e que os micróbios deviam sofrer uma espécie
de maturaç30 antes de se tornarem infectantes. Teoria esta der~u-
bada por Pasteur no ano seguinte nas já citadas investigaç~es
sobre a geraç30 espont~nea.
o ar estando livre de germes e as putrefaç~es sendo
obra de micróbios. deveria ser possivel evitar infecç~es cirór-
gicas desinfectando previamente o instrumental, o campo operato-
rio e as m30s do cirurgi30 (Lister.1867) (70, 73). Foi assim
instituida a cirurgia anti-séptica, inicialmente recebida com
considerável ceticismo mas que se tornou uma prática comum &
medida que se foi observando seu sucesso na prevenç~o da infec-
ç~o cir'llrgica.

Semmelweis em 18M7 já havia observado que a mortali-
dade por infecção nas enfermarias em que trabalhavam estudantes
era mais elevada que nas atendidas por parteiras. Convicto de
que isto se devia à vinda dos estudantes diretamente da sala de
dissecçttes para a enfermaria, Semmelweis exigiu destes, a des-
j.nfecç3o das m3os em hipoclorito de sódio, fazendo assim a
mortalidade por infecç3o puerperal baixar de 12% para 1,2% no
Hospital Geral de Viena <70, 73).
Em 1(378 Pasteur comunicou à Academia de Ciências de
Paris seus estudos sobre a existência dos germes, demonstrando
a teoria microbiana da infecção- Pasteur trabalhava ent3o com
meios de cultura líquidos, enquanto Koch, em 1.881, introduziu
os meios sólidos que facilitaram grandemente a técnica de
cultivo de bactérias. Koch desenvolveu ainda a técnica de
fixaçao e coloração atualmente utilizadas em estudos histoló-
gicos. Em 1882, Koch publicou a sua contribuição sobre a etio-
logia da tuberculose e no ano seguinte descobriu o vibriSo da
cólera. Em seguida, Loeffler descobriu o bacilo da difteria e
Gaffky o bacilo tifico <12, 13).
No ano de 1880, vort Bergmann introduziu o uso de
autoclaves no preparo do material cirúrgico, sendo este um
marco histórico do inicio da cirurgia asséptica (22).
Fatos ainda particularmente importantes foram a desco-
berta do primeiro vírus filtrável em 1898 por Loeffler e Frosch
(virus da febre aftosa), a descoberta da espiroqueta da sífilis
em 1905 por Schaudinn e o trabalho sobre o agente etiológico do
tifo exantemático, as rickettsias, por Rocha Lima em 1916 (12).
Grandes avanços ocorreram no campo da microscopia com
a descoberta do ultra microscópio em 1903 por Siedentopf e
Zsigmondy, a fotomicrografia com raios ultravioleta por Barnard
Semmelweis em 1847 jA havia observado que a mortali
dade por infecç~o nas enfermarias em que trabalhavam estudantes
era mais elevada que nas atendidas por parteiras. Convicto de
que isto se devia ~ vinda dos estudantes diretamente da sala de
dissecç~es para a enfermaria, Semmelweis exigiu destes, a des
infecç~o das m~os em hipoclorito de sódio, fazendo assim a
mortalidade por infecç~o puerperal baixar de 12% para 1,2% no
Hospital Geral de Viena (70, 73).
Em 1878 Pasteur comunicou ~ Rcademia de Ciências de
Paris seus estudos sobre a existbncia dos germes, demonstrando
a teoria microbiana da infecç~o. Pasteur trabalhava ent~o com
meios de cultura liquidos, enquanto Koch, em 1881, introduziu
05 meios s6lidos que facilitaram grandemente a técnica de
cultivo de bactérias. Koch desenvolveu ainda a técnica de
fixaçao e coloraç~o atualmente utilizadas em estudos histol6-
gicos. Em 1882, Koch publicou a sua contribuiç~o sobre a etio
logia da tuberculose e no ano seguinte descobriu o vibri~o da
cólera. Em seguida, Loeffler descobriu o bacilo da difteria e
Gaffky o bacilo tlfico (12, 13).
No ano de 1880, von Bergmann introduziu o uso de
autoclaves no preparo do material cirúrgico, sendo este um
marco histÓrico do inicio da cirurgia asséptica (22).
Fatos ainda particularmente importantes foram a desco
berta do primeiro virus filtrAvel em 1898 por Loeffler e Frosch
(vlrus da febre aftosa), a descoberta da espiroqueta da s1f11i5
em 1905 por Schaudinn e o trabalho sobre o agente etiológico do
tifo exantemitico, as rickettsias, por Rocha Lima em 1916 (12).
Grandes avanços ocorreram no campo da microscopia com
a descoberta do ultra microscópio em 1903 por S1edentopf e
Zsigmondy. a fotomicrografia com raios ultravioleta por Barnard
8

9
em 1919 e o microscópio eletrônico por Ruska em 1934.
Numerosos progressos foram realizados nos métodos
de coloraçSo e dos meios de cultura, em que se empregaram
tecidos vivos.
Rpós este período, o ritmo acentuado de descobertas
torna difícil relatar em detalhes os novos avanços na área da
infecção hospitalar.
Na prática, esses avanços vieram a incrementar
os conhecimentos e consequentemente a melhora do manejo clinico
dos pacientes acometidos por infecções. Também clarearam as
idéias sobre os problemas que ocorrem no ambiente que abriga
esses pacientes e que rios últimos anos tem se agravado sobrema-
neira.
No Brasil, o problema vem sendo estudado há longo
tempo, mas passou a receber especial atenção só nos últimos
anos, tendo-se observado grandes avanços nas pesquisas e nas
medidas de prevenção da infecção hospitalar, a exemplo de
outros países.
F.m nosso meio, Ferraz, Zanon, Vasconcelos, Hutzler .
e outros tém se sobressaído no estudo da infecção relacionada
ao ambiente nosocomial, que abrange todos os escalões da estru-
tura hospitalar e até mesmo extra-hosp.italares.
Altemeier, citado por Ferraz (33), resumiu
magnificamente o problema considerando que, apesar de todos os
avanços experimentados no campo da bacteriologia, da aplicação
de todas as técnicas de anti-sepsia e assepsia, da imunização e
do uso dos antibióticos, a infecção é um sério problema que
ainda permanece, a nível mundial.
em 1919 e o microscópio eletrónico por' Ruska em 1934.
Numerosos progressos foram realizados nos métodos
de coloraç30 e dos meios de cultura.
tecidos vivos.
em que se empregaram
Rp6s este periodo. o ritmo acentuado de descobertas
torna difícil relatar em detalhes os novos avanços na Area da
infecç!o hospitalar.
Na pr~tica. esses avanços vieram a incrementar
os conhecimentos e conseqUentemente a melhora do manejo clinico
dos pacientes acometidos por infecçftes. Também clarearam as
idéias sobre 05 problemas que ocorrem no ambiente que abriga
esses pacientes e que nos ~ltimos anos tem se agravado sobrema
neira.
No Brasil. o problema vem sendo estudado h. longo
tempo, mas passou a receber especial atenç~o SÓ nos ~ltimos
anos. tendo-se observado grandes avanços nas pesquisas e nas
medidas de prevenç~o da infecç~o hospitalar. a exemplo de
outros paises.
Em nosso meio. Ferraz. Zanon. Vasconcelos. Hutzler
e outros t~m se sobressaído no estudo da infecç~o relacionada
ao ambiente nosocomial. que abrange todos os escal~es da estru
tura hospitalar e até mesmo extra-hospitalares.
Rltemeier. citado por Ferraz (33). resumiu
magnificamente o problema considerando que, apesar de todos os
avanços experimentados no campo da bacteriologia. da aplicaç~o
de todas as técnicas de anti-sepsia e assepsia. da imunizaçao e
do uso dos antibi6ticos, a infecç~o é um sério problema que
ainda permanece, a nível mundial.
9

MFITERIOL E MÉTODOS
Um total de 205 culturas foram realizadas a partir
de amostras colhidas de vários locais do centro cirúrgico do
Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná, no
período de 29/09/86 a 10/02/87. Os culturas foram divididas em
dois grupos. No grupo I, foram realizadas 200 culturas de 10
locais e equipamentos do centro cirúrgico, 20 de cada ponto
pré-determ.inado, sendo que 10 eram para bactérias e 10 para
fungos. No grupo II foram feitas 5 culturas da água de 5 tor-
neiras dos lavabos do centro cirúrgico, que eram empregadas na
lavagem das mSos e antebraços dos cirurgiOes e suas equipes.
Grupo I - Cultura de vários locais do centro cirúrgico
1. Método de colheita
Foram realizadas 10 colheitas para bactérias e 10
para fungos de 10 pontos pré-determinados de 10 salas de cirur-
gias do centro cirúrgico e seus respectivos lavabos e equipa-
mentos, como enumeramos a seguir:
1.1 - Piso da entrada da sala.
1.2 - Pegadores das torneiras dos lavabos.
1.3 - Lâmina de laringoscôpio pronta para uso, que tinha
sido previamente lavada com água e polivini1pirrolidona-I <PVP-
I> ou sab3o.
1.4 - Sonda endotraqueal pronta para uso, que tinha ©ido
previamente lavada com detergente e escova, enxaguada, colocada
em glutaraldeido por 30 minutos e enxaguada em água esteriliza-
da.
Um total de 205 culturas foram realizadas a partir
de amostras colhidas de vários locais do centro cirúrgico do
Hospital de Clinicas da Universidad~ Federal do Paran~, no
perlodo de 29/09/86 a 10/02/87. Rs culturas foram divididas em
dois grupos. No grupo l. foram realizadas 200 culturas de 10
locais e equipamentos do centro cirúrgico, 20 de cada ponto
pré-determinado, sendo que 10 eram para bactérias e 10
fungos. No grupo 11 foram feitas 5 culturas da ~gua de 5
neiras dos lavabos do centro cirúrgico, que eram empregadas na
lavagem das m~os e antebraços dos cirurgi~es e suas ~quipes.
Grupo I - Cultura de v~rio$ loc~im do centro cirúrgico
1. Método de colheita
Foram realizadas 10 colheitas para bactérias e 10
para fungos de 10 pontos pré-determinados de 10 salas de cirur
gias do centro cirúrgico e seus respectivos lavabos e equipa~
mentos, como enumeramos a seguir:
1.1 - Piso da entrada da sala.
1.2 - Pegadores das torneiras dos lavabos.
1.3 - L~mina de laringoscópio pronta para uso. que tinha
sido previamente lavada com ~gua e polivinilpirrolidona-I (PVP
I) ou si:lb~o.
1.1.. - Sonda endotraqueal pronta para uso. que tinha sido
previamente lavada com detergente e escova, enxaguada. colocada
em glutaraldeido por 30 minutos e enxaguada em ~gua esteriliza
da.

1.5 - Tubo do respirador.
1.6 - Fio de sutura de ácido polig1icólico número 00, obtido de
pacote selado.
1.7 - Luva cirúrgica estéril descartável, obtida de pacote
selado.
1.8 - Bacia contendo álcool iodado a 0,6% de iodo ativo, empre-
gado na anti-sepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica.
1.9 - Campo cirúrgico esterilizado em autoclave a 127°C, por 30
minutos.
1.10 - Colchão da mesa cirúrgica.
Todas as culturas de bactérias e fungos do grupo I
foram realizadas no Laboratório de Parasitologia e Rnálises
Clinicas Paranálise, nesta capital, assim como o preparo dos
meios de cultura e as provas de identificação dos microorganis-
mos encontrados.
2. Preparo dos meios de cultura
0 meio de cultura utilizado na pesquisa de bactérias
foi o Mueller Hinton (DIFCO), acrescido de anti-inibidores e
enriquecedor. R finalidade dos anti-inibidores foi de neutrali-
zar a ação residual dos degermantes utilizados na anti-sepsia
do ambiente cirúrgico. 0 uso de enriquecedor no meio de cultura
visa suprir as exigências vitais dos microorganismos mais sen-
síveis (34). Os anti-inibidores utilizados e suas respectivas
concentrações foram: tween 80 a 1% (MERCK) (inibidor da PVP-I),
lecitina de soja a 0,5% (INLRB) (inibidor da Clorhexidina ) e
tiossulfato de sódio a 1% (MERCK) (inibidor da PVP-I) <14, 19,
20, 46, 56). 0 enriquecedor usado foi o biovitalex a 5%.
Para o acerto do grau de acidez <pH) do meio, foi
utilizado o hidróxido de sódio (NaOH) a 20% e o ácido clorí-
1.5 - Tubo do respirador.
1.6 - Fio de sutura de ~cido poliglicólico ndmero 00. obtido de
pacote selado.
1.7 - Luva cir~rgica estéril descart.vel. obtida de pacote
selado.
1.8 - Bacia contendo ~lcool iodado a 0,6X de iodo ativo. empre
gado na anti-sepsia das m~os e antebraços da equipe cir~rgica.
1.9 - Campo cirdrgico esterilizado em autoclave a 127°C, por 30
minutos.
1.10 - Colch~o da mesa cirdrgica.
Todas as culturas de bactérias e fungos do grupo !
foram realizadas no Laboratório de Parasitologia e Rn~lises
Clinicas Paran~lise nesta capital. assim como o preparo dos
meios de cultura e as provas de identificaç~o dos microorganis
mos encontrados.
2. Preparo dos meios de cultura
O meio de cultura utilizado na pesquisa de bactérias
foi o Mueller Hinton (OIFCO), acrescido de anti-inibidores e
enriquecedor. R finalidade dos anti-inibidores foi de neutrali
zar a aç~o residual dos degermantes utilizados na anti-sepsia
do ambiente cirdrgico. O uso de enriquecedor no meio de cultura
visa suprir as exigéncias vitais dos microorganismos mais sen-
siveis (34). Os anti-inibidores utilizados e suas respectivas
concentraç~es foram: tween 80 a 1X (MERCK) (inibidor da PVP-I),
lecitina de soja a O,5X (INLRB) (inibidor da Clorhexidina )e
tiossulfato de sódio a 1X (MERCK) (inibidor da PVP-!) (14, 19.
20, 46, 56). O enriquecedor usado foi o biovitalex a 5X.
Para o acerto do grau de acidez (pH) do meio. foi
utilizado o hidróxido de sódio (NaOH) a 20X e o ~cido clori-
11

12
drico <HC1) a 20%. 0 pH utilizado neste estudo foi de 7,4, mais
ou menos 0,2 (34).
A técnica de preparo do meio seguiu as etapas que se
descrevem a seguirs
2.1 . Diluição do meios
- Meio de Mueller Hinton 38g
- Tween 80 10 ml (1%)
- Lecitina de soja 5 ml (0,5%)
- Tiossulfato de sódio ..10g (1%)
- rfgua destilada q.s.p. 1000 ml
2.2 . Acerto do pHs
~ Adicionado NaOH a 20% e HC1 a 20% até chegar ao pH de 7,4
mais ou menos 0,2.
2.3 . Esteri1ização do meion
•••• Autoc: lavação a 120 °C por 15 minutos.
2.4 . Resfriamento até 50°C„
2.5 . Adição de biovitalex na proporção de 5%, isto é, 20 ml
para cada 400 ml do meio.
Z.6 . Distribuição nas placas.,
2.7 . Secagem da água de condensação e controle de esterilidade
em estufa a 37°C por 24 horas.
0 meio de cultura utilizado na pesquisa de fungos
foi o ágar Sabouraud (LABORCLIN), em sua forma padrão (50).
3. Semeadura
A semeadura foi feita por estrias, utilizando-se
drico (Hei) a 20X. O pH utilizado neste estudo foi de 7,4, mais
ou menos 0,2 (34).
R técnica de preparo do meio seguiu as etapas que se
descrevem a seguir:
2.1. Diluiç~o do meio~
- Meio de Mueller Hinton •••••••••••••••••••••••• 38g
_. Tween 80 ....................................... 10 ml (1%)
- Lecitina de soja •••••••••••••••••••••••••••••• 5 ml (0,5%)
- Tiossulfato de sódio •••••••••••••••••••••••••• 10g (1X)
- Mgua destilada ••••••••••••••••••••••••••••••••• q.s.p. 1080 rol
2.2. Rcerto do pH:
- Rdicionado NaOH a 20% e HeI a 20% até chegar ao pH de 7,4
mais ou menos 0,2.
2.3. Esterilizaç~o do meio~
- RutDclavaç~o a 120°C por 15 minutos.
2.4. Resfriamento até 50°C.
2.5 • Rdiç~o de biovitalex na proporç~o de 5%, isto é, 28 ml
para cada 400 ml do meio.
2.6. Oistribuiç~o nas placas.
2.7. Secagem da ~gu~ de conden5aç~o e controle de esterilidade
em e5tuf~ a 37°C por 24 horas.
O meio de cultura utilizado na pesquisa de fungos
foi o ~gar Sabouraud (LRBORCLIN). em sua forma padr~o (50).
3. Semeadura
R semeadura foi feita por estrias. utilizando-se
:1.2

swab estéril umedecido em soro fisiológico, em Mueller Hinton e
ágar Sabouraud, obedecendo à seqllència já estabelecida (14,
34). Em seguida, os meios de cultura foram levados prontamente
ao laboratório, sempre dentro de um intervalo de tempo inferior
a uma hora.
4. Incubação
0 meio de Mueller Hinton permaneceu em estufa a
37°C, por 24 a 48 horas e o meio de ágar Sabouraud ficou à
temperatura ambiente por 30 dias.
5. Identificação das bactérias e fungos
Rs colônias bacterianas desenvolvidas no meio de
Mueller Hinton foram inicialmente submetidas â bacterioscopia
pelo método de Oram. Foram repicadas a seguir para meios espe-
cíficos, seletivos quando necessário e posteriormente submeti-
das a provas de identificação bioquímica (34, 72).
Rs cepas de fungos desenvolvidas no meio de ágar
Sabouraud no período de 30 dias, foram submetidas a coloração
com lactofenol. 0 material foi levado ao microscópio entre
lâmina e laminula onde se observou a morfologia dos órg3os de
frutificação o que permitiu a identificação do género. Para
algumas espécies, tornou-se necessário o microcultivo em ágar
batata, que, por ser um meio muito pobre, induz à esporulaç3o
do fungo. Isto permitiu a observação dos órg3os de frutificaç3o
que porventura n3o tinham sido observados diretamente do ágar
Sabouraud. Este processo consistiu em semear o fungo em ágar
batata entre lâmina e laminula estéreis e incubou-se por 24 a
swah estéril umedecido em soro fisiológico, em Hueller Hinton e
~gar Sabouraud, obedecendo ~ seqUência j~ estabelecida (14,
34). Em seguida, os meios de cultura foram levados prontamente
ao laboratório, sempre dentro de um intervalo de tempo inferior
a uma hora.
4. Incubaç~o
O meio de Mueller Hinton permaneceu em estufa a
por 24 a 48 horas e o meio de Agar Sabouraud ficou ~
temperatura ambiente por 30 dias.
5. Identificaç~o das bactérias e fungos
Rs colbnias bacterianas desenvolvidas no meio de
Hueller Hinton foram inicialmente submetidas ~ bacterioscopia
pelo método de Oram. Foram repicadas a seguir para meios espe
cificos, seletivos quando necessário e posteriormente submeti
das a provas de identificaç~o bioquimic~ (34, 72).
Rs cepas de fungos desenvolvidas no meio de ágar
Sabouraud no periodo de 30 dias foram submetidas a coloraç~o
com lactofenol. O material foi levado ao microscOpio entre
l~mina e laminula onde se observou a morfologia dos órg~os de
fr'utificaç~o o que permitiu a identificaç~o do gênero. Para
algumas esnécies, tornou-se necessário o microcultivo em ágar
batata, que, por ser um meio muito pobre, induz ~ esporulaç~o
do fungo. Isto permitiu a observaç~o dos 6rg~os de frutificaç~o
que porventura n~o tinham sido observados diretamente do ágar
Sabouraud. Este processo consistiu em semear o fungo em Agar
batata entre l~mina e laminula estéreis e incubou-se por 24 a
13

horas em câmara úmida á temperatura ambiente. Depois reti-
rou-se cuidadosamente a laminula, colocou-se em lâmina com
lactofenol e observou-se ao microscópio com aumento de 400
vezes. Devido á necessidade de esporulação apresentada pelo
fungo em função da falta de nutrientes no meio de cultura, foi
possível observar com maior nitidez os órgãos de frutificação e
dessa forma determinar o gênero e a espécie (50).
5.1 Provas de'identificação
Os provas de identificação foram específicas para
cada tipo de germe. sendo empregado o seguinte esquemas
5.1.1 Provas de identificação para Staphqlococcus sp.
5.1.1.1 - Bacterioscopia pelo método de Gram
Preparou-se um esfregaço homogêneo, delgado, com uma
alçada da colônia em estudo e uma gota de solução salina em
uma lâmina, a qual foi colocada em solução cristal violeta
fenicada por um minuto. R seguir escorreu-se o corante e co-
briu-se o esfregaço com solução de lugol forte por um minuto. O
esfregaço foi lavado com água corrente e descorado com solução
de álcool-acetona na proporção de ls'3, por aproximadamente 30
segundos, até esgotar o excesso do corante. O esfregaço foi
lavado em água corrente e corado com fucsina fenicada diluída
em água na proporção de .1x10 por aproximadamente 30 segundos.
Lavou-se em água corrente e deixou-se secar. Levou-se ao mi-
croscópio para observação em lente objetiva de imersão com
aumento final de 1000 vezes. Os germes Gram-positivos apresen-
taram coloração violeta e os Gram-negativos apresentaram colo-
ração vermelha.
48 horas em c~mara ~mida A temperatura ambiente. Depois reti-'
rou-se cuidadosamente a laminula. colocou-se em l~mina com
lactofenol e observou-se ao microscópio com aumento de 400
vezes. Devido A necessidade de esporulaçlo apresentada pelo
fungo em funç~o da falta de nutrientes no meio de cultura, foi
possível observar com maior nitidez os órglos de frutificaç30 e
dessa forma dete~minar o g@nero e a espdcie (50).
5.1 Provas de "identificaçlo
Rs provas de identificaçlo foram especificam para
cada tipo de germe, sendo empregado o seguinte esquema:
5.1.1 Provas de identificaç~o para St~~J!locQf~ sp.
5.1.1.1 - Bacterioscopia pelo mdtodo de Gram
Preparou-se um esfregaço homogêneo, delgado, com uma
alçada da colOnia em estudo e uma gota de soluçlo salina em
uma l~mina a qual foi colocada em soluçlo cristal violeta
fenicada por um minuto. R seguir escorreu-se o corante e co
briu-se o esfregaço com soluçlo de lugol forte por um minuto. O
esfregaço foi lavado com ~gua corrente e descorado com soluçlo
de ~lcool-acetona na proporç~o de ln3, por aproximadamente 30
segundos, atd esgotar o excesso do corante. O esfregaço foi
lavado em 6gua corrente e corado com fucsina fenicada diluída
em ~gua na proporç30 de 1:10 por aproximadamente 30 segundos.
Lavou-se em Agua corrente e deixou-se secar. Levou-se ao mi
croscópio para observaç30 em lente objetiva de imers!o com
aumento final de leee vezes. Os germes Oram-positivos apresen
taram coloraç!o violeta e os Oram-negativos apresentaram colo
raçlo vermelha.
14

5.1.1.2 - Prova da catalase
Esta prova foi realizada após a bacterioscopia pelo
método de Gram e teve por finalidade diferenciar o
Staphulococcus sp. do Streptococcus sp. pela identificação da
enzima catalase, presente no gênero Staphulococcus sp.. Utili-
zou-se o seguinte métodos em uma gota de soluçSo fisiológica
sobre uma lâmina dé vidro, emulsionou~se a colônia da bactéria
em estudo. Sobre a suspensão, pingou-se uma gota de água oxige-
nada a 30%. R formação imediata de bolhas de oxigênio indicou a
existência da enzima catalase e portanto a prova foi positiva
para 3taphi|lococcus sp.
5.1.1.3 - Provas de idenficaç.3o da espécie
5.1.1.3.1 Prova do Manitol Utilizou-se o meio de cultura ágar de manitol-sal
comum-vermelho de fenol. Fez-se a semeadura da bactéria em
estudo em placas contendo este meio e incubou-se por 18 a 24
horas a 37°C.
R prova foi considerada positiva nos casos em que a
zona de repique tornou-se de cor amarela. Nesta situaçSo o
germe em questSo foi supostamente o Staphulococcus aureus.
Procedeu-se entSo às provas de confirmação a seguir especifica-
das. Se a zona de repique permanecesse com a cor vermelha
natural do meio, o resultado seria considerado negativo e o
germe em questSo poderia ser o Staphulococcus saprophuticus ou
Staphylococcus epidermídis. posteriormente identificados por
provas especificas.
5.1.1.3.2 Prova da coagulase
Esta prova verificou a capacidade do microorganismo
5.1.1.Z - Prova da catalase
Esta prova foi realizada após a bacterioscopia pelo
método de Gram e teve por finalidade diferenciar o
Q.t,ª-I!.t:l'y'locPMUS sp. do Str.ru!:toç:oç.ÇJ!~. sp. pela identificaç30 d .. ~
enz ima cata lase, presente no g@ner'o Staphyloc_~~ sp •• Uti 1 i'
lou-se o seguinte método: em uma gota de soluç~o fisiológica
sobre uma l~mina ds vidro, emulsionou-se a colOnia da bactéria
em estudo. Sobre a suspens~o, pingou-se ~ma gota de Agua oxige
nada a 30%. R formaç~o imediata de bolhas de oXig@nio indicou a
exist@ncia da enzima catalase e portanto a prova foi positiva
p a f' a ª..t. .. ª.P..h.YJ.fLÇ.fLÇ.Ç,.~!.§. 5 P •
5.1.1.3 - Provas de idenficaç~o da espécie
5.1.1.3.1 Prova do Hanitol
Utilizou-se o meio de cultura Agar de manitol-sal
comum-vermelho de fenol. Fez-se a semeadura da bactéria em
estudo em placas contendo este meio e incubou-se por 18 a 24
horas a 37°C.
R prova foi considerada positiva nos casos em que a
lona de repique tornou-se de cor amarela. Nesta situaçlo o
germe em qltest~o foi supostamente o ê.ta.Jill.Y.!ocoq:;us ªureu~ .•
Procedeu-se ent~o ~s provas de confirmaç~o a seguir especifica
das. Se a zona de repique permanecesse com a cor vermelha
natural do meio, o resultado seria considerado negativo e o
germe em questlo poderia ser o St.ruLt:lylococcLtS ~-ª-P.IJ!rll!yticu!!!. ou
§.!!_4l.P.b.y.LQfS.?r:.ÇJ!..~. ~ . .P.J.~ .. ~.r.mJJ~.! . .?. • P (J!i) t e r i o r m e n t e :\. d e n t. i f i c a d C) 5 P (:1 r
provas especificas.
5.1.1.3.2 Prova da coagulase
Esta prova verificou a capacidade do microorganismo
1.5

coagular o plasma através da enzima coagulase, que se apresenta
sob duas formas: coagulase ligada e coagulase livre.
Fl coagulase ligada converte o fibrinogênio em fibri-
na diretamente, sem os fatores de coagulação. fl coagulase
livre reage com o fator de coagulação do plasma, formando uma
substância semelhante à trombina» Esta substância converte o
fibrinogênio em fibrina, utilizando plasma citratado humano ou
de coelho, estéril e diluído na proporção de la1» de solução
fisiológica. Utilizou-se o método em tubo, que é mais sensível
para detectar tanto a coagulase ligada quanto a livre. Usaram-
se colônias crescidas em meio ágar-manitol-sal comum-vermelho
de fenol, pois a produção da enzima coagulase se intensifica
quando o germe é crescido em meio contendo alta concentração de
cloreto de sódio.
Semeou-se o germe em estudo, em um tubo contendo o
plasma diluído e incubou-se a 37°C, por 24 horas. Fizeram-se
leituras periódicas a cada duas horas, pois algumas espécies
produzem também a estaf.iloquinase que dissolve o coagula forma-
do. (F i br inó 1 i se) .
Procurou-se utilizar sempre colônias puras, pois a
presença de uma colônia de Streptococcus sp. beta-hemolitico
destrói qualquer coágulo formado, levando a resultados falso
negativos.
Fl presença de coagulação foi considerada como resul-
tado positivo, que indica ser o germe; em questão o
S.tj.X!h.ü 1.£}coccus ai,Ar;eus_.
5.1.1.3.3 Prova da sensibilidade A novobiocinas
Esta prova teve por finalidade avaliar a sensibili-
dade de certas espécies de Staphglococcus sp. em presença da
coagular o plasma através da enzima coagulase, que se apresenta
sob duas formas: coagulase ligada e coagulase livre.
R coagulase ligada converte o fibrinog@nio em fibri
na diretamente, sem os fatores de coagulaç~o. R coagulase
livre reage com o fator de coagulaç~o do plasma, fOl~manc:lo uma
substSncia semelhante A trombina. Esta substancia converte o
fibrinog@nio em fibrina utilizando plasma citratado humano ou
de coelho, estéril e diluido na proporç~o de 1~4 de soluç~o
fisiológica. Utilizou-se o mdtodo em tubo, que é mais sensível
para detectar tanto a coagulase ligarl~ quanto a livre. Usaram
se ColÔTlias crescidas em meio ~gar-manitol-sal comum-vermelho
de fenDI, pois a produçlo da enzima coagulase se intensifica
quando o germe é crescido em meio contendo alta concentraç~o de
cloreto de sódio.
Semeou-se o germe em estudo, em um tubo contendo o
plasma diluído e incubou-se a 37°C, por 24 horas. Fizeram-se
leitUl~as pel~iódic:as a cada duas hor'as, pois algumas espécies
produzem também a eslafiloquinase que dissolve o coagulo forma
do. (Fibrinólise).
Procurou-se utilizar sempre colônias puras, pois a
pr'esença de uma colônia de StJ:::'ê'p.!.Qr;.oC;f.1U! sp. beta--hemol:f.tico
d f:~ S t 1"' (H q l.l a 1 q IH~ r' c () c\ 9 ti 1 Cl f n r m i:l d (;) ,
negativos.
levando a re!:l\.llt.~ldos f.:11so····
R presença de coagtllaç~o foi considerada como resul-
toado posi t:i.vo, que
5.1.1.3.3 Prova da sensibilidade A novobiocina:
Esta prova teve por finalidade avaliar a sensibili
dade de certas espécies de ~taphyloc.ºccM sp. em presença da
:1.1.,

novobiocina. Semeou-se a bactéria em estudo numa placa de
ágar sangue. Sobre ela, colocou-se um disco de novobiocina de 5
microcentigramas e incubou-se a 37°C, por 18 a 24 horas. Se
houve a formação de halo de inibiçSo do crescimento com mais de
16 mm, significou que o germe foi sensível, o que definiu a
presença de Staphulococcus epidermidis. R ausência do halo de
inibiçSo, ou a presença de halo menor ou igual a 16 mm signifi-
cou que o germe foi resistente, o que indicou a presença de
Staphy.1 ococc:_us sap_rgptvy.ti.cus.
Os resultados das provas de identificaç3o podem ser resumidos de acordo com o seguinte esquemas
Prova S.aureus S. epidermidis S - saprophijticus
cata läse + +
manitol + - -
coagulase + - -
sens.novobiocina R S R
Rpós a identificaç3o, a prova de sensibilidade à
penicilina foi realizada para as colônias de Staphulococcus sp.
pois esta prova é de interesse fundamental para os estudos
clínicos e tem por principio observar o grau de inibição que
este antibiótico, por difusão no meio de cultura, consegue
determinar no crescimento deste germe (9, 10).
5.1.1.3.4 Prova de sensibilidade â penicilina
Fez-se uma suspensão da colônia de Staphulococcus sp.
em soluç3o salina estéril e semeou-se em um meio de Mueller
Hinton. Colocou-se sobre a semeadura um disco de penicilina Q
1 '7
novobiocina. Semeou-se a bactéria em estudo numa placa de
~gar sangue. Sobre ela, colocou-se um disco de novobiocina de 5
microcentigramas e incubou-se a 37°C, por 18 a Z4 horas. Se
houve a formaç~o de halo de inibiç~o do crescimento com mais de
16 mm, significou que o germe foi sens1vel, o que definiu a
presença de Sti!Phy lococcus epidernlid i s.. R aus~nc i a do ha 10 de
inibiç~o, ou a presença de halo menor ou igual a 16 mm slgnifi-
cou que o germe foi resistente, o que indicou a presença de
Oc-.:> resultados das provas de identificaç~o podem ser
resumidos de acordo com o seguinte esquema=
catalase + ...
manitol +
coagulase +
sens.novobiocina R s R
Rp6s a identificaç~o, a prova de sensibilidade ~
penic i 1 i na foi rea 1 i z ada par'a as colÔnias de Sti!.P-h.YJ.oc~~_ sp ..
pois esta prova é de interesse fundamental para os estudos
clinicos e tem por principio observar o grau de inibiç~o que
este antibiótico por difus~o no meio de cultura, consegue
determinar no crescimento deste germe (9, 10).
5.1.1.3.4 Prova de sensibilidade ~ penicilina
Fez-se uma suspens:!o da colôni a de ~l!:.i!.phy lococcu!, sp ..
em soluç~o salina estéril e semeou-se em um meio de Mueller
Hinton. Colocou-se sobre a semeadura um disco de penicilina O

de 10 microcentigramas <mcg> (LOBORCLIN) e incubou-se a 37 °C,
por 24 horas. Fez-se então a leitura do halo de inibição forma-
do ao redor do disco de penicilina. Considerou-se o germe
sensível, se o halo de inibição tivesse sido maior ou igual a
29 mm. Quando o halo de inibição foi menor que 29 mm ou ausen-
te, considerou-se o germe resistente á penicilina.
5.1.2 Provas de identificação de bacilos Gram-negativos.
ttprts a bacterioscopia pelo método de Oram, Já des-
crita anteriormente, os germes considerados Gram-negativos
foram isolados e repicados para o meio seletivo de MacConkey,
que favorece o crescimento de bacilos Gram-negativos, uma vez
que o crescimento de outras bactérias é inibido. Hpós um pe-
ríodo de incubação em estufa a 37°C por 24 horas, iniciaram-se
as provas de idenficação, que são riescritaa a seguir.
5.1.2.1 - Prova da fermentação de açúcares
Esta prova teve por finalidade indicar se o germe
tinha ou não a capacidade de degradar um açúcar especifico
incorporado ao meio de cultura, resultando na formação de ácido
e ou formação de gás visível. Os açúcares utilizados foram»
glicose, lactose, rhamnose e sacarose.
5.1.2.2 - Prova da produção de ácido sulfídrico (M2B)
Detectou-se a liberação de ácido sulfídrico por ação
enzimática, a partir de aminoácidos sulfurados, os quais, rea-
gindo com os íons férricos do citrato de ferro amoniacal exis-
tente na composição do meio, produzem um precipitado negro de
sulfato ferroso.
de 10 microcentigramas (mcg) (LRBORCLIN) e incubou-se a 37°C.
por 24 horas. Fez-se ent~o a leitura do halo de inibiç~o forma
do- ao redor do disco de penitilina. Considerou-se o germe
sensivel. se o halo de inibiç~o tivesse sido maior ou igual a
29 mm. Quando o halo de inibiç~o foi menor que 29 mm ou ausen
te. considerou-se o germe resistente ~ penicilina.
5.1.2 Provas de identificaç~o de bacilos Oram-negativos.
Rpós a bacterioscopia pelo método de Gram. jA des-
crita anteriormente os germes considerados Oram-negativos
foram isolados e repicados para o meio seletivo de MacConkey.
que favorece o crescimento de bacilos Oram-negativos, uma vez
que o crescimento de outras bactérias é inibido. Rpós um pe-
riodo de incubaç~o em estufa a 37°C por 24 horas. iniciaram-se
5.1.2.1 - Prova da fermentaç~o de aç~cares
Esta prova teve por finalidade indicar se o germe
tinha ou n~o a capacidade de degradar um aç~car especifico
incorporado ao meio de cultura resultando na formaç~o de ~cido
e ou form~çlo de gAs visfvel. Os aç~cares utilizados foramn
glicose. lactose, rhamnose e sacarose.
5.1.2.2 - Prova da produç~o de Acido sulfidrico (H2S)
Detectou-se a liberaç~o de ácido sulfidrico por aç~o
enzimAtica, a partir de amino~cidos sulfurados. os quais, rea
gindo com os ions férricos do citrato de ferro arnoniacal exis-
tente na composiç~o do meio,
sulfato ferroso.
produzem um precipitado negro de
18

5.1.2.3 Prova da motilidade
Utilizando-se o meio semi-sólido do Enterokit LE3
(LRBORCLIN), observou-se a migração das bactérias móveis para
fora do ponto de repique.
5.1.2.4 Prova da ornitina
Esta prova teve por objetivo observar a descarboxi-
lação da ornitina, que foi evidenciada pela viragem do pH,
ocasionando mudança de cor no meio de cultura. Considerou-se a
prova positiva quando a cor do meio se tornou diferente do
amarelo. Esta prova auxiliou na identificação de germes Gr.am-
negativos fermentadores de açúcares.,
5.1.2.5 Prova da produção de indol
Utilizando-se um meio de cultura rico em triptofano,
permitiu-se que as bactérias produtoras de triptofanase hidro-
lisassem e desaminassem o triptofano, produzindo indol, ácido
pirúvico e amónia (NH3). 0 indol foi identificado pela formação
de um complexo de coloração vermelha quando em presença de
reativos que continham o grupo aldeído ( para,-d imeti 1-amino-
benzaldeido) .
5.1.2.6 Prova da degradação da uréia
PI degradação da uréia ocorreu por ação da urease,
com a liberação de amónia e gás carbónico (CC)2>. 0 amónia
reage, em solução, formando o carbonato de amónio, que alcali-
niza o meio, elevando o pH. Este aumento foi indicado pela
viragem de coloração do meio, que passou do amarelo para o
vermelho, mediante a presença do vermelho de fenol encontrado
no meio.
5.1.2.3 Prova da motilidade
Utilizando-se o meio semi-sólido do Enterokit LB
(LRBORCLIN), observou-se a migraç~o das bactérias móveis para
fora do ponto de repique.
5.1.2.4 Prova da ornitina
Esta prova teve por objetivo observar a descarboxi
laç~o da ornitina. que foi evidenciada pela viragem do pH,
ocasionando mudança de cor no meio de cultura. Considerou-se a
prova positiva quando a cor do meio se tornou diferente do
amarelo. Esta prova auxiliou na identificaç~o de germes Gram
negativos fermentadores de aç~cares •.
5.1.2.5 Prova da produç~o de indol
Utilizando-se um meio de cultura rico em triptofano,
permitiu-se que as bactérias produtoras de triptofanase hidro
lisassem e desaminassem o triptofano, produzindo indol, ácido
pir~vico e amônia (NH3). O indol foi identificado pela formaç~o
de um complexo de coloraç~o vermelha quando em presença de
reativos que continham o grupo aldeido (para,-dimetil-amino
benzaldeido).
5.1.2.6 Prova da degradaç~o da uréia
A degradaç~o da uréia ocorreu por aç~o da ureaée.
com a liberaç~o de amônia e g~s carbônico (C02). R am6nia
reage, em soluç~o, formando o carbonato de amônio, que alcali-
niza o meio elevando o pH. Este aumento foi indicado pela
viragem de coloraç~o do meio que passou do amarelo para o
vermelho, mediante a presença do vermelho de fenol encontrado
no meio.
19

5.1.2,.7 Prava da degradação do citrato
Baseou-se no princípio de que algumas bactérias
utilizam o citrato como fonte de energia, pois o mesmo é para
estes germes a ünica fonte de carbono. Estas bactérias retiram
o grupo amino (N2) de sais de amónio, alca1inizando o meio e
produzindo hidróxido de amónio (NH40I-I), que pode ser identifi-
cado pelo indicador azul de bromotimol, que assume a coloração
azul quando o pH está acima de 7,6.
5.1.2.8 Prova da descarboxilação da lisina
H descarboxilação da lisina gora a cadaverina, que
aumenta o pH do meio de 5,6 para 7,0, o que favorece o cresci-
mento das bactérias. Este efeito promoveu a viragem do indica-
dor, que passou do amarelo para o violeta, na parte profunda do
tubo.
5.1.3 Provas de identificac.ão de Pseudomonas sp.
Flpós a bact.erioscopia pelo método de Gram, a identi-
ficação de bacilos Gram-negativos e o repique destes para o
meio seletivo de MacConkey e levado a estufa a 37°C por 24
horas, as colónias foram submetidas ás seguintes provas para
identificação de Pseudomonas sp..
5.1.3.1 Prova da fermentação da glicose
Esta prova já foi descrita entre as provas de fer-
mentação de açúcares. 0 Pseudomonas sp. não fermenta a glicose,
logo, a prova é negativa.
5.1.3.2 Prova da oxidase Baseia-se no fato de que a bactéria possui uma
5.1.2.7 Prova da degradaç~o do citrato
Baseou-se no principio de que algumas bactérias
utililam o citrato como fonte de energia, pois o mesmo é para
estes germes a ~nica fonte de carbono. Estas bactérias retiram
o grupo amino (N2) de sais de amÔnia, alcalinilando o meio e
produzindo hidr6xido de amônio (NH40H) que pode ser identifi
cado pelo indicador azul de bromotimol, que assume a coloraç30
al·ul quando o pH estc1 ac:ima de 7,6.
~).1.Z.8 Pr'Clva da de!:oc:af'bc)xilar;:Jo da lisin.'3
n de!:>c:ar'bc»cili:H;~I:) da lj.!:;:!,na fJIi'H'a.'3 I::ê"daver'i.na, qU(~
aumenta o pU do meio de 5,6 para 7,0, o que favorece o cf'esci'
mento das bactérias. Este efeito promoveu a viragem do indica
dor, que passou do amarelo para o violeta, na parte profunda do
tubo.
5.1.3 Provas de identificac:~o de E's,gud.omo..D-ª .. ã sp.
Rpós a bac:teriosc:opia pelo método de Oram a identi
ficaç~o de bac:ilos Oram-negativos e o repique destes para o
meio seletivo de Mac:Conkey e levado a estufa a 37°C por 24
horas as colOnias foram submetidas ~s seguintes provas para
i d ent i f i c a ç:;' o d e e.~~IJ..!!QJ!.'!.QJ]it3. s p ••
5.1.3.1 Prova da fermentaç~o da glicose
Esta prova j~ foi descrita entre as provas de fer
mentaç30 de aç:~cares. O Pseudomon~~ sp. n30 fermenta a glicose,
log~, a prova é negativa.
5.1.3.2 Prova da oxidase
Baseia-se no fato de que a bactéria possui uma

enzima chamada indofenoloxidase, cuja reação de oxidação foi
evidenciada quando em presença do reativo tetrameti1-parafeni-
lenodiamino a 1%. Quando a reação de oxidação foi positiva, a
tira de papel impregnada com o reativo adquiriu a cor púrpura.
5.1.3.3 Provas de fermentação e oxidação
Rs provas de fermentação e oxidação baseiam-se na
capacidade de meta boiização de carboidratos pela bactéria em
duas condições: aeróbica e anaerobicamente. R principal dife-
rença entre elas consiste no Fato de ser a fermentação um
processo anaeróbico que requer uma fosforilação inicial da
glicose antes de sua degradação. R oxidação, na ausência de
compostos inorgânicos como o nitrato ou o sulfato, ê um proces-
so estritamente aeróbico envolvendo a oxidação direta de uma
molécula não fosforilada de glicose,com menor produção de ácido
que a fermentação.
5.1.3.4 Formação de pigmento piocianina e fluorceina
t. a simples observação da formação do pigmento ca-
racterístico de determinada espécie no próprio meio de cultura
de Mueller Hinton.
5.1.3.5 Prova de crescimento a 42°C
Esta prova é caracteristicamente positiva para o
Pseudomonas aeruqinosa. pois outras espécies não crescem a
esta temperatura.
fl técnica laboratorial utilizada para as culturas
das bactérias e fungos das amostras obtidas dos diversos locais
do centro cirúrgico está resumida nas figuras I e II.
enzima chamada indofenoloxidase, cuja reaç~o de oxidaç~o foi
evidenciada quando em presença do reativo tetrametil-parafeni
lenodiamino al~. Quando a reaç~o de oxidaç~o foi positiva, a
tira de papel impregnada com o reativo adquiriu a cor púrpura.
5.1.3.3 Provas de fermentaç~o e oxidaç~o
n. provas de fermentaç~o e oxidaç~o baseiam-se na
capacidade de metabollzaç~o de carboidratos pela bactéria em
duas condiç~es= aeróbica e anaerobicamente. R principal dife
rença entre elas consiste no fato de ser a fermentaç~o um
processo anaeróbico que requer uma fosforilaç~o inicial da
glicose antes de sua degradaçJo. R oxidaçJo. na aus~ncia de
compostos inorg~nicos como o nitrato ou o sulfato, é um proces
so estritamente aer6bico envolvendo a oxldaçJo direta de uma
molécula nJo fosforilada de glicose,com menor produç~o de ~cido
que m fermentaç~o.
5.1.3.4 Formaç~o de pigmento piocianina e fluorce1na
t a simples observaç~o da formaç~o do pigmento ca
racterlstico de determinada espécie no próprio meio de cultura
de Mueller Hinton.
5.1.3.5 Prova de crescimento a 4ZoC
Esta prova é caracteristicamente positiva para o
E?eudo~on~~ aeruginosa,
esta temperatura.
pois outras espécies n30 crescem a
R técnica laboratorial utilizada para as culturas
das bactérias e fungos das amostras obtidas dos diversos locais
do centro cirúrgico est~ resumida nas figuras I e 11.
21

f..t fy.i
FIGURO I - Esquema da técnica de cultura de bactérias das
amostras colhidas dos diversos locais do centro
c irürg ico.
Colheita ! ! *
Mueller Hinton + anti-inibidores + enriquecedor j ! +
Bacterioscopia (Gram) / \
/ \ / \
Cocos Gram-positivos ! I *
Identificação de cocos ! I
S>ensibi 1 idade à penicilina
/
Positiva
Bacilos Gram-negativos i
Meio de MacConketj !
Fermentação da glicose / \
\ \ \
* Negativa
/ /
/
Identificação de
germes fermentado-
res <Enterobactérias)
Identificação de
germes não fermentado-
res(Pseudomonas sp.)
FrOURR I - Esquema da técnica de cultura de bactérias das
amostras colhidas dos diversos locais do centro
Colheita
... Hueller Hinton + anti-inibidores + enriquecedor
! ! ...
Bac ter i osc Opi.l (Gram) I
I I
Cocos Gram-positivos ! I ~
Identificaç~o de cocos !
I ~
Sensibilidade A penicilina
\ \
Bacilos Gram-negativos ! I ...
Meio de MacConkey I
I ...
Fermentaç~o da glicose I \
I \ I \
I \ ~ ...
Positiva Negativa I
I I
'" Ident:lfiC:i:lç~l1 de~ Identificaç~D de
germes fermentado- germes n~o fermentado-
res (Enterobactérias)
. .,,'. ,:.1':.1

FIGURA II - Esquema da técnica dc-> cultura de fungos das amos-
tras colhidas dos diversos locais do centro ci-
rúrgico.
Colheita ! !
Meio ágar Sabouraud ! !
*
Incubação por 38 dias à temperatura ambiente / \
/ /
* posi tivo
/ /
/
\ \
* negativo
I ! *
microcultivo em
ágar batata / \
\
negativo
/
posi tivo /
/
ColoraçSo com lactofenol j ! <1/
Microscopia ! I *
Identificação através da observação dos 6rg3os de frutificação
no caso de fungo filamentoso (bolor) e através de provas espe-
cificas no caso de levedura (forma celular).
FIGURR 11 - Esquema da técnica de cultura de fungos dai amos-
tras colhidas dos diversos locais do centro ci-
rúrgico.
Colheita
~
Meio Agar Sabouraud !
~
Incubaç~o por 30 dias ~
/ temperatura ambiente ,
/ /
~ positivo
/ /
/
\ , W
negativo ! ,
.w microcultivo em
~gar batata / \
/ \ ~ ~
positivo negativo
/ W
/
Coloraç~o com lactofenol , ~
Microscopia I
~ Identificaç~o através da observaç~o dos 6rg~os de frutificaç~o
no caso de fungo filamentosa (bolor) e ~través de provas espe-
cificas no caso de levedura (forma celular).
23

Grupo II - Culturas de água
1. Método de colheita
Foram colhidas 5 amostras de água fria de diferentes
torneiras dos lavabos do centro cirúrgico. 0 número de 5 amos-
tras foi considerado suficiente, visto que o hospital possui um
sistema hidráulico que recebe água tratada da rede pública. Os
culturas do grupo II foram realizadas nos laboratórios do
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) , conforme métodos
padronizados. Foram observados todos os cuidados de anti-sepsia
na colheita das amostras, os quais s3o expostos a seguir.
Colheita de água de torneira
Deixou-se escorrer a água durante 5 minutos, fechou-
se a torneira, que foi flambada e aberta novamente. Deixou-se
escorrer a água por mais 2 minutos. 0 frasco esterilizado foi
destampado com todos os cuidados de anti-®epsia, enchida com
água até 3/M de sua capacidade e fechado novamente.
Nas culturas da água pesquisou-se a contagem de
bactérias do grupo coliforme total (CCT), contagem de bactérias
do grupo coliforme fecal (CCF), contagem total de bactérias
mesófilas (CTBM) e contagem total de bolores e leveduras
<CTBL). (FIGURO III).
A técnica laboratorial das culturas de água seguiu a
orientaçSo da Associaç3o Americana de Saúde Pública, Associa-
ção Americana dos Trabalhadores de rigua e Federação de Con-
trole de Poluiç3o da Agua (7).
Grupo 11 - Culturas de Agua
1. Método de colheita
Foram colhidas 5 amostras de água fria de diferentes
torneiras dos lavabos do centro cirúrgico. O número de 5 amos
tras foi considerado suficiente. visto que o hospital possui um
sistema hidrA~lico que recebe ~gua tratatla da rede pública. Rs
culturas do grupo 11 foram realizadas nos laborat6rios do
Instituto de Tecnologia do Paran~ (TECPRR), conforme métodos
padronizados. Foram observados todos os cuidados de anti-sepsia
na colheita das amostras. os quais s~o expostos a seguir.
Colheita de ~gua de torneira
Deixou-se escorrer a ~gua durante 5 minutos. fechou
se a torneira. que foi flambada e aberta novamente. Deixou-se
escorrer a ~gua por mais 2 minutos. O frasco esterilizado foi
destampado com todos os cuidados de anti-mepmia. enchido com
Agua até 3/4 de sua capacidade e fechado novamente.
Nas culturas da Agua pesquisou-se a contagem de
bactérias do grupo coliforme total (CCT>. contagem de bactérias
do grupo coliforme fecal (CCF>. contagem total de bactérias
mes6filas (CTeM) e contagem total de bolores e leveduras
(CTBL). (FIGURR 111).
R técnica laboratorial das culturas de ~gua seguiu a
orientaç~o da Rssociaç~o Rmericana de Saúde Pública. Rssocia
ç~o Rmericana dos Trabalhadores de ~gua e Federaç~o de Con
trole de Poluiç~o da ~gua (7).
24

2 5
FIGURH III - Esquema da técnica utilizada nas culturas da água
colhidas das torneiras dos lavabos do centro ci--
rúrg ico.
Colheita
/
Contagem de bactérias do grupo coliforme
! *
Método de tubos múlti-plos com meio de cul-tura caldo lactosado
j
Incubação a 37°C por 4E) horas
/ \ * i-
Caldo bile ágar eosi • verde bri™ na azul de lhante 2% metileno
! ! • if
Incubação a Incubação 35+2°C por 40 hs.
! ! *
Leitura di-reta do n2 mais prová-vel por 100 ml de amos-tras de baç_ térias do grupo coli-forme total
! 4/
Contagem total de bactérias mesófilas
!
Meio á <:j a r p a d r ã o para contagem
! i-
Várias diluições ! !
Plaqueamento V
Incubação a 35 + 2°C por 40 horas
! V
Contagem a 35 +2 °C por 24 horas
! !
Triagem ! i-
Meio de Pessoa e SilvaíIHL, ou Rugai modificado) "j
! * Incubação a 35+2°C por 24 horas. *
IMVIC 4-
Confirmação de bacilos Gram-negativosíindicador de con-taminção fecal por E. Coli)
\
Contagem de bolores e leveduras j
• Meio ágar batata-dex trose + solução de ác.tartárico á 10%
!
Plaqueamento com 1 ml de água da diluição da amostra + 15 a 20 ml do meio
Incubação por 5 dias a 25°C.
! ! ! *
Contagem / \ * *
Bolor Levedura (Fungo fila- (Forma celu-mentoso) lar)
FIGURR I1l o.' Esquema da técnicc:l ut.:lU.zada nas cultur'as da ' t1gua
colhidas das torneiras dos lavabos do centro ci-
/ ~
rLtrg ico.
Colheita ~
! 011
\ ~
Cont.agem de bactérias do grupo coliforme
Contagem total de bactérias mesófilas
Contagem de bolores e leveduras
! ~
Método de tubos m~ltiplos com meiCI de r~ul-
tura caldo lactosado ! ~
Incubaç~o a 37°C por 40 horas
/ \ ~ v
Caldo bile ver'de bri-' lhante 2%
+ Incubaç~o a
por 40 hs.
c\gal"' eOl:.i .. ·· na azul de metileno
! v
Incubaça'o a 35 ~· .. 2 °C por 2 1 •• horas
!
v Triagem
! 011
Meio de
011
M t;! i o .:1 fJ .H' P a d dT o par'a cont,agl1m
!
V.:1r'ial; diluiçefes ! !
011
PlaqueamEHltcl 011
Incubaç~o c:l :?;5 ... ;~ 0(; por' 1..1:1 horas
! ,ti
ContaçJem
+ Leitura direta do n~ nl."is p,~ov.:\·"·
vel por 100 ml de amostras de haç;" tér'ias do grupo coliforme total
Pessoa (-:1
BiJ.va(IRL ou Rugai modificado)
! , ~
Incubaça'o a 35:!~ZoC por 24 horas • ..
IHVIC .. Confirmaç~o de bacilos Gramnegativos(indicador de contaminç~o fecal por ~. Col~)
! ~
Meio .:\g a I" batata'-'dex"~ trose + soluç~o de c\cMtartc\rico·á 10% , .. Plaqueamento ele "'~Jua da
c:L1m 1 ruI diluiç~(J
+ 15 a 2m da amostl"'a m1 do meio
I ~
Incubaça'o pOI"' :5 dias a Z5°C.
\fi Contagem
/ \ 011 ~
Bolor Levedur~
(Fungo fila- (Forma celu-ment.oso) lar)

RESULTADOS
Para a análise? dos resultados, foram avaliadas sepa-
radamente as culturas do grupo I ( diversos locais do centro
cirúrgico ) e do grupo II (água das torneiras).
1. Culturas do grupo I (diversos locais do centro cirúrgico).
Os resultados das culturas desse grupo foram subdi-
vididos em culturas bacteriológicas e culturas micológicas.
1.1 Culturas bacteriológicas
1.1.1 Piso das salas de cirurgias. Nas 10 amostras colhidas do piso das salas de cirur-
gias, ocorreu o crescimento de bactérias em 9 casos (90,0%),
sendo encontrado o St a phy lococcus ep i der mi d is em 5 amostras
(50,0%)e o Staphylococcus saprophyticus nas outras 4 amostras
(40,0%). 0 número de colônias por amostra variou de 3 a 31 para
o Staphylococcus epidermidis com a média de 17,2. Para o
Staphyiococcus saprophyticus. o número de colônias variou de 2
a 58 por amostra, com a média de 17,5. Todas as cepas encontra-
das foram resistentes à penicilina (100,0%) .(Tabela 1).*
!1E§.P.LIHPg$..
Para a análise dos resultados, foram avaliadas sepa
radamente as culturas do grupo I ( diversos locais do centro
cirúrgico) e do grupo 11 (água das torneiras).
1. Culturas do grupo I (diversos locais do centro cirúrgico).
Os resultados das culturas desse grupo foram subdi
vididos em culturas bacteriol6gicas e culturas micol6gicas.
1.1 Culturas bacteriológicas
1.1.1 Piso das salas de cirurgias.
Nas 10 amostras colhidas do piso das salas de cirur
gias, ocorreu o crescimento de bactérias em 9 casos (90,B%),
se n d o e n c o n t r a d o o §jdu~h.Y.l.º_çJ;tÇ;.f..!A§. ~.IÜ.f.lJltL~1.t~t!.§. e In 5 a mos t r as
( ~5 0 , 0/. ) e () §..t...!U1Jl.Y..!,!~Ç o "çJ;.!:!.§. ?"ª.'p'!':'Q.I-!.h.Y..'tt~~.IJ..~ nas ou t r a l5 LI a mos t r a s
(40,0%). O número de colônias por amostra variou de 3 a 31 para
o §"t a .P.hY.l.9 c .Q.çJ;: .. !:.\.?. ~..Pl.çI_~_r.:.!!l..! . .!:!j,_?_ c o m a m é d i a de 1 7 , Z • P a r a o
Staphylocqcc.u~ si!..P..rq.P.b . .Ytic'!ã, o m\mero de colônias variou de Z
a 58 por amostra, com a média de 17,5. Todas as cepas encontra
das foram resistentes ~ penicilina (100,0%) .(Tabela 1)."

Tabela 1: •••• Culturas bac:teriológ icas positivas das amostras
obtidas do piso das salas de cirurgias.
ne. da amostra bactév •ia n2 „ col. res. pen.
O La epidermid is 5 R
3 Sta phq lococcus epidermidis 31 R
M Staphiilococcus sa prophqt icus 7 R
5 Sta phq lococcus sa prophqticus 5 8 R
6 Sta phii lococcus saprophqticus •1 LA R
7 Sta phq lococcus epidermidis ':» Í~Í o R
0 S t a p h u 1 o c o <:: c u s epidermid is O r.r t\, J R
9 Sta phi) lococcus epidermid is 3 R 10 Sta phq lococcus sa propluj t icus R.
nS.col- número de colônias res.. pen„= resistência à penicilina
1.1.2 Torneiras dos lavabos.
Nas 10 culturas colhidas das torneiras dos lavabos,
houve crescimento de bactérias em 3 casos (30,0%) e o germe
isolado foi o Staphiilococcus saprophqticus em todas as culturas
positivas. 0 número de colônias foi de 1 ou 2 por amostra,
sendo o germe sensível à penicilina em 1 caso (33,3% das amos-
tras positivas) e resistente a esse antibiótico nos outros 2
casos (66,7%). (Tabela 2)
Tabela 1: - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas do piso das salas de cirurgias.
nQ. da amostra bactér'ia
2 ê .. t..ª .. P..tU:lJ.9 .. Ç,,!?,.Ç;..!;;.H.1?. ~ .. p.ü1g.r._I!\.ttU .. ?.. 5 R
3 êJ, a .p..n.Y .. 1..m; . .Q.ç;J;;'.!J.~. ~.P..!JÜ~ .. r.:mJ .. !;!.i ~ .. 31 n
q êJ!.ª.P.D.Y.l.f!f:..f!,Ç.,Ç"J:!.?_ 1?.ª-.PJ:'JU!ll.Y...tJ c.MÊ .. 7 n
5 $.1..éJ .. nlly.!..o c fLÇJ';"~~.§. ?!:l..p.J::fw!.1yj.!i,Ç .. 1.~~ .. 58 n
6 ê .. t!.ª .. llil1tlfH; .. m;'.!;'.!:!Ê .. ~.!"!..PJ:'Ç!.I!.!J...Y..t!..tç; .. !:.l .. ? .. 2 n
7 §Jd!.J!.!J.'y"!.ç!,Ç; .. m;'.L!:!.l:? .. ~.pJ .. !;Lm:.m.t!:! .. tã 22 H
8 n.t .. ª-.I!,tl . .Y .. 1.f:1..f,;,.!:1.!; .. f:.,!gt ~ .. PJ..Q'!-]J:.~m.tJLt5 .. 2~\ n
9 $.1..~ .. P.h.!:L! .. P.EP.LC Igf.. fl.P..t9.g .. !:.m.t!H .. ?.. ." .:> n
1.0 ê .. t~..1!h..Y..1.Pf..n .. E.!;;,.~!.~ .. f:L<ilJJ.r .. 9J!h.Y. .. t.!f..1!.~ .. 3 R.
nº.col= n~mero de colOnias res.pen.= resist@ncia ~ penicilina
1.1.2 Torneiras dos lavabos.
Nas 10 culturas colhidas das torneiras dos lavabos,
houve crescimento de bactérias em 3 casos (30,0~> e o germe
po!:,j.U.vas. () m\mer'o de coHhd.élS ftli dl="! 1 ou;:. por' amost,ra,
sendo o germe sensível A penicilina em 1. caso (33,3% das amos-
tras positivas' e resistente a esse antibiótico nos outros 2
C.:lSOS (66,7:'0. (Tabela Z>

Tabela 2 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das torneiras dos lavabos do centro cirúr-
gico.
n?.da amostra bactéria nS.col. res. pen.
3 Staphylococcus saprophyticus 1 S
6 Sta phylococcus sa prophyticus O / - * R
10 Staphylococcus saprophyticus 9 R
n3.col-número de colônias res„ pen.=resist6ncia à penicilina
1.1.3 Laringoscópios.
Entre as 10 amostras colhidas das lâminas dos la-
ringoscópios limpos e prontos para uso, 6 (60,0%) apresentaram
crescimento de germes, sendo encontrado Pseudomonas stutzerii
em 1 caso <10,0%), com o número de colónias superior a 500,
c o n c o m í t a n t e m e n t e com Sta phylococcus sa prophy t icus. Pr o teus
mirabilis foi encontrado em 1 caso <10,0%), com o desenvolvi-
mento de 3 colônias, simultaneamente com Sta phulococcus
epiderniidis. 0 Sta phy lococcus sa prophyticus cresceu em 4 amos-
tras <40,0%) com o número de colônias sendo de 3 em uma amos-
tra, 250 em uma amostra e superior a 500 em duas amostras. 0
Staphulococcus epidermidis cresceu em 2 amostras <20,0%), com
88 colônias em uma e com contagem superior a 500 colônias em
outra. Todas as cepas de S.tap̂ iyJ.pc.oc.ç.us, sp. colhidas nesse
local foram resistentes à penicilina <100,0%). <Tabela 3).
Tabela 2 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das torneiras dos lavabos do centro cirúr-
gico.
---------------------------------------------------------------, n2.da amostra bactéria n2.col. res. pena
3 f,t~.ª. p..hy.J.Q.!;'Q.Ç,; .. ç;.~~r? .? .. ª-p..r_Q.p.t.~.y.1â:.Ç;1\..m. 1 (" ~
6 p. . .t .. ª1!.D .. y .. !gç,.Q..ç,.ç.",U!!. ~JUH.:J:?P..t.l.yJ i.ç .. ~U~. 2 R
10 ª.:t_i!.IÜ!.Y1.Q.!;.r~.~ .. ""51 &!'H.! r:Q.P..hY..t_;!,J;J!.:?. 2 R
nO.col=número de colbnias res. pen.=resistência ~ penicilina
1.1.3 Laringosc6pio!;.
Entre as 10 amostras colhidas das l~minam dos la-
ringosc6pios limpos e prontos para uso, 6 (60,0%) apresentaram
c resc i mento de 9 el"mes, sendo enc ontrad o E_m.~!:!,Q.º.m.Qn.ª-1ã 1!:t.!:,-t.1J~ .. r.l1
em 1 caso (10,0%), com o número de colOnias superior a 500,
m..tr .. ªbi1 .. !..ã. foi encontl"ado em 1 caso <1.0,0%), com rJ desenvolvi'-
mento de 3 colônias, simultaneamente com Staphylococcu~
tras (40,0%) com o nÚmero de colônias sendo de 3 em uma amos-
tra 250 em uma amostra e superior a 500 em duas amostras. O
p..:.t. a.p.b.Y.lº .. c;.º~_ç; li §. ~.Q.!.QJ~.r.nL:t.Q.i.ã. c Y' e s c e u em 2 a In os t Y' a s ( 20 • 0" ) , c o m
80 colônias em uma e com contagem superior a 500 colônias em
outra. Todas as cepas de f~.:t.-ª . .p.hY.lg"ç;"Q.f. .. ç;.~,.1?. sp. colhidas nesse
local foram resistentes ~ penicilina (100 0%). (Tabela 3).

Tabela 3 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas der» 1 aringoscópios do centro cirügico,.
n2 -da amostra bactéria n-. col. res. pevi.
1 stut zeri 1, > 500 —
1 > 500 R
3 saprophyticus 3 R
M S ta ph t| lot: oc c us sa proph g tic: us > 500 R
5 Staphqlococcus sa prophqticus 250 R
7 Sta phqIqçpççus ep i der mi. d is 00 R
10 S1 a p h i.[ 1 o c: o c c u s e p :i. d e r m 1 d 1 s > 500 R
10 Protêts m ira. |i> i 3. i.iji 3 ...
n2.ct)l.= número de colônias res.pen.™ resistência à penicilina
1.1.M Sondas endotraqueais.
Nas 10 amostras colhidas de sondas endotraqueais
limpas e prontas para uso, o crescimento de microorganismos foi
observado em 6 casos (60,0%). 0 Btaphyloçoc e p1d e rm1d i s foi
isolado em 3 amostras (30,0%) e o Staphqlococçus saprpphgticus
nas outras 3 (30,0%). 0 número de colônias variou de 1 até
contagem superior a 500 e apena?; Z cepas (33,3% das amostras
positivas), ambas de Staphulococcus epidermidis foram sensíveis
à penicilina. Rs outras '( cepas (66,7%) foram resistentes a
esse antibiótico. (Tabela M) .
Tabela 3 - Culturas bacteriológicas positivas das ~mostras
obtidas dos laringoscópios do centro cir~gicD.
---------------------------------------------------------------bactéd.i:l n~. c:ol. T'!;!S. peno
---------------------------------------------------------------:1. E~~~.~g.!:1..~;~.'n.P_n.fJ .. l~. ~t..\:tt!: . .P.!::.ti .. :> ~)Ii)0
l. !;?.t.f:1 .. p.IJ.ll.1 .. Q.~;; .. ç'_ç; .. ç~g.2.. li} .. f:! . .n.r.Q.P.!J1J.:tj:_E.\.~.~ .. :::. ~:;e)m n
3 §.t!.ª .. Qll.Y .. LQ.r:..!;?'f .. Ç:..~L~L 2A . .pr9...(1.!.l.llJd .. E.H.~!.. 3 n
1.1 êJ~ . .!:~ .. nh1Ll.º.Ç~gf.f.1!â. l!i~l .. p..r.:_q.nhll .. ttç~\:Ufr. ). ~H~~) H
5 §_t!~,-pJll!.l_Q.LºJ;;S~.hl_~_ l:'.i .. !1.n.r .. 91Ül . .u.~~jJ.;J~.2.. 25~) H
7 ª1-ª .. p..b..YJ . .Ç!.Ç; .. Qf._ç:_~!~. f::~n.i-..~j.g.r.mt.~tL~. ElO H
10 fJ.:!~_ª_p..tl.!l.!..Q.ç~rJ.r.~.x,;,1.l..:.":!.. r: .. n.;L~L~.J:~.mAI:!..J .. ~ " ~)(i)li) H .•..
10 [:r.f:?td~W .. fil m.j:.J~~!l!1j .. Ltm. ::1
n~.col.= n~mero de colônias res.pen.= resistência a penicilina
l .. l .. LJ Sondas endotraqueais.
Nas 10 amostras colhidas de sondas endotraqueais
limpas e prontas para uso, o crescimento de microorganismos foi
I;) b s l~ T' V a d o e m 6 c a f.? C) !:, ( 6 CI) , lil % ). () §.:~iUÜ1.Y.JJ2.E.Q.E5;;J!.~. Q..p.ü!.~J:.mAQ.;!' .. ~.. f o :1.
nas outras 3 (30,0%). o n~mero de colónias variou de 1 até
contagem superior a 500 e apenas Z cepas (33,3% das amostras
à penicilina. Rs outras 4 cepas (66,7%) foram resistentes a
esse antibiótico. (Tabela 4).

Tabela 4 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das sondas endotraqueais do centro cirúi—
g ico.•
n2 .da amostra bactéria n? .col. res. pen.
3 Staphqlococcus epidermidis 2 S
4 Staphqlococcus sa prophqticus 1 R
5 Staphqlococcus epidermidis 3 R
6 Staphqlococcus epidermid is 300 S
9 Sta phqlococcus saprophqticus > 500 R
10 Staphqlococcus sa prophqticus 3 R
n2.col.= número de colônias res.pen.- resistência k penicilina
1.1.5 Tubos dos respiradores.
Quatro <40,0%) das 10 amostras colhidas dos tubos
dos respiradores apresentaram crescimento de germes, sendo
isolado o Staphtilocpccus epidermidis em 2 amostras <20,0%) e o
Staphqlococcus saprophuticus nas outras 2 <20,0%). 0 número de
colônias variou de 2 até uma contagem superior a 500. Destas,
uma cepa <25,0% das amostras positivas) foi sensível à penici-
lina e as outras 3 <75,0%) foram resistentes a esse antibióti-
co. <Tabela 5).
Tabela 4 - Culturas bacteriol6gicas positivas das amostras
obtidas das sondas endotraqueais do centro cirúr-
gico •.
n2 .da amostra bactéria nº.col. res. pen.
3 fJ!.Ull.Y.l o ~ c c Lt~. ~!..d ermj,.!U s Z S
4 !?J, a .P.Jly'1 QJ;.~tç;.ç;-,!§. s ~.p.rJ}..p""h"'y.!.!.ç,.t}J! 1 R
5 !?J,_ª-Itl:!.Y.l.QJ;.ºÇ,J;~.y'!' !.ltt d e.r..r!t~J~j, s ::; R
6 §.:t.àI!hy.l.º-c;.ºç,.Ç,.~~!. ~Q.!.!!~.r..m i.~.!.li 300 S
9 ª t a .P-'lY.J..-ºJ;.º-ç,.Ç,.!:t~. 2.ª.P..rJ~.p.l1Y.:t..!~~ ~ ). 500 R
10 s t..~Uth.Y..l.:.QÇ,.º-c cus. ã.ª..P..r.:.Q.llllY.1-.!.9:L!! 3 R
n2.col.c nómero de colOnias res.pen.~ resist@nci~ ~ penicilina
1.1.5 Tubos dos respiradores"
Quatro (40,0%) das 10 amostras colhidas dos tubos
dos respiradores apresentaram crescimento de germes, sendo
i s o I a d o o ª-.'t-ª..P..b.Y.IQ.Ç"QÇ,.Ç,Jlã ~lLt!t~.r.!11!jH.§. em Z a mos t, r a s (Z 0 , 07. ) e o
§taphylococcus saprgphyticus nas outras Z (20,07.>. O n~mero de
colOnias variou de Z até uma contagem superior a 500. Destas,
uma cepa (25,0% das amostras positivas) foi senslvel ~ penici-
lina e as outras 3 (75,07.) foram resistentes a esse antibiOti-
c o. (Ta be 1 a 5).

Tabela 5 - Culturas bacteriolrtgic.as positivas das amostras
obtidas dos tubos dos respiradores do centro ci-
rúrgico .
n? .da amostra bactéria n2.col. res. pen.
2 Staphulococcus saprophqticus > 500 8
2 Staphulococcus epidermidis 2 R
8 Staphulococcus saprophqticus 2 R
10 Staphulococcus epidermidis 2 R
nS„colm~ número de colônias res.pen.= resistência à penicilina
1.1.6 Fios de sutura.
Não houve crescimento de germes em nenhuma das 10
amostras colhidas dos fios de sutura de ácido poliglicólico
número 00.
1.1.7 Luvas cirúgicas estéreis.
Não houve crescimento de germes entre as 10 amostrais
colhidas de luvas cirúgicas estéreis obtidas de pacote selado e
prontas para uso.
1.1.8 Bacias com anti-séptico álcool iodado.
0 crescimento de bactérias ocorreu em 3 (30,0%) das
10 amostras colhidas da porção interna das bacias contendo
álcool iodado, utilizado na anti-sepsia das mãos e ante-braços
da equipe cirúgica. Nos 3 casos, o germe isolado foi o
Staphulococcus epidermidis e o número de colônias variou de 1 a
3 por amostra. Destas, uma cepa (33,3% das amostras positivas)
Tabela 5 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos tubos dos respiradores do'centro ci-
"'\lrg ico.
n~.da amostra bactéria n2.col. res. peno
2- §.:t.a phy l-º-<;;''pg.~.~ ã.cltP!:'Q.n!1.Y.1.i c..!:!.ã. > 500 S
Z S tª .. phY.!.P,..Ç~.ã. flP..1Q.~...r:.n, i d i ã. Z R
8 Sta.P.Jly"lo,!;..Qccus. ã.àQ.l:Q,p..b...Y..t.!.r:J!.? Z R
10 S t a p l:l.Y.1..Q c o.ç c l!§. !õl1!.tº.~.r. m i g.i.l! Z R
n2.col.=·n~mero de colOnias rem.pen.= resistência à penicilina
1.1.6 Fios de sutura.
N~o houve crescimento de germes em nenhuma das 10
amostras colhidas dos fios de sutura de ~cido poliglicólico
m\mero 00.
1.1. 7 Luvas circtgicas estéreis.
Nlo ho~vm cr~scimento de germes entrm as 10 amostr~m
colhidas de luvas circtgicas estéreis obtidas de pacote selado e
prontas para uso.
1.1.8 Bacias com anti-séptico ~lcool iodado.
o crescimento de bactérias ocorreu em 3 (30,0X) das
10 amostras colhidas da porç~o interna das bacias contendo
~lcool iodado, utilizado na anti-sepsia das m~os e ante-braços
da equipe cir\lgica. No~ 3 casos, o germe isolado foi o
Staphy,!.oc.Q.Çcus epidermidis e o mimero de colOnias variou de 1 a
3 por amostra. Destas, uma cepa (33,3% das amostras positivas)
31

foi sensível à penicilina e as outras 2 <66,7%) mostraram-se resistentes a esse antibiótico. (Tabela 6).
Tabela 6 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas das bacias com o anti-séptico álcool iodado.
n?.da amostra bactéria nfi.col. res.pen.
4 Staphulococcus epidermidis 1 8
5 Staphulococcus epidermidis 3 R
6 Staphulococcus epidermidis 3 R
nS.col.» número de colônias res.pen.= resistência à penicilina
1.1.9 Campos cirúgicos estéreis.
Das 10 amostras colhidas de campos cirúgicos esteri-
lizados em autoclave, 2 (20,0%) apresentaram crescimento de
microorganismos. Em 1 caso (10,0%) o germe isolada foi o
Staphqlococcus epidermidis e a contagem de colônias foi de 17,
todas sensíveis à penicilina. No segundo caso (10,0%), o germe
encontrado foi o Staphulococcus saprophutiçus. com uma contagem
superior a 500 colônias resis'tentes h penicilina, t conveniente
salientar que esta amostra foi colhida de um campo cirúgico
que apresentava remendos e sinais de lavagem inadequada (man-
chas). (Tabela 7).
foi senslvel à penicilina e as outras Z (66,?X) mo~traram-se
resistentes a esse antibi6tico. (Tabela 6).
Tabela 6 - Culturas bacteriol6gicas positivas das amostras
obtidas das bacias com o anti-séptico ~lcool iodado.
n~.da amostra bactéria n2 • cal. res.pen. ---------------------------------------------------------------
4 ? t a Jlb.YJ_º~ . .PC_!;;J..l s, ~lt;l~ e..r.m..t~ i s 1 S
5 Sta phy locQ.cc;J!§. ~ i ~_ru:.m_!.fLl.!i 3 R
6 S t -ª..P. h.YJ_~qç~4..:~ g.pj:J~,g.r.!ll.!.~l?. 3 R
n2.col.= na mero de colônias res.pen.= resistência à penicilina
1.1. 9 Campos ciragicos estéreis.
Das 10 amostras colhidas de campos ciragicos esteri
lizados em autoclave, Z (Z0,07.) apresentaram crescimento de
microorganismos. Em 1 caso (10,0X) o germe isolado foi o
Staphylococcus epidermidis e a contagem de colenias foi de 17,
todas sensíveis ~ penicilina. No segundo caso (10,0X), o germ~
e n c o nt r a d o f o i o P..1.!lJ.!h.Y.lº~.gg.y_~ !-ª.Jlr..Q..P..t!.Y.1.!_~ .. Y.!L c o m uma c o n ta g em
superior a 500 colOnias resi~tentes ~ penicilina. t co~veniente salientar que esta amostra foi colhida de um campo cirQgico
que apresentava remendos e sinais de lavagem inadequada (man-
chas). (Tabela ?).

Tabela 7 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos campos cirúgicos estéreis»
n2.da amostra bactéria nS.col. res.pen.
Staphulococcus epidermidis 17 S
? Staphulococcus saprophuticus > 5 0 0 R
nS.col.= número de colônias res.pen.- resistência à penicilina
1.1.10 Colchões das mesas cirúrgicas.
Observamos o crescimento de germes em 100,0% ' das
amostras colhidas dos colchões das mesas de cirurgia. Destas, 7
amostras (70,0%) revelaram o crescimento de Staphulococcus
epidermidis e em 3 amostras (30,0%) houve o crescimento de
Staphqlococcus saprophuticus. 0 número de colônias variou de 1
a 216 e em 6 casos (60,0%) o germe foi resistente â penicilina.
Nas outras M amostras (40,0%), cresceram germes sensíveis a
esse antibiótico. (Tabela 8).
..... "'11'
.:J .. ~
Tabela 7 - Culturas bacteriológicas positivas das amostras
obtidas dos campos cir~gicos estéreis.
n~"da amostra bactér'ia r'es. pen.
I·f 17 s
7 )- 500 R
nº.col.= n~mero de co16nias res.pen.= resistência ~ penicilina
1.1.10 Colch~es das mesas cir~rgicas.
Ob5ervamos o crescimento de germes em 100,0X· das
amostras colhidas dos colch~es das mesas de cirurgia. Destas, 7
amostras (70,0%) revelaranl o crescimento de StaP!lyloco.!;...ÇJ,Ui
~.p..!.f!er.:w_iJU .. ª- e em 3 amostras (30,0%) houve o cr'esc imento de
ªtaphylococcus saprophyticu~. O ndmero de colÔnias variou de 1
a 216 e em 6 casos (60,0~) o germe foi resistente ~ penicilina.
Nas outras 4 amostras (40,0~), cresceram germes sens1veis a
esse antibiótico. (Tabela 8).

Tabela 8 - Culturas bacteriológlcas positivas das amostras
obtidas dos colchOes das mesas de cirurgia.
n .da amostra 1 bactéria n .col. res.pen.
1 Staphulococcus sa prophut i c u 5 1 S
2 Sta phulococcus epidermidis 10 R
3 Staphulococcus epidermidis 21 R
4 Staphulococcus epidermid is 216 S
5 Staphulococcus saprophuticus 23 S
6 Staphulococcus saprophuticus 2 S
7 Staphulococcus epidermid is 10 R
8 Staphulococcus epidermid is 5 R
9 Staphulococcus epidermid is 49 R
10 Staphulococcus epidermidis 2 R
n . col.« número de colónias res.pen.= resistência à penicilina
No total de 108 culturas realizadas para bactérias,
ocorreu crescimento de Sta phii lococcus sp. em 43 amostras
(43,0%), com o número de colônias variando de 1 até acima, de
500. Destas 43 colônias positivas, 33 (76,7%) foram resistentes
à penicilina e apenas 10 (23,3%) foram sensivei-s a esse anti-
biótico.
Separando-se a incidência quanto à espécie, observa-
mos que das 43 colônias positivas para Staphulococcus sp., 23
(53,5%) foram Staphulococcus epidermidis e 20 (46,5%) foram
Staphu l o c o c c u s saprophuticus. 0 resistência à penicilina ocor-
reu em 18 das 23 amostras positivas de Staphulococcus
epidermidis (78,3%) e em 15 das 20 amostras positivas de
Staphulococcus saprophuticus (75,0%). 0 indice de sensibilidade
à penicilina foi de 21,7% para o Staphulococcus epidermidis e
34
Tabela 8 - Culturas bacteriológicas positivas das
obtidas dos colch~es das mesas de cirurgia.
n .da amostl"a bactéria n .col. res.pen.
1 Staphylococcus saprophyticus 1 S
Z Staphylococcu',!. epidermidis 10 R
3 Staphylococcus lli?idernlidis 21 R
4 S t.!lP.bJil..QS.Q.~~. !utiderm id is. 216 S
5 . Sta ph y 1 oc occ uS. ãi!.P.l~O ph Y t i c li s. 23 S
6 Sta ph y 1 oc oc C lI~. !?a pro.phy t i cus. 2 S
7 !3taphylococ.Q!.ã ~'p'!derm id i s. 10 R
8 staphylococcus ~.Jli. d er'm i di s. 5 R
9 Staphylococcus ~idel~mid i S 49 R
10 Sta~hylococclls 'epidermidis 2 R
n • col.~ n~mero de colOnias res.pen.= resistência ~ penicilina
No total de 100 culturas realizadas para bactérias,
ocorreu cl~escimento de stª-P..!lY..lP~cu~. sp. em 43 amostras
(1..3,0X), conl o nllnlel~o de colOnias variando de 1 até acinla. de
500. Destas 43 colônias positivas, 33 (76,7X) foram resistentes
~ penicilina e apenas 10 (23,3%) foram sensíveis a esse anti-
bi6tico.
Separando-se a incidência quanto ~ espécie, observa-
mos que das 43 colônias positivas para Staphylococclls sp •• 23
(53,5%) foram Staphylococcll!l!. epidermiçlis, e 20 (46,5"> foram
s ~-ª . ..P..b..Y1 .. 9.b.o ç c: I,Ui ~.H.Q.P..b..Y..t i C;_~.§. • R r e s i s t ê n ci a c\ p e n i c i 1 i n a o c or-
reu em 18 das 23 amostras positivas de Staphylococcll1!,
~pidftr:m_tç!.i.~. (78,3"> e em 15 das 20 amostras positivas de
Staphylococclls saprophyticlls (75,0"). O indice de sensibilidade
c\ penicilina foi de 21,7X para o §taphylococcus epidermidis e

de 25,0% para o Staphulococcus saprophuticus. fi tabela 9 resume os resultados obtidos nas culturas para bactérias do grupo I.
Tabela 9 - Culturas bacterianas positivas de todas as amostras
obtidas de diversos locais do centro cirúrgico.
Local n 2 . B.epidermidis S.saprophqticus total amostras res.pen. sens. res.pen. sens.
Piso das salas 10 5 0 M 0 9
Torneiras dos lavabos 10 0 0 2 1 3
Laringoscópios 10 ry c . 0 •4 0 6
Sondas endotraqueais 10 1 2 3 0 6
Tubos dos respiradores 10 2 0 1 1 M
Fios de ác. poliglicòlico 10 0 0 0 0 0
Luvas cir. estéreis 10 0 0 0 0 0
Bacias com álcool iodado 10 2 1 0 0 3
Campos cirdrg. estéreis 10 0 1 1 0 2
ColchOes das mesas cir. 10 6 1 0 3 10
res.pen.= resistência á penic i1ina sens.« sensível á penicilina
1.2 Culturas micoltígicas
1.2.1 Piso das salas de cirurgias.
Nas 10 amostras colhidas do piso das salas de cirur-
gias, observou-se o cre scimento de fungos em 2 casos <20, \
0X> .
Foi identificado fungo fi lamentoso nas 2 amostras. sendo uma
delas o Pénicillium sp.. (Tabela 10) m
de 25, ex para o §taphylococcus saproptl.Y..tic'!!.. R tabela 9 resume
os resultados obtidos nas culturas para bactérias do grupo I.
Tabela 9 - Culturas bacterianas positivas de todas as amostras
obtidas de diversos locais do centro cir~rgico ..
---------------------------------------------------------------Local nº • S • ~!!.:!:.!~~.t.m..ü1.!.l!. S .. ~-ª.p.ro p h Y ti q~.!. total
amostr'as r'es. pen. sens. res.pen. sens. --------------------------------------------------------------_. Piso das salas 10 5 0 4 0 9
Torneiras dos lavabos 10 0 0 2 1 :3
Laringoscópios 10 Z 0 4 0 6
Sondas endotraqueais 10 1 2 3 0 6
Tubos dos respiradores 10 2 0 1 1 4
Fios de cic. po 1 ig 1 i c:cH :I.Cl1 10 0 0 0 0 0
Luvas c i T' • esté'~eis 10 0 0 0 0 0
Bacias com Alcool iadado 10 2 1 0 0 3
Campos circtrgn estéreis 10 0 1 1 0 2
Colc:h~es das mesas ciT'. 10 6 1 0 ::1 10
res.pen.= resist~ncia ~ penic:ilina sens. c sensível A penicilina
1.2 Culturas micalógicas
1.2.1 Piso das salas de cirurgias.
Nas 10 amostras colhidas do piso das salas de cirur-
gias, observou-se o crescimento de fungos em Z casos (20,0X).
Foi identificado fungo filamentoso nas 2 amostras, sendo uma
d f::-]. i.~ s o ['...c~u:Ü .. t;.} lJjJ:!.!n. s p •• ( Ta be I a 10) ..

Tabela 10 - Culturas micológicas positivas das amostras obtidas
do piso das salas do centro cirúgico.
n^.da amostra fungo
1 Fungo filamentoso
9 Fungo filamentoso (Pénicillium sp.)
1.2.2 Torneiras dos lavabos.
Entre as 10 amostras colhidas das torneiras dos
lavabos, houve o crescimento de fungos em 2 amostras (20,0%),
sendo encontrado elementos leveduriformes de morfologia compa-
tível com o gênero Candida sp. em 1 caso e fungo filamentoso do
gênero Penici11ium sp., também em 1 amostra. (Tabela 11).
Tabela 11 - Culturas micológicas positivas das amostras obtidas
das torneiras dos lavabos.
n9 . da amostra fungo
4 Levedura ( Candida sp.)
5 Fungo filamentoso (Pénicillium sp.)
1.2.3 Laringoscópios.
Observamos o crescimento de fungos em 2 das 10
amostras (20,0%) colhidas dos laringoscópios e a cepa isolada
nos 2 casos foi de fungo filamentoso. (Tabela 12).
36
Tabela 10 - Culturas micol6gicas positivas das amostras obtidas
do piso das salas do centro cirúgico.
n~.da amostra fungo
1 Fungo filamentoso
9 Fungo filamentoso (Penicillium sp.)
1.2.2 Torneiras dos lavabos.
Entre as 10 amostras colhidas das torneiras dos
lavabos, houve o crescimento de fungos em Z amostras (Z0.0X>,
sendo encontrado elementos leveduriformes de morfologia compa-
tivel com o g@nero Candida sp. em 1 caso e fungo filamentoso do
g~nero Penicillium sp., tamb.m em 1 amostra. (Tabela li>.
Tabela 11 - Culturas micol6gicas positivas das amostras obtidas
das torneiras dos lavabos. ----------_._-----------------------------------------------~---n~. da amostra fungo
4 L e v e d u Y' a ( C a n d j. das p • )
5 Fungo filamentoso (Penicillium sp.)
-----------------------------------------------~---------------
1.2.3 Lal~i ngosc6pios.
Observamos o crescimento de fungos em 2 das 10
amostras (20,0%) colhidas dos laringosc6pios e a cepa isolada
nos 2 casos foi de fungo filamentoso. (Tabela 12).

Tabela IS - Culturas mitológicas positivas das amostras obtidas
dos laringoscópios.
nS.da amostra fungo
5 Fungo filamentoso
7 Fungo filamentoso
1.2.M Sondas endotraqueais.
Nas 10 amostras colhidas das sondas endotraqueais, 1
(10,0%) apresentou crescimento de fungo filamentoso do gênero
Pénicillium sp. (amostra 3).
1.2.5 Tubos dos respiradores.
Nas 10 amostras colhidas dos tubos dos respiradores,
2 (20,0%) apresentaram crescimento intenso de fungos, sendo
isolado fungo filamentoso em 1 amostra e elementos levedurifor-
mes de morfologia compatível com o gênero Candida sp. em outro.
(Tabela 13).
Tabela 13 - Culturas mitológicas positivas das amostras obtidas dos tubos dos respiradores.
n^.da amostra fungo
2 Fungo filamentoso
7 Levedura (Candida sp.)
1.2.6 Fios de sutura de ácido políglicólico número 00.
NSTo ocorreu crescimento de fungos nas 10 amostras
colhidas dos fios de sutura de ácido poliglicólico número 00.
Tabela lZ - Culturas micológicas positivas das amostras obtidas
dos laringoscópios.
nQ.da amostra fungo
5 Fungo filamentoso
7 Fungo filamentoso
1.Z.4 Sondas endotraqueais.
Nas 10 amostras colhidas das sondas endotraqueais, 1
(10,0%) apresentou crescimento de fungo filamentoso do g~nero
f.:.~Ri.!;jJJ.!g.!!,- sp. (amostra 3).
1.2.5 Tubos dos respiradores.
Nas 10 amostras colhidas dos tubos .dos respiradores,
2 (20,0%) apresentaram crescimento intenso de fungos, sendo
isolado fungo filamentoso em 1 amostra e elementos levedurifor-
mes de morfologia compat1vel com o gênero Candid~ sp. em outro.
(Tabela 13).
Tabela 13 - Culturas micológicas positivas das amostras obtidas
dos tubos dos respiradores.
n 2 .da amostra fungo
2 Fungo filamentoso
7 Levedura <ç..il!!.QJ .. !iª_ sp.)
-------~-------------------------------------------------------
:1..2,,6 Fios de sutura de ~cido poliglicólico ndmero 00.
N~o ocorreu crescimento de fungos nas 10 amostras
colhidas dos fios de sutura de ~cido poliglicólico ndmero 00.
37

1.2.7 Luvas cirúgicas estéreis.
N3o houve crescimento de fungos nas 10 amostras
colhidas de luvas cirúgicas estéreis, descartáveis, obtidas de
pacotes selados.
1.2.0 Bacias com o anti-séptico álcool iodado.
N3o se evidenciou o desenvolvimento de fungos nas 10
amostras colhidas das bacias com álcool iodado, utilizado na
anti-sepsia da equipe cirúrgica.
1.2.9 Campos cirúrgicos estéreis.
N3o houve crescimento de fungos nas 10 amostras
colhidas de campos cirúrgicos estéreis e prontos para uso.
1.2.10 ColchBes das mesas cirúrgicas.
Observou-se crescimento de fungo em 1 das 10 amos-
tras colhidas dos colchOes das mesas cirúrgicas <10,0X) e a
cepa isolada foi de fungo filamentoso. <amostra 8).
No total de 100 culturas realizadas para fungos,
ocorreu crescimento em 10 amostras <10,0%), sendo 8 amostras de
fungo filamentoso e 2 de leveduras. R tabela 14 resume os
resultados obtidos nas culturas para fungos do grupo I.
1.2.7 Luvas cir6gicas estéreis.
N~o houve crescimento de fungos nas 10 amostras
colhidas de luvas cir6gicas estéreis, descartAveis, obtidas de
pacotes selados.
1.2.8 . Bacias com o anti-séptico Alcool iodadb.
N~o se evidenciou o desenvolvimento de fungos nas 10
amostras colhidas das bacias com ~lcool iodado, utilizado na
anti-sepsia da equipe cir6rgica.
1.2.9 Campos cirúrgicos estéreis.
N~o houve crescimento de fungos nas 10 amostras
colhidas de campos cir6rgicos estéreis e prontos para uso.
1.2.10 Colchees das mesas cirúrgicas.
Observou-se crescimento de fungo em 1 das 10 amos
tras colhidas dos colch~es das mesas cirúrgicas (10,0X) e a
cepa isolada foi de fungo filamentoso. (amostra 8).
No total de 100 culturas realizadas para fungos,
ocorreu crescimento em 10 amostras (l0,0X), sendo 8 amostras de
fungo filamentoso e 2 de leveduras. R tabela 14 r,esume os
resultados obtidos nas cul turas· para fungos do grupo I.

Tabela 14 - Culturas mitológicas positivas de todas as amostras
obtidas de diversos locais do centro cirúrgico.
Local nS.amostras culturas positivas
Piso das salas 10 2
Torneiras dos lavabos 10 2
Laringoscópios 10 £ >
Sondas endotraqueais 10 1
Tubos dos respiradores 10 O Li Fios de ácido poliglicólico 10 0
Luvas cirúgicas estéreis 10 0
Eüacias com álcool iodado 10 0
Campos cirúgicos estéreis 10 0
ColchOes das mesas cirúgicas 10 1
Considerando que no processa rotineiro de intubaçíío
traqueal e assistência ventilatória para procedimentos anesté-
sicos são utilizados seqüencialmente o laringoscópio e a cânula
traqueal que é conectada ao tubo do respirador, pode-se, a-
través da análise combinatória pelo princípio fundamental da
contagem, determinar, a partir dos índices de colonização
bacteriana em cada um desses instrumentos, a possibilidade de
contaminação da orofaringe e árvore traqueobrônquica do pacien-
te. R possibilidade de contaminação por germes sensíveis è
penicilina é de 7,2% e de 83,2% por bactérias resistentes a
esse antibiótico, totalizando 90,4% de possibilidade de conta-
minação. Repetindo-se o mesmo raciocínio, a possibilidade de
contaminação por fungos é de 42,4%, sendo de 7,2% por levedura,
32,4% por fungo filamentoso e 2,8% com a associação de fungo
39
Tabela 14 - Culturas micológicas positivas de todas as amostras
obtidas de diversos locais do centro cir~rgico.
Local nº.amostras culturas positiVas
Piso das salas 10 2
Torneiras dos lavabos 10 Z
Laringoscópios 18 Z
Sondas endotraqueais 18 1
Tubos dos respiradores 18 Z
Fios de ~cido poliglicólico 10 0
Luvas cir~gicas estéreis 10 0
Bacias com ~lcool iodado 10 0
Campos cirdgico5 estdreis 10 0
Colch~es das mesas cir~gicas 10 1
Considerando que no processo rotineiro de intubaç30
traqueal e assisténcia ventilatória para procedimentos anest~-
sicos s~o utilizados seqUencialmente o laringoscópio e a c3nula
traqueal que é conectada ao tubo do respirador, pode-se, a-
través da an~lise combinatória pelo principio fundamental da
contagem, determinar, a partir dos Indices de colonilaç~o
bacteriana em cada um desses instrumentos, a possibilidade de
contaminaç~o da orofaringe e ~rvore traqueobrOnquica do pacien-
te. R possibilidade de contaminaç~o por germes sensíveis à
penicilina ~ de 7,2% e de 83,2% por bactérias resistentes a
esse antibiótico, totalizando 90,4% de possibilidade de conta-
minaç~o. Repetindo-se o mesmo raciocínio, a possibilidade de
contaminaç~o por fungos é de 42,4%, sendo de 7,2% por levedura,
32,4% por fungo filamentoso e 2,8% com a associaç30 de fungo

filamentoso e leveduras. Quando analisados em conjunto, chega-
se a um Índice de probabilidade de 94,5% de contaminação por
bactérias, por fungos, ou ambos.
2. Culturas do grupo II (Culturas de água de torneira).
Nas 5 amostras de água colhidas das torneiras dos
lavabos, a contagem de coliformes totais, coliformes fecais e
de bactérias mesófilas foi negativa. Todas as culturas para
bolores e leveduras foram positivas e a contagem total variou
de 2 a 8 colónias por mililitro de água da amostra. (Tabela
15) .
Tabela 15 - Resultado de todas as culturas bacteriológicas e
micológicas da água de torneira.
Amostra CCT CCF CTBM CTBL
1 ( - ) ( - ) ( - ) 4 col. / ml
( - ) ( - ) ( - ) Li col. / ml
3 ( - ) ( - ) ( - ) 5 col. / ml .
4 ( - ) ( - ) ( - ) 8 col. / ml
5 ( - ) ( - ) ( - ) 6 col. / ml
col .= Colônias.
CCT = Contagem de coliforme total.
CCF = Contagem de bactérias do qrupo coliforme fecal •
CTBM= Contagem total de bactérias mesófilas.
CTBL= Contagem total de bolores e leveduras.
1·10
filamentoso e leveduras. Quando analisados em conjunto, chega-
se a um indice de probabilidade de 94,5~ de contaminaç~o por
b~ctérias. por fungos, ou ambos.
z. Culturas do grupo 11 (Culturas de jgua de torneira).
Nas 5 amostras de água colhidas das torneiras dos
lavabos, a contagem de coliformes totais, coliformes fecais e
de bactérias mesófilas foi negativa. Todas as culturas para
bolores e leveduras foram positivas e a contagem total variou
de Z a 8 colônias por mililitro de água da amostra. (Tabela
15) •
Tabela 15 - Resultado de todas as culturas bacteriológicas e
micológicas da ~gua de torneira.
Rmostl"/3 CCT CCr- CTEIM CH::L -----------------------------------------------------------~---
1 ( - ) (-) (- ) 4 col. I ml
Z (-) (-) (-) Z col. I rol
3 (- ) (-) (-) 5 colo I ml.
4 (-) (- ) ( _.) 8 colo I nll
5 (- ) (-) ( _. ) 6 colo I rol
---------------------------------------------------------------col.= ColÔnias.
cer = Contagem de COJ.j.fol~me total.
CeF =: Contagem de bactél~ias do gl"UpO coliforme fecal. \..
CTE:M= Contagem total de bactél"ias mesófilas.
CTE:L= Contagem total de bolol"es e levedul"as.

DISCUSSÃO
Teoricamente o ambiente ideal para um centro cirúr-
gico deveria ser totalmente asséptico, o que ê impossível na
prática, porque o próprio ser humano contêm em sua superfície
corpórea grandes populaçBes bacterianas (39). Entretanto, o
centro cirúrgico mais próximo do ideal é o que contém o menor
número possível de germes.
Várias medidas s3o adotadas para diminuir a contami-
nação do ambiente cirúrgico, como o uso de sapatilhas ou de
tamancos, gorros, máscaras, a substituição do vestuário dos que
frequentam esse local, o isolamento das janelas com telas para
evitar a entrada de insetos e em alguns casos até o ar ambiente
é filtrado e distribuído sob fluxo laminar,entre outras. Estas
medidas s3o associadas ao uso de anti-sépticos químicos e meios
físicos para reduzir a população microbiana do meio ambiente e
dos equipamentos ai utilizados.
£ muito difícil avaliar corretamente a real concor-
rência das condiçBes ambientais nos Índices de infecçBes pós
cirúrgicas, visto que outros fatores muito importantes devem
ser considerados, como por exemplo o estado nutricional do
paciente, condiçBes associadas como diabetes, obesidade, ido-
sos, prematuros, o tipo de cirurgia realizada (contaminada ou
n3o), a habilidade do cirurgião e da equipe cirúrgica,os cuida-
dos pré e pós-operatórios, entre outros (25, 29, 30, 35, 44,
54, 80). No entanto, ainda ocorre um pequeno número de compli-
caçBes infecciosas em pacientes bem nutridos, submetidos a
cirurgias limpas, realizadas por cirurgiBes experimentados e
DISCUSSRO
Teoricamente o ambiente ideal para um centro cirór
gico deveria ser totalmente asséptico, o que é impossivel na
pr&tica, porque o pr6prio ser humano tontém em sua superficie
corp6rea grandes populaç~es bacterianas (39). Entretanto, o
centro cirórgico mais próximo do ideal é o que contém o menor
nómero possivel de germes.
V~rias medidas s~o adotadas para diminuir a conta~i
naç~o do ambiente cirórgico, como o uso de sapatilhas ou de
tamancos, gorros, m~scaras, a substituiç~o do vestu~rio dos que
frequentam esse local, o isolamento das janelas com telas para
evitar a entrada de insetos e em alguns casos até o ar ambiente
é filtrado e distribu1do sob fluxo laminar,entre outras. Estas
medidas s~o associadas ao uso de anti-séptitos quimicos e meios
flsicos para reduzir a populaç~o microbiana do meio ambiente e
dos equipamentos ai utilizados.
t muito dificil avaliar corretamente a real concor
r~ncia das condiç~es ambientais nos indices de infecçaes pós
cirórgicas, visto que outros fatores muito importantes devem
ser considerados, como por exemplo o estado nutricional· do
paciente, condiç~es associadas como diabetes, obesidade, ido
sos, prematuros, o tipo de cirurgia realizada (contaminada ou
n~o), a habilidade do cirurgi~o e da equipe cirórgica,os cuida
dos pré e pós-operatórios, entre outros (25, 29, 30, 35, 44,
54, 80). No entanto, ainda ocorre um pequeno nómero de compli
caçaes infecciosas em pacientes bem nutridos, submetidos a
cirurgias limpas, realizadas por cirurgiaes experimentados e

tratados com todos os cuidados pré e pós-operatórios.
Outro fator muito importante reside no fato de que
o uso indiscriminado de antibióticos, quimioterápicos e anti-
sépticos tem contribuído para a seleção de cepas microbianas
muito resistentes, principalmente dentro do ambiente hospitalar
o que dificulta, sem dúvida, o trabalho daqueles que procuram
melhorar as condiçOes de anti-sepsia neste local (2, 4, 6, 8,
15, 36, 48, 58, 65).
Rpesar da contaminação pelo ar não constituir uma
forma importante de disseminação da infecção, o cuidado inade-
quado do meio ambiente pode elevar o potencial de contaminação
por esta via.< 3. 11, 41, 45, 51, 52, 53, 55, 80, 83).
R incidência de infecção pós-operatória tem sido
caracterizada como um dos parâmetros mais fidedignos na avalia-
ção da qualidade de um serviço de cirurgia e esta premissa
baséia-se em argumentos éticos, técnicos e económicos. Éticos,
pois o paciente pode contrair um mal que poderia ser evitado,
trazendo-lhe sofrimentos. custos elevados e risco de vida?
técnicos, evidenciados pelo desprezo aos cuidados básicos de
profilaxia e confiança exagerada na terapêutica antibiótica?
económicos, pelo aumento dos custos acarretados pela infecção
(28, 84).
No presente trabalho foi avaliado o crescimento de
bactérias e fungos em vários locais do centro cirúrgico do
Hospital de Clinicas da Universidade Federal . do Paraná. No
primeiro caso estão os microorganismos mais comumente encon-
trados nas infecçOes cirúrgicas propriamente ditas e no segundo
caso há especial interesse por serem ali realizados transplan-
tes de rins e de medula óssea, assim como a instalação de
próteses, marca-passos e catéteres para nutrição parenteral.
tratados com todos os cuidados pré e pós-operatórios.
Outro fator muito importante reside no fato de que
o uso indiscriminado de antibióticos, quimioter~picos e anti~
sépticos tem contribuído para a seleç!o de cepas microbianas
muito resistentes, principalmente dentro do ambiente hospitalar
o que dificulta sem d~vida, o trabalho daqueles que procuram
melhorar as condiç~es de anti-sepsia neste local CZ, 4, 6, 8,
15, 36, 48, 58, 65).
~pesar da contaminaç~o pelo ar n~o constituir uma
forma importante de disseminaç!o da infecç~o, o cuidado inade
quado do meio ambiente pode elevar o potencial de contaminaçlo
por esta via.C 3, 11, 41, 45, 51, 5Z, 53, 55, 80, 83).
~ incidência de infecçlo pós-operatória tem sido
caracterizada como um dos parametros mais fidedignos na avalia
ç~o da qualidade de um serviço de cirurgia e esta premissa
baseia-se em argumentos éticos, técnicos e econômicos. Etico5,
pois o paciente pode contrair um mal que poderia ser evitado,
trazendo-lhe sofrimentos, custos elevados e risco de vida;
técnicos, evidenciados pelo desprezo aos cuidados b~sicos de
profilaxia e confiança exagerada na terapêutica antibiótica;
econômicos
(Z8. 84).
pelo aumento dos custos acarretados pela infecç!o
No presente trabalho foi avaliado o crescimento de
bactérias e fungos em v~rios locais do centro cir~rgico do
Hospital de Clinicas da Univer'sidade Federal. do F'aran~. No
primeiro caso estIo os microorganismos mais comumente encon
trados nas infecç~es cir~rgicas propriamente ditas e no segundo
caBO h~ especial interesse por sel~em ali realizados transplan-
tes de
pl~óteses ,
rins e de medula óssea, assim como a instalaçlo de
marca-passos e catéteres para nutriçlo parenteral.
42

Nestas situaçBes, as infecçBes por fungos adquirem importância
inusitada, pois os pacientes s3o imunodeprimidos ou desnutridos
gráves e a identificação do agente etiológico é um dado funda-
mental para o diagnóstico e tratamento das infecçBes pós-
cirúrgicas.
Cabe salientar que os resultados obtidos neste estu-
do refletem uma situação momentânea dentro da população bacte-
riana do centro cirúrgico do Hospital das Clinicas da Universi-
dade Federal do Paraná. Recentemente, novas medidas de controle
da infecçSo hospitalar foram introduzidas em nosso meio que
possivelmente modificarão esses resultados.
Fl avaliação foi iniciada pelo local aparentemente
mais contaminado da sala de cirurgia: o piso. 0 crescimento de
bactérias em 90% das amostras colhidas desse local n3o consti-
tui uma cifra exagerada, pois era costume neste hospital o uso
das sapatilhas sem retirar os sapatos. Logo, a sapatilha era a
única barreira entre a flora microbiana do centro cirúrgico e a
flora do restante do hospital ou mesmo.da rua. Era um elemento
agravante o fato de muitas pessoas circularem com as sapati-
lhas no corredor de entrada do centro cirúrgico, visto que
neste local também haviam pessoas que n3o faziam uso da roupa
de centro cirúrgico e das sapatilhas. fllém disso, as macas
provenientes dos outros locais do hospital trazendo pacientes,
entravam no centro cirúrgico sem sofrer qualquer cuidado de
higiene. Logo. podemos deduzir que se torna muito difícil a
manutenção das condiçBes ideais aceitas para o piso do centro
cirúrgico, apesar dos cuidados de limpeza e desinfecção. Em
todas as culturas positivas cresceram Staphulococcus
saprophqticus ou Btaphulpcoçcus epidermidis. Isso significa que
Nestas situaç~es, as infecç~es por fungos adquirem import3ncia
inusitada, pois os pacientes s~o imunodeprimidos ou desnutridos
gr~ves e a identificaç~o do agente etiol6gico é um dado funda
mental para o diagn6stico e tratamento das infecç5es p6s
cirúrgicas.
Cabe salientar que os resultados obtidos neste estu-'
do refletem uma situaç~o moment~nea dentro da populaçlo bacte
riana do centro cirúrgico do Hospital das Clinicas da Universi
dade Federal do Paran~. Recentemente, novas medidas de controle
da in'ecç~o hospitalar foram introduzidas em nosso meio ·que
possivelmente modificar~o esses resultados.
R avaliaç~o foi iniciada pelo local aparentement~
mais contaminado da sala de cirurgia: o piso. O crescimento de
bactérias em 90~ das amostras colhidas desse local n~o consti
tui uma cifra exagerada, pois era costume neste hospital o uso
das sapatilhas sem retirar os sapatos. Logo, a sapatilha era a
ónica barreira entre a flora microbiana do centro cirúrgico e a
flora do restante do hospital ou mesmo.da rua. Era um elemento
agravante o fato de muitas pessoas circularem com as sapati
lhas no corredor de eritrada do centro cirúrgico, visto que
neste local também haviam pessoas que n~o faziam uso da roupa
de centro cirúrgico e das sapatilhas. Rlém disso, as macas
provenientes dos outros locais do hospital traze~do pacientes,
entravam no centro cirúrgico sem sofrer qualquer cuidado de
higiene. Logo, podemos deduzir que se torna muito difícil a
manutenç~o das condiç5es ideais aceitas para o piso do centro
cirúrgico, apesa~ dos cuidados de limpeza e desinfecçlo. Em
todas as culturas p(Jsitivas cresceram pta()hYJ:.fLÇ..PJ;_c;J!!!
!.!l....P..!:.P..PJl.u!.i.!= !J!:t o l.t 8 t.!'U~1'.Y.!.9,..Ç .. fLC;;.r::..~.J.i ~Bj.fI.ru:. Dl t<!t1!i • Iss o s :I.. g n i f i c a que

estes germes constituíam a flora bacteriana mais comum naquele
local e embora o número de colônias por amostra não fosse
elevado, observamos que estes germes estSo se desenvolvendo
apesar da desinfecção realizada (71). Nos preocupa sua pre-
valência pela análise do índice de resistência desses germes à
penicilina, que foi de 100%.
R pesquisa micológíca nesse local revelou o cresci-
mento de fungo filamentoso em duas amostras, que possivelmente
é uma cifra pouco significativa em vista da alta freqüência com
que se encontra esse fungo na natureza e pelas dificuldades já
citadas quanto ao controle e isolamento do piso do centro
cirúrgico. R baixa incidência de culturas positivas para fungos
sugere que o método de anti-sepsia utilizado é adequado para a
profilaxia do desenvolvimento de fungos nesse local.
R importância da flora bacteriana e de fungos do
piso da sala de cirurgia não deve ser super- estimada, pois não
há contato direta com o ato cirúrgico e seus integrantes. Rlém
disso, o número de colônias bacterianas foi pequeno, não pas-
sando de 50 colônias por amostra.
Houve um crescimento menor de bactérias e fungos nas
torneiras dos lavabos, com um índice de crescimento de 30% para
as bactérias e de 20% para os fungos. Também neste local a
flora bacteriana foi composta de Staph^lgcoccus, saprophytiçu%,
com um alto índice de resistência à penicilina (66,7%). Porém,
o número de colônias foi de apenas 1 ou 2 por amostra positiva,
o que sugere contaminação pela própria superfície cutânea das
pessoas que se utilizam desse local.
Podemos deduzir que ai não ocorre contaminação bac-
teriana maciça e que a observação da técnica correta de lavagem
das mãos reduz sensivelmente o risco da contaminação por esta
estes germes cons~ituíam a flora bacteriana mais comum naquele
local e embora o ndmero de colônias por amostra n30 fosse
elevado observamos que estes germes est~o se desenvolvendo
apesar da desinfecç~o realizada (71). Nos preocupa sua pre
val~ncia pela an~lise do indice de resistência desses germes ~
penicilina, que foi de 100X.
n pesquisa micológica nesse local revelou o cresci
mento de fungo filamentoso em duas amostras, que possivel~ente
é uma cifra pouco significativa em vista da alta freqUência com
que se encontra esse fungo na natureza e pelas dificuldades jA
citadas quanto ao controle e isolamento do piso do ,centro
cirdrgico. R baixa incidência de culturas positivas para fungos
sugere que o m~todo de anti-sapsia utilizado ~ adequado para a
profilaxia do desenvolvimento de fungos nesse local.
R import~ncia da flora bacteriana e de fungos do
piso da sala de cirurgia n~o deve ser super-estimada, pois n!o
h~ contato direto com o ato cirdrgico e seus integrantes. Rlém
disso, o ndmero de colônias bacterianas foi pequeno, nlo pas
sando de 58 colônias por amostra.
Houve um crescimento menor de bactérias e fungos nas
torneiras dos lavabos, com um indice de crescimento de 30% para
as bactérias e de Z0%para os fungos. Também neste local a
f I o r a b a c t e r i a n a f o i c o m p o s t a li e 8,t.,0J!.b.YJ"ºf . .Qf..r;.\!.~. ~.à.P. r Q.ah.Y'!'.!.~,
com um ~lto indice de resist@ncia à penicilina (66,7%). Porém,
o n~mero de colOnias foi de apenas 1 ou Z por amostra positiva,
o que sUgere contaminaç~o pela própria supérficie cutanea da~
pessoas qu~ se utilizam desse local.
Podemos deduzir que ai n~o ocorre contaminaç30 bac
teriana maciça e que a observaç~o da técnica correta de lavagem
das mlos reduz sensivelmente o risco da contaminaç~o por esta

MÍ5
via.
Rs amostras positivas para fungos evidenciaram a
presença de Candida sp. em uma amostra e fungo filamentoso
(Penicillium sp.) em outra, revelando que a contaminação é
possível se houver algum descuido na anti-sepsia da equipe
c irúrg ica.
Rlém disso, a contaminação por Çandida sp. pode
levar a complicações que variam desde a simples estomatite até
à meningite, abscessos e a forma sistémica da infecçSo, que é
muito grave e de difícil controle clinico. Em pacientes porta-
dores de próteses cardíacas, a infecção por fungos adquire
características muito severas, com um elevado Índice de morta-
lidade.
É prudente lembrar a importância dos cuidados de
anti-sepsia que antecedem a punção lombar para bloqueios anes-
tésicos. uma vez que a meningite por Candida sp. pode adquirir
características clinicas de gravidade.
Por outro lado, as amostras obtidas dos laringoscô-
pios limpos e prontos para uso revelaram um Índice de cresci-
mento bacteriano realmente preocupante <60X>, pois este equipa-
mento atua diretamente na cavidade oral do paciente, servindo
de importante vetor de transmissão de infecções. Neste instru-
mento, além do Staphq 1 oçocçus sp., houve ainda o crescimento de
Pseudomonas stutzerii e Proteus mlrabilis. que podem ser letais
em pacientes imunodeprimidos. N3o menos preocupante é o Índice
de resistência das cepas de Staphulococcus sp. à penicilina,
que foi de 100% e o número de colônias bastante elevado.
R pesquisa de fungos nos laringoscôpios mostrou o crescimento de fungo filamentoso em 2 amostras. Este Índice de
via.
Rs amostr~s positivas para fungos evidenciaram a
p~esença de Candid~ sp. em uma amostra e fungo filamentoso
(renicilli~m sp.) em outra, revelando que a contaminaçlo é
passivel se houver algum descuido na antt-sepsia da equipe
c i rll rg i c a •
Rlém disso, a cont.am:l,naçlo por ~andidª_ sp. pode
levar a complicaç5es que variam desde a simples estomatite até
~ meningite, abscessos e a forma sistêmica da infecç~o, que é
muit.o grave e de dificil controle clinico. Em pacientes po~ta
dorem de pr6teses cardlacas, a infecç~o po~ fungos adquire
caracter1sticas muito severas, com um elevado lndice de morta
lidade.
t prudente lembrar a import3ncia dos cuidados de
anti-sepsia que antecedem a punç~o lombar para bloqueios anes
tésicos. uma vez que a meni ng i te por Çandj.J!!t sp. pode adquiri,,,
caracteristicas clinicas de gravidade.
Por outro lado, as amostras obtidas dos laringosc6-
pios limpos e prontos para uso revelaram um indice de cresci
mento bacteriano rei~lmente preocupante '(bel:), pois este equipa
mento atua diret.ament.e na cavidade oral do paciente. servindo
de importante vetor de transmiss~o de infecç5es. Neste instru
mento. ~11ém do S~!le!lY.lfH::_(tÇ.Et!2.. f>JL houve ainda o crescimento de
f.:.1~_~:~,!:t.Q.mQ11ll §.:t.~!!.,~.r.i.i e f'r_9~~,~~U~, !!Lt~ .. h,tt~.!., que podem ser leta i s
em pacientes imunodeprimidos. N~o menos preocupante é o indice
de reHist~ncia das cepas de ~t~Jl_hY.!.ºCOÇ,Ç!:t~!U!. " penicilina,
que foi de 100~ e o número de col0nias bastante elevado.
R pesquisa de fungos nos laringosc6pios mostrou o
crescimento de fungo filamentoso em Z amostras. Este indice de

contaminação está acima do esperado, embora a cepa não seja
virulenta em pacientes com o sistema imunológico competente„
Nos imunodeprimidos a situação poderá inverter-se, represen-
tando sério risco a esses pacientes.
Estes resultados denotam uma séria deficiência nos
cuidados dispensados aos laringoscópios, que após o uso são
apenas lavados com sabão ou PVP-I. Está bem claro que estas
medidas não são suficientes na manutenção deste importante
instrumento, fllém disso, é necessário que se observem alguns
cuidados no seu uso, como por exemplo não pegar na lâmina e não
a deixar em locais inadequados. R literatura registra casos de
infecção pelo uso de material de reanimação e intubação conta-
minados. Recomenda-se a esterilização das lâminas pelo calor
seco ou desinfecção por imersão durante 30 minutos em soluçfles
desinfectantes (84).
Rs amostras colhidas das sondas endotraqueais limpas
e prontas para uso também revelaram um crescimento alarmante de
germes, o que ocorreu em 60% das amostras. 0 número de colónias
foi elevado em 33,3% das culturas positivas e a resistência à
penicilina foi expressiva, com um índice de 66,6%. Isto signi-
fica que a cada 10 pacientes submetidos a intubação traqueal, 6
poderão ter go?rmes semeados em sua mucosa traqueal e destes, M
serão resistentes <*i penicilina. Possivelmente, alguns desses
pacientes desenvolverão infecção no sistema respiratório como
complicacão pós-operatória, elevando os índices de infecção
hospitalar.
0 crescimento de fungo filamentoso ocorreu em apenas
uma amostra, embora a contaminação ocorra dentro do trato
respiratório.
Pode-se constatar com esses resultados que a lavagem
~ontaminaç~o est. acima do esperado, embora a cepa nao seja
virulenta em pacientes com o sistema imunológico competente.
Nos imunodeprimidos a situaç~o poderá inverter-se represen
tando sério risco a esses pacientes.
Estes resultados denotam uma séria deficiência nos
cuidados dispensados aos laringoscópios, que após o uso s~o
apenas lavados com sab~o ou PVP·-I. EstA bem claro que estas
medidas nao s~o suficientes na manutenç~o deste importante
instrumento. Rlém disso é necess~rio que se observem alguns
cuidados no seu uso, como por exemplo n~o pegar na l§mina e n30
a deixar em locais inadequados. ~ literatura registra casos de
infecç~o pelo uso de material de reanimaçao e intubaçao conta
minados. Recomenda-se a esterililaç~o das laminas pelo ca16r
seco ou desinfecç30 por imers~o durante 30 minutas em soluç8es
desinfectantes (84).
Rs amostras colhidas das sondas endotraqueais limpas
e prontas para usa também revelaram um crescimento alarmante de
germes, o que acorreu em 60% das amostras. O nrtmero de colOnias
foi elevado em 33,3% das culturas positivas e a resistência à
penicilina foi expressiva, com um indice de 66,6%. Isto signi
fica que a cada 10 pacientes submetidos a intubaç~o traqueal, 6
poderao ter gmrmes semeados em sua mucosa traqueal e destes, 4
ser~o remimtentes ~ penicilina. Possivelmente, alguns desses
pacientes de5enVc)lveT'~0 infecç~tl no sistf,mc1 l"eslpir'atório como
complica~~o pós-operatória, elevando os indicas de infecç30
hospitalar.
o crescimento de fungo filamentoso ocorreu em apenam
uma amostra, embora a contaminaç~o ocorra dentro do trato
respiratório.
Pode-se constatar com esses resultados que a lavagem
lf6

habitual das sondas traqueais e a desinfecSo como foi descrita
anteriormente, n3o constitui uma forma efetivamente boa de
preparo desse importante instrumento, assim como é inadequada a
sua forma de utilização.
fiinda em relação aos cuidados com assistência venti-
latôria do paciente submetido a uma anestesia e a uma cirurgia,
constatamos que a tubulação utilizada na conduçSo dos gases
anestésicos, desde o respirador artificial até a cânula tra-
queal, também exibia um índice de colonização bacteriana em seu
interior bastante elevado, com positividade para o
Staphqlococcus epidermidis e o Staphqlococcus saprophuticus
em 40% das amostras. Destas 4 amostras positivas, 3 (75%)
apresentaram cepas resistentes à penicilina.
0 crescimento de fungo filamentoso e Candida sp. em
20% das amostras colhidas dos tubos dos respiradores, também
reflete a deficiência nos cuidados de manutençSo da anti-sepsia
nestes equipamentos.
Este achado sugere que esta tubulação, utilizada
durante os procedimentos anestésicos, deva receber alguns cui-
dados específicos adicionais, pois pode contribuir de forma
efetiva na semeadura de germes no trato respiratório do pacien-
te. Segundo Zanon (84), os componentes do circuito inalatório
como ambús, máscaras, válvulas e a tubulação de gases, apresen-
tam maior risco de transmissão de infecçttes respiratórias,
exigindo desinfecção entre aplicações sucessivas em diferentes
pacientes. Sugere ainda o uso de material resistente ao calor
para receber esterilização em autoclave. Os respiradores só
deverSo ser esterilizados quando usados em pacientes com doen-
ças respiratórias causadas por patógenos primários. Este pro-
habitual das sondas traqueais e a desinfeclo como foi descrita
anteriormente n30 constitui uma forma efetivamente boa de
preparo desse importante instrumento, assim como é inadequada a
sua forma de utilizaç30.
Rinda em rel~ç~o aos cuidados com assistência venti
latória do paciente submetido a ~ma anestesia e a uma cirurgia,
constatamos que a tubulaç30 utilizada na conduç30 dos gases
anestésicos, desde o respirador artificial até a c~nula tra
queal, também exibia um 1ndice de colonizaç~6 bacteriana em seu
interior bastante elevado, com positividade para o
Staphyloco~~ epidern\idis e o Staphyloc:occ:us saprophyticus
em 40% das amostras. Destas 4 amostras positivas, 3 (75%)
apresentaram cepas resistentes ~ penicilina.
O crescimento de fungo filamentoso e Candida ~ em
Z0X das amostras colhidas dos tubos dos respiradores, também
reflete a defici~ncia nos cuidados de manutenç~o da anti-sepsia
nestes equipamentos.
Este achado sugere que esta tubulaç~o, utilizada
durante os procedimentos anestésicos, deva receber alguns cui
dados especificos adicionais. pois pode contribuir de forma
efetiva na semeadura de germes no trato respiratório do pacien
te. Segundo Zanon (84), os componentes do circuito inalatório
como ambús. m~scara5, v~lvulas e a tubulaç~o de gases, apresen
tam maior risco de transmiss~o de infecç~es respiratórias,
exigindo desinfecç~o entre aplicações sucessivas em diferentes
pacientes. Sugere ainda o uso de material resistente aoc~lor
para receber esterilizaç~o em autoclave. Os respiradores sÓ
dever~o ser esterilizados quando usados em pacientes com doen
ças respiratórias causadas por patógenos prim~rios. Este pro-
4'7

cesso de desinfecção não estava sendo realizado de rotina no
Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná, no
período deste estudo.
Rtravés da análise combinatória pelo principio fun-
damental da contagem entre os índices de colonização bacteriana
nos laringoscópios, sondas traqueais e na tubulação dos respi-
radores, obtém-se uma porcentagem de possível contaminação
da orofaringe e árvore traqueo-brônquica de 7,2% por germes
sensíveis â penicilina e 83,2% por germes resistentes a esse
antibiótico. Logo, a contaminação bacteriana pode ocorrer em
até 90,4% dos pacientes submetidos a intubação endotraqueal e
assistência ventilatória com respiradores durante os procedi-
mentos anestésicos no centro cirúrgico do Hospital de Clinicas
da Universidade Federal do Paraná. E um Índice elevado, princi-
palmente considerando-se o tipo de paciente (desnutrido) mais
comum nesse hospital.
Repetindo-se a análise combinatória dos índices de
contaminação por fungos nos laringoscópios, cânulas traqueais e
tubulação dos respiradores, constata-se que a possibilidade de
contaminação por fungos na orofaringe e árvore tráqueo-brôn-
quica dos pacientes submetidos a intubação traqueal e manuten-
ção ventilatória, durante os procedimento anestésicos, é de
até 32,4% por fungo filamentoso, de 7,2% por levedura e de 2,8%
por fungo filamentoso mais levedura. Logo, a possibilidade de
contaminação por fungos é de 42,4%.
Considerando que o mesmo paciente tenha 90,4% de
chances de contaminação por bactérias e de 42,4% de chances de
contaminação por fungos durante um procedimento de intubação e
assistência ventilatória, pode-se determinar que a possibili-
dade total de contaminação por bactérias e/ou fungos durante
cesso de desinfecç!o n!o estava sendo realizado de rotina no
Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paran~, no
periodo deste estudo.
Rtravés da an~lise combinatória pelo principio fun
damental da contagem entre os indices de colonizaç!o bacteriana
nos laringoscópios, sondas traqueais e na tubulaç!o dos respi
radores, obtém-se uma porcentagem de possivel contaminaçlo
da orofaringe e ~rvore traqueo-brOnquica de 7,2% por germes
sensiveis ~ penicilina e 83,27. por- germes resistentes a esse
antibiótico. Logo. a contaminaç!o bacteriana pode ocorrer em
até 90,4% dos pacientes submetidos a intubaç'o endotraqueal e
assistência ventilatór-ia com respiradores durante os procedi
mentos anestésicos no centro cir~rgico do Hospital de Clinicas
da Univer-sidade Federal do Paran~. E um indice elevado, princi
palmente considerando-se o tipo de paciente (desnutrido) mais
comum nesse hospital.
Repetindo-se a an~lise combinatória dos indices de
contaminaç!o por fungos nos laringoscópios, c3nulastraqueais e
tubulaç!o dos respirad()res, constata-·se que a possibilidade de
contaminaç30 por fungos na orofaringe e ~rvore tr~queo-brOn
quica dos pacientes submetidos a intubaç!o traqueal e manuten
ç~o ventilatória, dur-ante os procedimento anestésicos, é de
até 32,4% por fungo filamentoso, de 7,27. por levedura e de 2,8%
por fungo filamentoso mais levedura. Logo, a possibilidade de
contaminaç~o por fungos é de 42,47..
Considerando que o mesmo paciente tenha 90,4% ·de
chances de contaminaç30 por bactérias e de 42.4% de chances de
contaminaç~D por fungas durante um procedimento de intub~çlo e
assistência ventilatória, pode-se determinar que a possibili
dade total de contaminaç30 por bactérias. e/ou fung~s durante
48

este procedimento seja de 94,5%. Estes índices são extremamente
preocupantes, especialmente para aqueles pacientes imunodepri-
midos, que serão submetidos a transplantes.
Na análise do material descartável obtido de pacotes
selados, não ocorreu crescimento de bactérias ou fungos em
nenhuma das amostras, o que reflete a boa qualidade do método
de esterilização, empregado no preparo dos fios de .sutura de
ácido poliglicólico número "00" e das luvas cirúrgicas.
Tem-se combatido o uso da bacia com álcool iodado
por vários motivos, sendo o principal deles o fato de que
ocorre a evaporação do álcool. restando apenas uma solução de
água com iodo. Rlém disso, o uso repetido da mesma solução
permite que ocorra uma alta concentração de germes e resíduos,
além da diluição pela água que vem das mãos e antebraços da
equipe cirúrgica, o que compromete a sua ação anti-séptica(45).
Finalmente, métodos mais práticos tão ou mais eficazes estão
disponíveis atualmente (16).
Nosso estudo revelou a presença de bactérias em 30%
das amostras colhidas das bacias com anti-séptico álcool ioda-
do, o que corrobora as afirmativas anteriores. Embora o número
de colônias seja pequeno em cada amostra, precisamos valorizar
este dado, pois a contaminação ocorrerá nas mãos e antebraços
dos elementos da equipe cirúrgica, que darão ao germe acesso
direto à ferida operatória em 5 a 12% das vezes, pois este é o
índice de perfuração do total de luvas (84). Cole (19), de-
monstrou que até 18.960 Staphqlococcus sp. podem passar a-
través de um único furo de agulha em um dedo de luva num
período de 20 minutos. Em nosso estudo, o Staphulococcus
epidermidis foi o germe encontrado em todas as amostras e o
Índice de resistência á penicilina foi de 66.7%. Vale a pena
este procedimento seja de 94,5%. Estes indices slo extre~amente
preocupantes. espec~almente para aqueles pacientes imunodepri
midos. que serro submetidos a transplantes.
Na anAlise do material descart~vel obtido de pacotes
selados. n!o ocorreu crescimento de bactérias ou fungos em
nenhuma das amostras. o ~ue reflete a boa qualidade do método
de esterilizaç!o. empregado no preparo dos fios de Jutura de
cicido poliglic6lico nÚmero "00" e das luvas cirúrgicas.
Tem-se combatido o uso da bacia com . ~lcool iodado
por vArios motivos. sendo o principal deles o fat~ de que
ocorre a evaporaç!o do Alcool. restando apenas uma soluçlo de
cigua com iodo. Rlém disso, o uso repetido da mesma soluç!o
permite que ocorra uma alta concentraçlo de germes e resíduos.
além da diluiçlo pela Agua que vem das m!os e antebraços da
equipe cirúrgica. o que compromete a sua aç!o anti~séptica(45).
Finalmente. métodos mais pr~ticos tIo oU mais eficazes estIo
disponíveis atualmente (16).
Nosso estudo revelou a presença de bactérias em 30%
das amostras colhidas das bacias com anti-séptico ~lcool ioda
do. o que corrobora as afirmativas anteriores. Embora o número
de colOnias seja pequeno em cada amostra. precisamos valorizar
este dado. pois a contaminaç!o ocorrerA nas m!os e antebraços
dos elementos da equipe cirúrgica. que darlo ao germe acesso
direto ~ ferida operatória em 5 a lZZ das vezes. pois este é o
indice de perfuraçlo do total de luvas (84). Cole (19). de
monstrou que até 18.960 Staphylococcus sp. podem passar a
través de um único furo de agulha em um dedo de luva num
periodo de 20 minutos. Em nosso estudo, o Staphylococcus
epidermidis foi o germe encontrado em todas as amostras e o
indice de resistência a penicilina foi de 66.7%. Vale a pena
49

lembrar que o alto Índice de crescimento de germes nas bacias
contendo álcool iodado deve-se, em parte, â baixa concentração
de iodo ativo daquela solução ( 0,6 %), que è inferior a IX de
iodo ativo, que ê a concentração germicida minima de iodo em !
10 minutos de exposiçSo <78, 81, 82).
Embora as culturas para fungos tenham sido negati-
vas; dados da literatura e os nossos achados sugerem que esse
método de anti-sepsia deva ser substituído por recipientes
fechados, semelhantes aos utilizados para outros degermantes.
0 uso de anti-sépticos como o PVP-I a 10%, cloro-
hexidina a 4%, ou hexaclorofeno a 3% dispensam o uso das solu-
çSes alcóolicas de iodo após a lavagem das mãos <16).
0 estudo das amostras colhidas de campos cirúrgicos
estéreis apresentou um surpreendente crescimento de ^bactérias
em 20% dos casos, sendo o Staphulococcus epidermidis e o
Staphulococcus saprophiiticus as cepas encontradas. 0 número de
colônias em um dos casos foi bastante elevado <superior a 500
colônias) e o Índice de resistência à penicilina foi de 50%.
Este achado reveste-se de grande importância, pois
trata-se de uma fonte de contaminação diretamente colocada no
campo operatório. Isto reflete falha, grave no cuidado com o
material reaproveitável, desde a sua lavagem até a esteriliza-
ção no autoclave. é provável que os demais campos daquele
conjunto também estivessem contaminados e esta falha no proces-
so de esterilização possa estender-se a outros equipamentos
como pinças, material de corte e síntese, compressas e gases,
comprometendo seriamente o sucesso do ato cirúrgico.
Cabe lembrar que a esterilização em autoclave reduz ó número de germes em 1 milhSo de vezes <33, 84). Logo, secre-
lembrar que o alto indice de crescimento de germes nas bacias
contendo ~lcool iodado deve-se, em parte, ~ baixa concentraç~o
de'iodo ativo daquela soluç~o ( 0,6 X), que é inferior a 1X de
iodo ativo, que é a concentiaç~o germicida minima de iodo em I
10 minutos de exposiç~o (78, 81, 82>.
Embora as culturas para fungos tenham sido negati-
vas. dados da literatura e os nossos achados sugerem que esse
método de anti-sepsia deva ser substituido por recipientes
fechados, semelhantes aos utilizados para outros degermantes.
o uso dé anti-sépticos como o PVP-I a 10%, cloro-
hexidina a 4X, ou hexaclorofeno a 3X dispensam o uso das solu-
çOes alc601icas de iodo ap6s a lavagem das m30s (16).
o estudo das amostras colhidas de campos cirdrgicos
estéreis apresentou um surpreendente crescimento de ubactérias
em Z0X dos casos, sendo o Staphylococcu~ epidermidis e o
Staphylococcus saprophyticus as cepas encontradas. O ndmero de
co16nias em um dos casos foi bastante elevado (superiora 500
co16nias) e o indice de resistência ~ peniCilina foi de 50X.
Este achado reveste-se de, grande import3ncia, pois
trata-se de uma fonte de contamina~~o diretamente colocada no
campo operat6rio. Isto reflete falha, grave no cuidado com o
material reaprov~it~vel, desde a sua lavagem até a esteriltza
ç~o no autoclave. t prov~vel que os demais campos daquele
conjuntq também estivessem contaminados e esta falha no proces-
so de esterilizaç~o possa estender-se a outros equipamentos
como pinças, material de corte e sintese, compressas e gases,
comprometendo seriamente o sucesso do ato ci~drgico.
Cabe lembrar que a esterilizaç30 ~~.autoc~a~e reduz
ó ndmero de germes em 1 milh~o de vezes (33, 84). Logo,secre-
50

çBes purulentas ou fecais que contêm até 10 trilhftes de bacté-
rias por ml deverão receber uma cuidadosa lavagem prévia, com á
remoção de grande parte dessa substância orgânica, sob o risco
do processo de esterilização não atingir seu objetivo (15).
0 maior índice de crescimento de bactérias ocorreu
entre as amostras dos colchBes das mesas cirúrgicas (100%). 0
germe mais comum foi o Staphulococcus epidermidis em 70% das
vezes, seguido do Staphulococcus saprophuticus nos outros 30%.
0 número de colônias variou de 1 a 216 por amostra, com um
índice de resistência á penicilina de 60%. Este resultado era
esperado, pois o colchão da mesa cirúrgica fica em contato com
a pele do paciente, cuja flora habitual é composta por esses
germes. Houve também o crescimento de fungo filamentoso em uma
única amostra dos colchões. R anti-sepsia dos colchBes não era
feita de rotina. Possivelmente este achado não aumenta a in-
cidência de infecção operatória e a proteção com campos indire-
tos estéreis confere uma condição segura para a realização do
ato cirúrgico. Deve-se no entanto permanecer atento pois, no
caso de haver umidade dos campos por secreçOes, sangue e outras
soluçBes, pode ocorrer a passagem de germes do colchão para o
campo operatório. Rlguns autores recomendam a prática do banho
completo do paciente com anti-séptico do tipo PVP-I antes do
ato cirúrgico com o objetivo de reduzir a população bacteriana
na superfície corpórea do mesmo (33, 37, 78, 84). Cuidado
adicionai deverá ,ser dado aos procedimetnos cirúrgicos das
extremidades dos membros, que permanecem a poucos centímetros
da superfície do colchão da mesa.
0 Índice geral de 43% de crescimento de bactérias e
o índice de resistência de 76,74% à penicilina, observados em
nosso estudo, são mais elevados do que os observados ha litera-
çefes purulentas ou fecais que contêm até 10 t,.'ilheles de bacté
rias por ml dever!o receber uma cuidadosa lavagem prévia, com ~
remoç!o de grande parte dessa substancia organica, sob o risco
do processo de esterilizaç:o n:o atingir seu objetivo (15)~
O maior indice de crescimento de bactérias ocorreu
entre as amostras dos colcheJes das mesas cir\lrgicas (100"). ' O
germe mais comum foi o Staphylococcus epidermidi! em 701. das
vezes, seguido do Sta phy lococç.!!.q sa p,.'opbyticu! nos out.ros 301..
O n\lmero de colOnias variou de 1 a 216 por amostra, com um
indice de resisténcia ~ penicilina de 60". Este resultado era
esperado, pois o colch30 da mesa cirdrgica fica em contato com
a pele do paciente, cuja flora habitual é compost~ por esses
germes. Houve também o crescimento de fungo filamentoso em uma
ünica amostra dos colcheJes. R anti-sepsia dos colchC5es n30 era
feita de rotina. Possivelmente este achado n!o aumenta a in
cid@ncia de infecçlo operatória e a prot.eç30 com camp~s indire
tos estéreis confere uma condiç~o segura para a realizaçlo do
ato cir\lrgico. Oeve-se no entantd permanecer atento pois, no
caso de haver umidade dos campos por secreçC5es, sangue e out.ras
soluçeJes, pode ocorrer a passagem de germes do colchlo para o
campo operatório. Rlguns autores recomendam a pr~tica do banho
completo do paciente com anti-séptico do tipo PVP-I antes do
ato cirdrgico com o Objetivo de reduzir a populaç:o bacteriana
na superfície corpórea do mesmo (33, 37, 78, 84). Cuidado
ad ic iona 1 dever~ ,ser dado aos proced imetnos c i '''tlrg icos da s
extremidades dos membros, que permanecem a poucos cent.ímet.ros
da superficie do colch!o da mesa.
O indice geral de 431. de cresciment.o de bact.é~ias e
o indice de resistência de 76,7 l J1. 11 penicilina, observados· em
nosso estudo, slo mais elevados do que os observados'há liiera~
51.

tura e cuidados adicionais devem ser tomados. Este elevado
Índice pode estar associado a altas taxas de contaminação
durante o ato cirúrgico.
0 germe mais comum foi o Staphulococcus sp., sem
diferença significativa entre as espécies Staphulococcus
epidermidis e Staphulocossus saprophuticus. Em ambas as espé-
cies, o Índice de resistênc ia â penicilina foi superior a 75%,
o que reflete uma flora bacteriana local bastante selecionada.
E importante salientar que, havendo a presença de
bactérias, a infecíçSo está na dependência da virulência do
germe, da resistência do hospedeiro e dos cuidados pré e pós-
operatórios.
Como a maioria dos pacientes operados no Hospital de
Clinicas da Universidade Federal do Paraná s3o de classes menos
favorecidas e muitas vezes apresentam comprometimento severo do
estado nutricional que, consequentemente, reduz a resistência
imunológica do hospedeiro e a flora encontrada mostrou-se exu-
berante e bastante resistente ao uso da penicilina ê pois,
importante enfatizar a necessidade dos cuidados de anti-sepsia .•
Cabe lembrar que a profilaxia da infecçSo é muito
mais económica que os custos de tratamento e portanto deve
merecer especial atençSo dos responsáveis administrativos e de
toda a classe médica e para-mêdica. A pesquisa laboratorial de
cada paciente com infecção acarreta um custo 2,6 vezes menor
do que aquele onde o tratamento ê orientado de forma empírica
<76).
As culturas do grupo II, colhidas das torneiras dos
lavabos, revelaram que a água proveniente da rede pública,
armazenada e distribuída pelo sistema hidráulico do Hospital de
tura e cuidados adicionais devem ser tomados. Este elevado
indice pode estar associado a altas taxas de contaminaç~o
dufante o ato cirúrgi~o.
o germe mais comum foi o Staphylococcus sp., sem
diferença significativa entre as espécies staphylgcoccus
epidermidis e Staphylocossus saprophyticus. Em ambas as espé-
cies, o indice de resistência ~ penicilina foi superior a 75X,
o que reflete uma flora bacteriana local bastante selecionada.
E importante salientar que, havendo a presença de \
bactérias, a infeeç~o est~ na dependência diviruléncia do
germe, da resistência do hospedeiro e dos cuidados pré e p6s-
operat6rios.
Como a maioria dos pacientes operados no Hospital de
Clinicas da Universidade Federal do Paran& s~o de classes menos
favorecidas e muitas vezes apresentam comprometimento severo do
estado nutricional que, conseqUentemente, reduz a resistência
imunol6gica do hospedeiro e a flora encontrada mostrou-se exu-
berante e bastante resistente ao uso da penicilina é pois,
importante enfatizar a necessidade dos cuidados de anti-sepsiai
Cabe lembrar que a profilaxia da infecç!o é muito
mais econômica que os custos de tratamento e portanto deve
merecer especial atenç~o dos respons&veis administrativos e de
toda a classe médica e para-médica. R pesquisa laboratorial de
cada paciente com infecç~o acarreta um custo 2,6 vezes menor
do que aquele onde o tratamento é orientado de forma empirica
(76).
Rs culturas do grupo 11, colhidas das torneiras dos
lavabos, revelaram que a ~gua proveniente da rede póblica,
armazenada e distribu~da pelo sistema hidr~ulico do Hospital de'
52

5 3
Clinicas da Universidade Federal do Paraná, é de boa qualidade, i
não podendo ser responsabilizada pela contaminação bacteriana
do ambiente ou dos equipamentos do centro cicúrgico.
Embora a contagem de bolores e leveduras não entre
no conceito de potabilidade da água, a presença desse germe em
todas as culturas de água reflete a necessidade de cuidados
adicionais em seu uso.
Quando utilizada na anti-sepsia dos elementos da
equipe cirúrgica ou da pele do paciente, representa um meio de
possível contaminação, assim como dos objetas que não sofrem
outros tipos de anti-sepsia.
Todas as bactérias e fungos isolados neste estudo
podem se tornar patogênicas em condiçfles próprias, como nos
pacientes imunodeprimidos, desnutridos, portadores de próteses,
diabéticos, obesos, prematuras, entre outros.
flber <1) discute os vários critérios utilizados nos
diferentes sistemas mais frequentemente empregados para se
estabelecer a identidade genética e biológica dos microorganis-
mos nosocomiais. Reafirma o grande valor da pesquisa epidemio-
lógica (38, 47, 67, 79), assim como a necessidade da padroniza-
ção das técnicas laboratoriais, a fim de estabelecer com preci-
são as limitaçOes do método e facilitar a interpretação dos
resultados.
Considerando que ainda não existe um método ideal
para a determinação dos principais agentes microbiológicos
ligados á infecção nasocomial, pode-se admitir que a identifi-
cação do tipo da flora local e sua susceptibilidade constituem
um método válido como início da investigação. 0 refinamento das
técnicas laboratoriais tem incrementado a precisão dos métodos
de investigação microbiológicas que, associadas à pesquisa
Clinicas da Universidade Federal do Paran~, é de boa qualidade. I
n~o podendo ser res~onsabililada pela contaminaç~o bacteriana
do ambiente ou dos equipamentos do centro cic~rgico.
Embora a contagem de bolores e leveduras n~o entre
no conceito de potabilidade da ~gua, a presença desse germe em
todas as culturas de ~gua reflete a necessidade de cuidados
adicionais em seu uso.
Quando utilizada na anti-sepsia dos elementos da
equipe cir~rgica ou da pele do paciente, representa um meio de
possível contaminaçlo, assim como dos objetos que nlo sofrem
outros tipos de anti-sepsia.
Todas as bactérias e fungos isolados neste estudo
podem se tornar patogênicas em condiç~es próprias, como nos
pacientes imunodeprimidos, desnutridos, portadores de próteses,
diabéticos, obesos, prematuros, entre outros.
Rber (1) discute os v~rios critérios utilizados nos
diferentes sistemas mais freqUentemente empregados para se
estabelecer a identidade genética e biológica dos microorganis- .
mos nosocomiais. Reafirma o grande valor da pesquisa epidemio-
lógica (38, 47, 67, 79>, assim como a necessidade da padroniza-
ç~o das técnicas laboratoriais, a fim de estabelecer com preci-
sfo as limitaç~es do método e facilitar a interpretaçfo dos
resultados.
Considerando que ainda nlo existe um método ideal
para a determinaçfo dos principais agentes microbiológicos
ligados A infecç!o nosocomial, pode-se admitir que a identifi-
caç!o do tipo da flora local e sua susceptibilidade constituem
um método Y~lido como inicio da investigaçlo. O refinamento das
I
técnicas l.boratoriais tem incrementado a precis!o dos métodos
de investigaç!o m~~robiológicas que,
\
associadas pesquisa
53

epidemiológica, facilitam o controle da infecç3o hospitalar. Rrmelini (8) analisa a alteração radical no padr3o
de germes causadores de infecçSo hospitalar, que, até a metade
dos anos 60, era relacionada ao meio ambiente e a literatura
assinalava a predominância do Staphulococcus aureus como prin-
cipal responsável por estas infecçBes. Desde ent3o, os germes
Gram-negativos vêm crescendo em importância como agentes causa-
dores da infecç3o hospitalar. Possivelmente esta mudança na
flora microbiana reflete a melhoria dos cuidadas ambientais,
evidenciando como principal causa de contaminação os germes
encontrados nas secreçBes humanas. Logo, a contaminação está
intimamente relacionada à deficiência de higiene no contato
direto de pessoa a pessoa (24). Correlaciona ainda as infecçBes
hospitalares ao germe causador, observando ser o Staphulococcus
epidermidis o responsável por 3,6% e a Ca n d ida, sp. por 2,4% das
infecçBes. Zanon (84) isolou o Staphulococccus epidermidis em
5,36% das infecçBes nosocomiais. Rrmelini (8) cultivou secre-
çBes das feridas cirúrgicas no Hospital de Ipanema e observou
que 28% das infecçBes eram causadas por Escherichia coli. 27,5%-
por Staphulococcus aureus. 12,5% por Klebsiella pneumoniae.
9,5% por Proteus mirabi1 is. 8,0% por Pseudomonas aeruqinosa.
4,5% por Citrobacter freundii. 2,5% por Enterobacter cloacae e
7,5% por outros germes. Estes resultados corroboram sua afirma-
tiva anterior quanto á importância do ambiente cirúrgico na
infecçSo da ferida operatória.
Nos pacientes com alteraçSo no mecanismo de defesa
humoral ou celular, as bactérias mais freqüentemente associadas
à infecção s3o os cocos Gram-negativos e entre os fungos o mais
comumente encontrado é a Candida sp.<40, 62). Rrmelini (8),
epidemio16gica, facilitam o controle da infecç~ohospitalar.
Rrmelini (8) analisa a alteraç~o radical no padr~o
de germes causadores de infecç~o hospitalar, que, até a metade
dos anos 60, era relacionada ao meio ambiente e a literatura
assinalava a predomin~ncia do Staphylococcus aureus como prin-
cipal responsável por estas infecç~es. Desde ent~o, os -germes
Gram-negativos vêm crescendo em import~ncia comti agentes causa-
dores da infecç~o hospitalar. Possivelmente e~ta mudança na
flora microbiana reflete a melhoria dos cuidados ambientais,
evidenciando como principal causa de contaminaç~o os germ~s
encontrados nas secreç~es humanas. Logo, a contaminaç~o est~
intimamente relacionada ~ defici~ncia de higiene no contato
direto de pessoa a pessoa (24). Correlaciona ainda as infecç~es
hospitalares ao germe causador, observando ser o Staphylococcus
epidermidis o respons~vel por 3,6~ e a ~ADdidA sp. por a,4X das
infecç~es. Zanon (84) isolou o Staphylococccus ru;!idermidis em
5,36X das infecç~es nosocomiais. ~rmelini (8) cultivou secre-
ç~es das feridas cirúrgicas no Hospital de Ipanema e observou
que 28~ das infecçe!es eram causadas por' Esc!lerichia coli, 27, 5~·
12, S/.: por !<l~b~iE1..!1..!! pnellIDOni!le,
4, Sr. por C i trob'lc ter fy'eund i i . 2,5% por Enterobac ter ç loac ae e
7,5% por outros germes. Estes resultados corroboram sua afirma-
tiva anterior quanto ~ import~ncia do ambiente cirórgico na
infecç~o da ferida operat6ria.
Nos pacientes com alteraç~o no mecanismo de defesa
humoral ou celular, as'bactérias mais freqUentemente associadas
~ infecç~o s~o os cocos Oram-negativos e entre os fungos o mais
comumente encontradJ é a Candid~ sp.(40, 62). Rrmelini (8),
54

enumera ainda as medidas de controle da infecção hospitalar e
enfatiza, entre outros aspectos, o exame bacteriológico perió-
dico de rotina do ambiente hospitalar quando houver um problema
epidemiológico especifico em curso, para o estudo de equipamen-
to utilizado em pacientes infectados, ou com alto risco de
infecção e no controle de técnicas de desinfecção, anti-sepsia
e assepsia ( 8, 33, 57).
flguiar ( 3), analisando a importância do número de
microorganismos na ferida cirúrgica, cita os estudos de Eleck
em 1950 onde ele demonstrou que apenas 7.500 Staphulococcus sp.
poderiam desenvolver infecção na pele suturada. Conclui que o
número máximo de microorganismos que os tecidos do hospedeiro
conseguem controlar está entre 100 mil e 1 milhão por unidade
de área, volume ou de peso. Deve-se considerar ainda a sensibi-
lidade do germe, o porte da agressão cirúrgica e as condiçOes
gerais do hospedeiro, pois, nos pacientes desnutridos, idosos,
diabéticos, obesos ou imunodeprimidos a infecção poderá ocorrer
com populaçSes bacterianas muito menores. Elek (26) em 1957,
analisando a concorrência de corpo estranho no aumento da
incidência da infecção de parede abdominal, demonstrou que
apenas 100 microorganismos poderiam desenvolver infecção se
fossem injetados em área de sutura com fio de seda no sub-
cutâneo. Logo, a presença de corpo estranho reduziu em 10.000
vezes a resistência local. 0 redução da resistência local
poderá ser ainda maior quando o tecido estiver incluído dentro
da ligadura. fllém disso, a melhor compreensão dos fatores
responsáveis por maiores alteraçOes na resistência do hospedei-
ro é de primordial importância na prevenção da infecção (22,
26, 64).
enumera ainda as medidas de controle da infecç!o hospitalar e
enfatiza. entre outros aspectos. o exame bacteriológico perió-
dico de rotina do ambiente hospitalar quando houver um problema
epidemiológico especifico em curso, para o estudo de equipamen-
to utilizado em pacientes infectados, ou com alto risco de
infecç~o e no controle de técnicas de desinfecç;o, anti-sepsia
e assepsia ( 8, 33, 57).
Aguiar (3), analisando a importancia do namero de
microorganismos na ferida cir~rgica. cita os estudos de Eleck
em 1950 onde ele ~emonstrou que apenas 7.500 StaQhylococcus sp.
poderiam desenvolver infecç;o na pele suturada. Conclui que o
ndmero m~ximo de microorganismos que os tecidos do hospedeiro
conseguem controlar está entre 100 mil e 1 milh~o por unidade
de ~rea, volume ou de peso. Deve-se considerar ainda a sen~ibi-
lidade do germe, jO porte da agress~o cirargica e as condiç5es
gerais do hospedeiro. pois, nos pacientes desnutridos, idosos,
diabéticos. obesos ou imunodeprimidos a infecç;o poderá ocorrer
com populaç~es bacterianas muito menores. Elek (26) em 1957,
analisando a concorréncia de corpo estranho no aumento da
incidência da infecç;o de parede abdominal, demonstrou que
apenas 100 microorganismos poderiam desenvolver infecç!o se
i fossem injetados em área de sutura com fio de seda n~ sub-
cutaneo. Logo, a presença de corpo estranho reduziu em 10.000
vezes a resistência local. A reduç~o da resistência local
poderá ser ainda maior quando o tecido estiver incluído dentro
da ligadura. Rlém disso, a melhor compreens~o dos fatores
responsáveis por maiores alteraç~es na resistência do hospedei-
ro é de primordial importancia na prevenç;o da infecçlo (22,
Z6, 64).
55

R ubiqüidade do Staphulococcus sp. torna impossível
a sua eliminação do ambiente hospitalar (17). Esta afirmativa
de Cohen (17) em 1964 foi plenamente corroborada em nosso
estudo, mostrando que todos os avanças experimentados nos úl-
timos anos, no campo da infecção hospitalar, foram insuficien-
tes para determinar um progresso expressivo no controle desse
germe a nível nosoc-omial. Explica-se este fato por ser o pró-
prio homem o principal reservatório do Staphulococcus sp. e a
eliminação desse germe da flora humana provavelmente jamais
ocorrerá de maneira satisfatória. Logo, é improvável que se
consiga erradicar este microorganismo do ambiente hospitalar,
ou que se reduzam radicalmente os índices de infecção pós-
cirúrgica, visto que na maioria das vezes a contaminação,
ocorre por germes da flora bacteriana normal da pele do pacien-
te ou dos elementos da equipe médica e para-médica (40, 83).
Cruse (22) analisa detalhadamente os fatores mais
freqüentemente envolvidos na infecção da parede abdominal,
assim como os germes mais freqüentemente nela envolvidos. Entre
as bactérias, o Staphulococcus aureus é o mais comum e o
Staphulococcus epidermidis vem aumentando sua implicação nessas
infecçBes, especialmente nos pacientes com próteses. Também os
germes Gram-negativos, têm sido encontrados c:om maior freqüên-
cia, especialmente nas cirurgias com abertura de alças intesti-
nais. Entre os fungos, o Bctinomuces sp., Candida sp.,
Blastomqces sp., Sporotrichum sp., fiucor sp. físperqíllus sp»,
Fusarium sp., Paracoccidioides sp. e a Nocardia sp. são os mais
freqüntemente associados ás infecçBes de parede abdominal.
Cunha (23), analisando as medidas preventivas e o
tratamento das infecçBes cirúrgicas, discute o risco, os tipos,
os principais fatores predisponetes e a incidência das infec-
56
R ubiqüidade do StaphylQcoccu~ sp. torna imp05s1vel
a sua eliminaçJo do ambiente hospitalar (17). Esta afirmativa
de Cohen (17) em 1964 foi plenamente corroborada em nosso
estudo, mostrando que todos os avanços experimentados nos ~l-
timos anos, no campo da infecçJo hospitalar, foram insuficien-
tes para determinar um progresso expressivo no controle desse
germe a nível nosocomial. Explica-se este fato por ser o pró-
prio homem o principal reservatório do Staphylococcu~ sp. e a
eliminaçJo desse germe da flora humana provavelmente jamais
ocorrer. de maneira satisfat6ria. Logo, é improvAvel que se
consiga erradicar este microorganismo do ambiente hospitalar~
ou que se reduzam radicalmente 05 fndices de infecç30 p6s-
cir~rgica, visto que na maioria das vezes a contaminaçlo,
ocorre por germes da flora bacteriana normal da pele do pacien-
te ou dos elementos da equipe médica e para-médica (40, 83).
Cruse (22) .nalisa detalhadamente os fatores mais
freqUentemente envolvidos na infecç~o da parede abdominal,
assim como os germes mais freqUentemente nela envolvidos. Entre
as bactérias, o Staphylococcus ª-~tr'ey.§. é o mais comum e o
jita1!h.Y.lococcus ~p'idf?rmid i s vem aumentando sua impl icaç~o nessas
infecç~es, especialmente nos pacientes com próteses. Também os
germes Oram-negativos. témsido encontrados com maior . \
freqt.tén~-
cia, especialmente nas cirurgias com abertura de alças intesti-
nais. Entre os fungos, o 8.ctinl2.!lli:1.f; .. @s sp., ÇjanJ!iu sp.,
Fusarium sp •. Paracoccidioides sp. e a Nocardi~ sp. s30 os mais
freqUntemente associados ~s infecç~es d~ parede abdominal.
Cunha (23), analisando as medidas preventivas e o
tratamento das infecç~es cir~rgicas. discute o risco, os tipos,
os principais fatores predisponetes e a incidência das infec-

çSes pós-cirúrgicas. O Staphqlococcus sp. foi o germe mais freqüentemente responsabilizado pelas infecçBes exógenas.
Finalizando, lembramos das palavras do professor
Alfredo Monteiro, que, em 1936, afirmavas "A profilaxia da
infecçSo cirúrgica repousa fundamentalmente nos métodos de
assepsia e anti-sepsia, de modo a evitar a contaminação da
ferida cirúrgica" <3). Este conceito permanece atual, revelando
a necessidade dos cuidados técnicos e da pesquisa constante
para o controle da infecçSo <31, 0).
çeJes pOs-cirürgicas. o St.ap,tly_!..c;.U;oca; .. !!.§. sp. foi o germe mais
freqUent.ementeresponsabilizado pelas infecçOes ex6genas.
Fin~lizando,lembramos das palavras do professor
Rlfredo Monteiro, que, em 1936, afirmava: "R profilaxia da
infecç~o cirúrgica repousa fundamentalmente nos métodos de
assepsia e anti-sepsia,de mode a evitar a cont.aminaç~o da
ferida cirúrgica" (3). Este conceito permanece atual, revelando
a necessidade dos cuidados técnicos e da pesquisa constant.e
para o controle da infecç~o (31, D).

CONCLUSÕES
1. R população bacteriana no centro cirúrgico do Hospital de
Clinicas da Universidade Federal do Paraná é predominantemente
composta par Sta phulococcus epidermidis e Staphqlococcus
saprophuticus. altamente resistes à penicilina.
2. 0. método utilizado no controle da flora microbiana do
ambiente cirúrgico n3o foi efetivo contra o Staphglococcus
epidemid is. Sta phglococcus sa prophqticus e fungos.
3. Rs torneiras dos lavabos n3o eram importantes reservatórios
de bactérias e fungos.
4. Os cuidados di spensados aos laringoscôpios, cânulas endo-
traqueais e tubos dos respiradores eram indequados. requerendo
reavaliação criteriosa. Naquelas condições, as possibilidades
de contaminação por bactérias e fungos da orofaringe e da
árvore traqueo-brônquica dos paciente submetidos a intubaç'áo
endotraqueal poderiam ser de até 94,5%.
5. 0 processo de esterilização empregado nos fios de sutura de
ácido polig1icólico e nas luvas cirúrgicas era eficaz contra o
desenvolvimento de bactérias e fungos.
6. Rs bacias com o anti-séptico álcool iodado permitiram o
desenvolvimento de bactérias, requerendo reavaliação criteriosa
quanto ao seu uso.
7. 0 método de limpeza e esterilização dos campos cirúrgicos
demonstrou ser ineficiente nesta amostra.
8. Os colchões das mesas cirúrgicas eram importantes reserva-
tórios de bactérias (108,0% de contaminação).
1. R populaç~o bacteriana no centro cirúrgica da Hospital de
Clinicas da Universidade Federal do Paran~ é predominantemente
composta
?_aprop.J1Y .. ~_tÇJ.lS, altamente resistes à penic:i.linan
Z. CI, método utilizado no controle da flora microbiana do
ambiente cirllrgico n:Jo foi efetivo contr'a o St.!M..Y.!Q.f;..Qf.culi!,
~.P...t~g!!Ltº-;l~. , § .. t_ª.n.b'y .. ~~º .. ç_º_ç_çJ:~É. §_ª-J;1..r .. Q.R!"tY . .t.J.ç .. ~\.É. e f 1.1 n g (J s •
3. Rs torneiras dos lavabos n~o eram importantes reservatórios
de bactérias e fungos.
4. Os cuidados di .pensados aos laringosc6pios, c~nulas endo-'
traqueais e tubos dos respiradores eram indequados, requerend()
reavaliaç~o criteriosa. Naquelas condiçnes,
de contam i naç:~o por bac tér' i,:t s (? fungos da
as possibilidades
orofaringe e da
árvore traqueo-brbnquica dos paciente submetidos a intubaç:~o
endotraqueal poderiam ser de até 94 5%.
5. O processo de esterilizaç~o empregado nos fios de sutura de
ácido poliglic61ico e nas luvas cirúrgicas era eficaz contra o
desenvolvimento de bactérias e fungos.
6. Rs bacias com o anti-Séptico ~lcool iodado permitiram o
desenvolvimento de bactérias, requerendo reavaliaç~o criteriosa
quanto ao seu uso.
7. O método de limpeza ~ esberililaç:~o dos campos cirúrgicos
demonstrou ser ineficiente nest~ amostra.
8. Os colch~es das mesas cirúrgicas eram importantes reserva
t6rios de bactérias (100.0% de cDntamiftaç~o).

3 9
9. R água pode ser uma fonte de contaminação por fungos.
10. No período de 29/09/86 a 10/02/87, o centro cirürgico do
Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná apre-
sentou crescimento expressivo de bactérias e fungos em vários
locais e instrumentos, que poderiam ser fontes de infecção pós-
operatória em alguns,pacientes.
9. R ~gua pode ser uma fonte de cbntaminaç~o por fungos.
10. No período de Z9/09/86 a 10/0Z/87, o centro cirdrgico do
Hospital de Clinicas da Universidade Federal do ParanA apre-
sentou crescimento expressivo de bactérias e fungos em v~rios
locais e instrumentos, que poderiam ser fontes de infecç!o pós-
operatória em alguns,pacientes. i
59

SUMMARY
To determine the prevailing germ population in the operating room at the Clinical Hospital of the Federal Univer-sity of Parana, 100 bacterial cultures and 100 fungus cultures were performed from various locations and equipaments of the operating room. In addition, it was done bacterial and fungus cultures from five samples of water obtained from basin faucets connected to the public water supply. Bacteria growth occurred in 9 samples (90,0%) obtained from floor of the rooms, 3 sam-ples (30,0%) obtained from the basin faucets, 6 samples (60,0%) obtained from the laryngoscopes, 6 samples (60,0%) obtained from endotraqueal tubes, 4 samples (40,0%) obtained from respi-rator tubes, 3 samples (30,0%) obtained from basin with iodine alcohol, 2 samples (20,0%) obtained from surgical drapes and 10 samples (100,0%) obtained from the surgical table mattresses. The bacteria most frequently isolated were Staphylococcus epidermidis (53,5%) and Staphylococcus saprophyticus (46.5%). The penicillin resitance index was 76,7%. Gram-negative bacte-ria were present in 2 samples (20,0%) obtained from the laryn-goscopes. Development of fungus occurred in 2 samples (20,0%) obtained from the floor of the operating rooms, 2 samples (20,0%) obtained from the basin faucets, 2 samples (20,0%) obtained from the laryngoscopes, 1 sample (10,0%) obtained from the endotraqueal tubes, 2 samples (20,0%) obtained from respi-rator tubes and 1 sample (10,0%) obtained from mattresses. The fungus most frequently isolated were filament fungus (80,0%) and yeast (20,0%). There was no bacterial or fungus growth in the samples collected from polyglicolic acid suture and in sterile surgical gloves obtained from sealed packages. There was no fungus growth in the samples collected from basins with iodine alcohol and surgical drapes. There was no bacterial growth in the water samples. However, fungus growth occurred in 100,0% of the water samlpes, varying from 2 to 8 colonies per milliliter. It is concluded that the microbian population in the operating room was predominantly composed of Staphylococcus epidermid is and Staphulococcus sa prophyticus. which were hightly resitant to penicillin. The methods employed to control germ growth in the operating room were not effective against Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus saprophyticus and fungus. The basin faucets were not important reservoirs of bacteria and fungus. The methods employed to clean the laryn-goscopes, traqueal tubes, and respirators tubes were inade-quate, requiring a critical réévaluation. In those conditions, the possibility of bacterial and fungus contamination of the oropharynx and tracheobronquial tree could be as high as 94,5%. The sterilization method used in suture threads and sterile surgical gloves were effective against bacteria .and fungus. There was bacteria growth in the basins with alcohol iodine antiseptic. The method of cleaning and sterilization of the surgical drapes was not effective in the samples evaluated. The mattresses were important reservoirs of bacteria. The water may be a source of fungus contamination. It is concluded from this study that in the period of 09/29/86 througt 02/10/87 the
To determine the prevailing germ population in the operating room at the Clinical Hospital of the Federal University of Parana, 100 bacterial cultures and 100 fungus cultures were performed from various locations and equipaments of the operating room. In addition, it was done bacterial and fungus cultures from five samples of water obtained from basin faueets eonneeted to the public water supply. Bacteria growth occurred in 9 samples (90,0%) obtained from flocr of the rooms, 3 sampIes <30,0%) obtained from the basin faucets, 6 samples (60,0%) obtained from the laryngoscopes, 6 samples (60,0%) obtained from endotraqueal tubes, 4 samples (40,0%) obtained from respirator tubas, 3 samples (30,0%) obtained from basin with iodine alcohol, 2 samples'(20,0%) obtained from surgical drapes arid 10 samples (100,0%) obtained from the surgieal table mattresses. The bacteria most frequently isolated wel~e Sta.Q.hylococcLI!, epidermidis (53,5%) and Staph'y"!"ococcus sapl"ophyticus (46~5:r.). The penieil1in resitanee index was 76,7%. Oram-negative baeteria were present in 2 samples (20,O%) obtained from the laryngoseopes. Development of fungus oecurred in 2 samples (20,0%) obtained from the floor of the operating rooms, Z samples (20,0%) obtained from the basin faucets, 2 samples (20,0%) obtained from the laryngoscopes, 1 sample (10,0%) obtained from the endotraqueal tubes, 2 samples (20,0%) obtained from respirator tubes and 1 sample (10,0%) obtained from mattresses. lhe fungus most frequently isolated were filament fungus (80,0%) and yeast (20,0%). lhere was no bacterial or fungus growth in the samples colleeted from polyglieolie aeid suture and in sterile surgieal gloves obtained from sealed paekages. lhere was no fungus growth in the samples eolleeted from basins with iodine aleohol and surgieal drapes. There was no baeteri~l growth in the water samples. However, fungus growth oeeurred in 100,0% of the water samlpes. varying from 2 to 8 colonies per milliliter. It is concluded that the mierobian population in the operating room was predominantly composed of StaphylQcoccuS epider'midis and StaphylococcLlS, saproQh.Y..i!.f.lliIL which were hightly resitant to penieillin. The methods employed to control germ growth in the operating room were not effective against Staphyloeoecus !liti.dermidis, Staphylococcus saprophyticus a1'ld fungus. lhe basin faucets were not important reservoirs of baeteria and fungus. lhe methods employed to clean the laryngoscopes. traqueal tubes, and respirators tubes were inadequ~te. requiring a criticaI reevaluation. In those eonditions; the possibility of bacterial and fungus contamination of the oropharynx and tracheobronquial tree could be as high as 94,5%. The sterilization method Llsed in suture threads and sterile surgical gloves were effeetive against bacteria .and fungus. lhere was bacteria growth in the basins with alcohol iodine antiseptie. lhe method of cleaning and sterilization of the surgical drapes was not effective in the samples evaluated. lhe mattresses were important reservoirs of bacteria. lhe water may be a source of fungus eontamination. It is eoncluded f~om this study that in the period of 09/29/86 througt 02/10/87 the

operating room of the Clinical Hospital of the Federal Univer-sity of Parana presented expressive bacterial and fungus growth in several locations and equipaments that could be a source of infection in the postoperative period in some pacients.
operating room of the Clinicai Hospital of the Federal University of Parana presented expressive bacterial and fungus growth in several locations and equipaments that could be a source of infection in the postoperative period in some pacients.
61

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ABER, R. C. & MACKEL, D. C. Epidemiologic typing of
nosocomial microorganisms. Am. J. Med., 70:899-905.
1981.
2. AGUIAR, N. et. al. A repercussão do controle de antimicro-
bianos em alguns indicadores hopitalares. Rev. Faul.
Hosp.. £4:207-12, 1976.
3. AGUIAR, N. Infecções cirúrgicas. In: NEVES. J. Diagnóstico
e tratamento das doenças infectuosas e parasitárias. Rio
de Janeiro, Guanabara Koogan, 1978. p.886-96.
4.' ALTEMEIER. W. A. 8. ALEXANDER, J.W. As infecções. In:
DAVIS. L. Clinica Cirúrgica. 2.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 1970. p. 33-50.
5. ALTEMEIER, W. A. et. al. Manua1 on control of infection in
surgical patients. Philadelphia, J. B. Lippincott, 1978.
6. AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION .Controle de infecções. £o
hospital. 3.ed. S3o Paulo, Sociedade Beneficiente SSo
Camilo, 1976. 203 p.
7. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION? AMERICAN WATER WORKS
ASSICIATIONj WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION. Standard
methods for the examination of water and wastewater. 14
ed. Washington, D. C.,1976. 1.193 p.
8. ARMELINI, P. A. & SEGRE, C. A. M. Infecções hospitalares.
Ped. Mod ., .19 s 457-84 , 1984.
REFERÊNCIRS BIBLIOGR~FICRS
1. RBER, R. C.& MRCKEL, D. C. Epidemiologic typing of
nosocomial n\icrooT'ganisms. Rm. J. Med., 70:899-905,
1981.
2. RGUIRR, N. et. ai. R reperc:uss~o do controle de antimicro-
bianos em alguns indicadores hopitalares.
HosJl., ~.:207..,.12, 1976.
Rev. E:..nt 1 .•
3. RGUIRR, N. Infecç~es cirdrgicas. In: NEVES, J. Diagnósticq
!. tratamento das doenças infectuosas !. parasitárias. Rio
de Janeiro, Guanabara Koogan, 1978. p.886-96.
4~ RLTEMEIER, W. R. & nLEXnNOER, J.W. Rs infecçees. In:
DRVIS, L. klini~a Cirq~icà. 2.ed. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 1970~ p. 33-50.
5. RLTEMEIER, W. n. et. alo Manual Q.!1 control Q.Í. infection in
surgical patient~. Philadelphia, J. B. Lippincott, 1978.
6. RHERICRN HOSPITRL RSSOCIRTION.Controle de infeccees. n2
hospital. 3.ed. 830 Paulo, Sociedade Beneficiente 530
Camilo, 1976. 203 p.
7. RHERICRN PUSLIC HERLTH RSSOCIRTION, RMERICRN WRTER WORKS
RS5ICIRTION, WRTER POLLUTION CONTROL FEDERRTION. Standard
Inethods for the exami nat ion of water' and wastewater. 14
ed. Washington, D. C.,1976. 1.193 p.
B. RRMELINI, P. R. & 5EGRE, C. R. H. Infecç~es hospitalares.
F'ed. Mod., 191 1-157-84, 1984.

9. BARRY, A. L. et. al. Methods of measuring zones of
inibition with the Bauei—Kirby disk susceptibility test.
J. Clin. Microbiol..10:885-9 1979.
10.BAUER, A. W.; KIRBY, U. M. M.? SHERRIS, J. C.» TURCK, M.
Antibiotic susceptibility testing by a standardized disc
method. Am. J. Clin. F:,athol. . 45r493-6, 1966.
11.BERNARD, H. R. & COLE, W. R. Bacterial air contamination
and its relation to postoperative sepsis. Ann.
Surg.,156:12-8,23,1962.
12.BIER, 0. Bacteriologia geral? resumo histórico. Ins
BIER, 0. Bacteriologia e imunologia. 2.ed. SSo Paulo,
Melhoramentos, 1945.
13.BIER, 0. Bacteriologia e imunologia. 19. ed., S3o Paulo,
Melhoramentos, 1978. 1062 p.
14.B0RNSIDE, G. H.j CROWDER JR., V. H.p COHN JR., I.. A
bacteriological evaluation of surgical scrubbing with
disposable iodophor-soap impregnated polyurethane scrub
sponges. Surg.. 64:743-51, 1968.
15.BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de contrõle de infec-
c3o hospitalar. Brasília, Centro de Documentação do
Ministério da Saúde, 1985. 123 p. (série Asnormas e
manuais técnicos, 16).
16.COELHO, J. C. U. et. al. Avaliação de anti-sépticos empre-
gados na degermaçSo pré-operatória das mãos. F. Med..
86s 251-4, 1983.
17.COHEN, L. S.j FEKETY JR., F. R.j CLUFF, L. E. Studies of
the epidemiology of Staphylococcal infection. VI. Infec-
tions in the surgical patient. Ann. Surg.., 159:321-34 f 1964.
63
9. BRRRY, R. L. et. aI. Methods of measuring zones of
inibition with the Bauer-Kirby disk susceptibility testa
J. Clin. Micl"obiol., 10:885-9, 1979.
10.BRUER, R. W., KIRBY, W. M. M.; SHERRIS, J. C., TURCK, M.
Rntibiotic susceptibility testing by a standardized disc
method. Rm. J. Clin. Pathol. 45:493-6 1966. ____ 1_- , 11.BERNRRD, H. R. & COLE, W. R. Bacterial air contamination
and its r'elation to postopel"ative sepsis.
1Z.BIER, o. Bacteriologia geral; resumo hist6rico. Inll
BIER, o. Bacteriologia ~ imunologia. Z.ed. 530 Paulo,
Melhoramentos, 1945.
13.BIER, o. Bacteriologia ~ imunologia. 19. ed., S30 Paulo,
Melhoramentos, 1978. 106Z p.
14.BORN5IDE, G. H.; CROWDER JR., V. H.; COHN JR., I •• R
bacteriological evaluation of surgical scrubbing with
disposable iodophor-soap impregnated polyurethane scrub
sponges. Surg., 64:743-51, 1968.
15. BRRSIL. Mi ni stério da Sal'de. Manua I de contrOle de i nfec-
,30 hospitalar. Brasília, Centro de Oocumentaçlo do
Ministél~io da Sat.\de, 1985. 1Z3 p. (sél~ie R:normas e
manuais técnicos, 16).
16.COELHO, J. C. U. et. ai. Rvaliaçlo de anti-sépticos empre-
gados na degermaçlo pré-operatória das m30s. E.. Med. ,
86:251-4, 1983.
17.COHEN, L. S.; FEKETY JR., F. R.; CLUFF, L. E. Studies of
the epidemiology of Staphylococcal infection. VI. Infec-
tions in the surgical patient. Rnn. Surg., 159:321-34,
1964.

18.C0HN JR., I. 4 BORNSIDE, G. H. Infecções. Ins SCHWRRTZ.
S. I. et. al. Princípios de cirurgia. 3. ed. Rio de
Janeiro, Guanabara, 1981. p.208-35.
19.COLE, W. R. & BE.RNRRD, H. R. Inadequacies of present
methods of surgical skin preparation. flrch. 8urq..
89:215-18, 1964.
20.CROWDER JR., V. H. et. al. Bacteriological comparison of
hexaclorophene and polyvinylpyrrolidone-iodine surgical
scrub soaps. Rm. Surg.. 33:906-11, 1967.
21.CRUSE, P. J. E. & FOORD, R. The epidemiology of wound
infection. R 10 year prospective study of 62.939 wounds.
Clin. Cir. Rm. North.. 27-40, Feb. 1980.
22.CRUSE, P. Surgical infection: incisional wounds. In:
BENNETT, J. V. & BRRCHMRN, P. S. Hospital infection. 2.
ed. Boston, Little Brown, 1987. p.423-36.
23.CUNHR. J. C. Medidas preventivas e tratamento das infec-
ções cirúrgicas. Clínica Geral. 11.8 41-6, 1977.
24.DRSCHNER, F. Infectious hazards in rooming-in systems. J.
Perinat. Med.. 12:3-6, 1984.
25.EHRENKRRNS, N. J. Surgical wound infection occurrence in
clean operations. Risk stratification for interhospita 1
comparisons. Qm. J* Med.. 70:909-14, 1981.
26.ELEK, S.D. & CONEN, P.E. The virulence of Staphulococcus
puoqenes for man: a study of the problems of wound infec-
tion. Br. J. Exp. Pathol.. 38:573, 1957.
27.ENCICLOPEDIR BRRSR. Rio de Janeiro, Encyclopaedia Britan-
nica. 1965. 14 v. v. 7. p. 379-81.
18. COHN JR., I •
8. I. et.
& BORNSIDE, G. H. Infecç~es.
aI. Principios de cirurgia.
Ina SCHWRRlZ.
3. ed. Rio de
Janeiro. Guanabara. 1981. p.Z00-35.
19.COLE. W. R. & BERNRRD. H.
methods of surgical skin
89:Z15-18. 1964.
Z0.CROWDER JR.. V. H. et. ai.
R. Inadequacies Df present
preparation. Rrch. Surg.,
Bacteriological comparison Df
hexaclorophene and polyvinylpyrrolidone-iodine surgical
sc:rub soaps. Rm. StJ.!:.!l., 33:906-11, 1967.
Z1.CRUSE. P. J. E'. & FOORD, R. lhe epidenliology Df wound
infection. R 10 year prospective study Df, 62.939 wounds.
Clin. Ciro Rm. North,., Z7-40, Feb. 1980.
ZZ.CRUSE. P. Surgical infection: incisional wounds. In:
BENNETT, J. V. & BRRCHMRN, P. 8. Hospital infection. Z~
ed. Boston, Little Brown, 1987. p.4Z3-36.
Z3.CUNHR. J. C. Medidas preventivas e tratamento das infee
ç~es cir~rgicas. Clínica Geral, 11:41-6. 1977.
Z4.DRSCHNER, F. Infectious hazards in rooming-in systems. ~.
f'erinat. Med., 1Z:3-6, 1984.
Z5.EHRENKRRNS. N. J. Surgical wound infection oc:currence in
clean operations. Risk stratification for interhospital
comparisons. am. J. Med., 70:909-14. 1981.
Z6.ELEK. 8.0. & CONEN. P.E. The virulence Df Staphylococcus.
pyogenes for man: a study of the problems of wound infec
tion. Br. J. ~. Pathol., 38:573. 1957.
Z7.ENCICLOPEDIR BRRSR. Rio de Janeiro. Encyclopaedia Britan
niea. 1965. 14 v. v. 7. p. 379-81.
61.,

28.FERRAZ, E. M. et. al. Incidência de infecçOes em pacientes
operados por patologia do aparelho digestivo. Rev. Col.
Bras. Cir.. 6:255-60, 1979.
29.FERRAZ, E. M. et. al. Variação da incidência de infecção
pós-operatória relacionada com o tipo de cirurgia execu-
tada. Rev. Col. Bras. Cir., 7:1-4, 1980.
30.FERRAZ, E. M. et. al. Etiologia das infecçOes pós opera-
tórias do aparelho digestivo. Rev. Col. Bras. Cir..
7:113-6, 1980.
31.FERRAZ, E. M. Infecção pós-operatória. editorial. Rev.
Col. Bras. Cir..8:201-2, 1981.
32.FERRAZ, E. M. et. al. Inquérito nacional sobre infecçOes
pós-operatórias. Rev. Col. Bras. Cir..8:253-62f 1981.
33.FERRAZ, E. M. Manual de controle de infecção em cirurgia.
São Paulo, Colégio Brasileiro de CirrurgiOes, E.P.U.,
1982. 346 p.
34.FINEG0LD, 8. M. & MARTIN, J. W. Diagnostic microbioloau.
6. ed. St. Louis, C. V. Mosby, 1982. 670 p.
35.FONTES, B. Infecção e trauma. In: BIROLINI, D. & OLIVEI-.
RA, M. R. Cirurgia do trauma. Rio de Janeiro, Atheneu,
1985. p. 43-64.
36.FRANK, M. J. & SCHAFNER. W. Contaminated aqueous benzal-
konium cloride? an unnecessary hospital hazard.
JAMA.236:2418- 9, 1976.
37.FRANZ0SI, F. M. ImplicaçOes no preparo da pele e curativos
cirúrgicos na sala de operação. Rev. Paul. Hosp..24:39-
40. 1976.
28.FERR~Z. E. H. et. aI. Incidência de infecç~es em pacientes
operados por patologia do aparelho digestivo. Rev. Colo
~~. Cir •. ~:255-6e. 1979.
29.FERR~Z; E. H. et. aI. Variaç~o da incidência de infecç30
pós-operatória relacionada com o tipo de cirurgia execu-
tada. Rev. Colo EI,~as. ç.i.r.. •• 'Z.:1-·4. 1980.
3e.FERR~Z. E. H. et. aI. Etiologia das infecç~es pós opera-
t6rias do aparelho digestivo. Rev. Colo Bras. Cir •.
Z:113-6. 19813.
31.FERRRZ. E. H •. lnfecç~o pós-operatória. editorial. Rev.
Çol. Bras. Cir •. ~:2el-2. 1981.
32.FERRRZ. E. H. et. aI. Inquérito nacional sobre infecç~es
p6s-operatórias. Rev. Colo Bras. Cir •. ª.:253-62. 1981.
33.FERRRZ, E. H. Hanual de contl~ole de infecç~o ~ cirurgia.
S~o Paulo. Colégio Brasileiro de Cirrurgi~es. E.P.U.,
1982. 346 p.
34.FINEGOLD. S. H. & H~RTIN. J. W. Diagnostic microbiologu.
6. ed. st. Louis. C. V. Hosby. 1982. 6713 p.
35.FONTES. B. 'Infecç~o e trauma. In: BIROLINI. D. & OLIVEI-.
R~. H. R. Cil~Ul~gia dQ. traum~t. Rio de Janeir'o. Rtheneu,
1985. p. 43-64.
36.FRRNK, H. J. & SCH~FNER. W. Contaminated aqueous benzal-
konium cloride~ an unnecessary hospital hazard.
JRHR.236:2418- 9, 1976.
37.FRRNZOSI. F. H. Implicaç~es no preparo da pele e curativos
cir~rgicos na sala de operaç30. Rev. Paul. Hosp •• 24:39-
40. 1976.
6 r::' ,:)

6 6
38.FUCHS, F. D. et. al. InfecçSo hospitalar: apresentação de
um sistema operacional de controle epidemiológico. Rev.
Rssoç. Med- Eras..29:174-7, 1983.
39.FURNRS, D. W. The universal sterilization principle and a
corolary. Rnn. Plast. Surg..12:387-93. 1984.
40.HOWRRD, R. J. & SIMMONS, R. L. Surgical infectious
d iseases. 2 ed. Norwalk, Connecticut / San Mateo,
California, Rppleton & Lange, 1988 p.1-114.
41.HOURRTH, F. H. PrevençSo da infecç3o transmitida pelo ar
durante a cirurgia. Rev. 'Paul.. Hosp. .24:366-8. 1976. i
42.HUNT, T. K. Surgical wound infections: an overview. Qm. J.
BM.-70.! 712-18, 1981.
43.HUTZLER, R. U. et. al. Incidência de infecçCSes hospita-
lares. Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. S3o Paulo.28(Supl.):1-
7, 1973.
44.HUTZLER, R. U. et. al. Rspectos microbiológicos de infec-
çCJes hospitalares. Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. SSo Pau-
lo,28.( Supl.): 18-30, 1973.
45.HUTZLER, R. U. InfecçSes hospita lares. In: VERONESI, R..
Doenças infecciosas e parasitárias• 6. ed. Rio de Janei-
ro, Guanabara, 1976. p. 574-8.
46.JIBERTONI, J. et. al. RvaliaçSo de um método de anti-
sepsia da pele de m3os e antebraços de equipes cirúrgicas
sem uso prévio de escova e sabSo. Rev. Hosp. Clin. Fac.
Med. SSo Paulo., 28(Sup 1.):42-51, 1973.
47.KRSL0W, R. R. et. al. Nosocomial pseudobacteremia. Posi-
tive blood cultures due to contaminated benzalkonium
antiseptic. JRMR.236:2407-9. 1976.
38.FUCHS, F. D. et. aI. Infecç~o hospitalar: apresentaç~o de
um siste.ma operacional de controle epidemiológico. Rev.
Rssoc. Med. Bras.,29:174-7, 1983.
39.FURNRS, D. W. The universal sterilization principIe and a !
corolar'y. Rnn. F'last. ~u.t.9 .• , 1~.:387-93, 1984.
40.HOWRRD, R. J. ~ SIMHONS, R. L. Surgical infectious
diseases. 2 ed. Norwalk, Connecticut / San Mateo,
California, Rppleton ~ Lange, 1988 p.1-114.
41.HOWRRTH, F. H. Prevenç~o da infecç~o transmitida pelo ar
durante a ciruf'gia. R~y'. f'ª-!-1!.. Hosp. ,24:366-8, 1976. I
42.HUNT, T. ~<. Surgical wound infections: an overview. B.m.. 4.
~~ .• ,71q.:712-18, 1981. .
43.HUTZLER, R. U. et. aI. Incidência de infecç~es hospita-
lares. Rev. Ho1!.P.. Clin. Fac. Med. S:l(o F'aulo,28(Supl.):1-
7, 1973.
44.HUTZLER, R. U. et. aI. Rspectos microbiológicos de infec-
ç5es hospitalares. Rev. Hosp. Clin. Fac. Hed. S30 F'au-
10,28.<Supl.>:18-30, 1973.
45.HUTZLER, R. U. Infecç~es hospitalares. In: VERONESI, R •.
ro, Guanabara, 1976. p. 574-8.
46~JIBERTONI J. et. aI. Rvaliaç~o de um método de anti-
sepsia da pele de m~o~ e antebraços de equipes cirórgicas
sem uso prévio de escova e sab30. ~. Hosp. Clin. EL~.
Med. S:!o F'aulo,28(Supl.):42-51, 1973.
47.KRSLOW, R~ R. et. aI. Nosocomial pseudobacteremia~ Posi-
tive blood cultures due to contaminated benzalkonium
antiseptic.JRMR,236:2407-9, 1976.
66

67
48.KOCH, 0. T. S. et. al. Incidência de infecção hospitalar -
Hospital Belo Horizonte. Rev. Assoc. Med. Minas Ge-
ra is . 57: 5-8 1986.
49.KRUIF, P. Caçadores de micróbios. 4. ed. S3o Paulo, José
Olímpio, 1949. 325 p.
50.LACAZ, C. Sr Micoloqia Médica. 7. ed. S3o Paulo, Sarvier,
1984.
51.LRUF'MRN, H. What's wrong with our operating rooms? Rm. J.
Surg..122:552-45r 1971.
52. LRUF'MRN, H. Surgical hazard control. Rrch . Surg . . 107:552-
9, 1973.
53.LRUF'MRN, H. Environmenta 1 aspects of the prevention of
wound infection. In: SIMMONS, R. L. & HOWRRD, R. J.
Surgical infections deseases. New York, Rppleton Century
Crofts, 1982. p. 443-7.
54.LEA0, M. T. C. Rntibióticos e o controle de infecção
hospitalar. Curitiba, Scientia et labor, 1987, 276 p.
(Série difusão).
55.LIDWELL, 0. M. Airborne bacteria and surgical infection.
Rm. J. Med.,70:695-7, 1981.
56.LOWBURY, E. J. L. et. al. Desinfection of the skin of
operation sites. Br. Med. J.,2:1059-44, 1960.
57.MALLIS0N, 6. F. Microbiologic sampling of the inanimate I
environment in U. S. hospitals, 1976-1977.Am. J.
Med. 70:941-6 1981.
58.MARCHES0TTI, E. et. al. Colonização bacteriana da pele
adjacente e infecção da incisão cirúrgica. Rev. Hosp.
Clin. Fac. Med.,São Paulo 28 (Supl.)s31-41, 1973.
48.KOCH, O. T. S. Eit. alI
Incidência de infecç~o hospitalar -
Hospital E:elo HOl~izonte. ~ev. Rssoc. Med. Minas Ge-
rais,37:5-8, 1986.
49. KRUIF, P. Caçadores de micl~óbios. 4. ed. S~o Paulo, José
Olímpio, 1949. 325 p.
50.LRCRZ, C. Sr Micologia Médica. 7. ed. S~o Paulo, Sarvier,
1984.
51.LRUFHON, H. What '5 wl~ong with Ol.ll~ opel~ating rooms? Rm. ~.
52.U·lUFHr:'}N, H. Surgical haz.:ll~d contl~ol. r-kch. Surg.,1B'7:55Z-
9, 19'73.
53.LRUFHRN, H. Environmental aspects of the prevention of
wound infection. In: SIHHONS, R. L. & HOWRRD, R. J.
Surgical infections deseases. New York, Rppleton Century
Crofts, 1982. p. 443-7.
54.LERO, H. T. C. Rntibióticos !! Q. controle de . infecç~o
hospitalar, Curitiba, Scientia et labor, 1987, i'76 p.
(Sél~ie difus!o).
55.LIDWELL, O. H. Rirborne bacteria and sl.lrgical infection.
a~. J. Hed.,70:693-7, 1981.
56.LOWE:URY, E. J. L. et. ai. Desinfection of the skin of
operation sites. 8r. Hed. J. 2=1039-44 1960 • ... - --- -'- ,
57.HRLLISON, G. F. Microbiologic sampling of the inanimate
environment in U. S. hospitaIs, 1976-197'7.Rm. ~.
Med., 70:9LH-6, 1981.
58.MRRCHESOTTI, E. et. ai. Colonizaç~o bacteriana d. pele
adjacente e infecç~o da incis~o cirdrgica. !lt!.Y.. Hosp.
Cltn. Fac. Med. ;S~o Paulo,Z9 (Supl.)1I31-41, 19'73.
67

59.MRRTINS, E. P. Saneamento do ambiente hospitalar. Rev.
Paul. Hosp... 255*400-6 . 1975.
60.MRYHRLL, C. G. Surgical infections including burns. In:
WENZEL, R. P. Prevention and contol of nosocomia1 infec-
tion. Baltimore, Williams & Wilkins, 1987. p. 344-84.
61.MELO, S. M. et. al. Colonização bacteriana em soluçOes
usadas como gotas nasais em crianças. J. Ped.,45:43-5,
1978.
62.NICHOLS, R. L. Surgical infections. In: CONDON, R. E. &
NYHUS, L. M. Manual of surgical therapeutics. 4. ed.
Boston, Little, Brown and Company, 1980. p. 291-328.
63.PESS0R, G. V. 0. et. al. Isolamento de enterobactérias
patogênicas em berçários do município de São Paulo. Rev.
Inst. Adolfo Lutz.40:107-27 1980.
64.P0STLETHWAIT, R. W. Principles of operative surgery: anti-
sepsis, technique, suture and drains. Ins SABI8T0N JR,
D. C. Text book of surgery; the biological basis of
modern surgical practice. 12. ed. Philadelphia, U. B.
Saunders, 1981. p.317-32.
65.QUADRA, R. R. F. et. al. Critérios específicos para a
identificação de infecção hospitalar. Rev. Paul.
Hosp. 24:448-50 1976.
66.RRJO, G. S. et. al. R bacteriological study of sources of
infection in the operating theatre at a teaching hospi-
tal. West Indian Med• J.,32:38-43, 1983.
67.RHRME, F. S. & SUDDERT, W. D. Incidence and prevalence as
used in the analysis of the occurrence of nosocomial
infections. Am. J. Epidemiol..113:1-11. 1981.
59.MRRTINS, E. P. Saneamento do ambiente hospitalar. fiev.
P<1.ul. Hosg •. ,Z3:400-6, 1975.
60.MRYHRLL, C. G. 5urgical infections including burns. In:
WENZEL, R. P. F're~~ntiQ.!1!!ru! f:..P_n.19.l gi. nosocgmial infec-
tion. Baltimore, Williams 13. Willdns, 1987. p. 34lf-84.
61.HELO, 5. H. et. ai. Colonizaç~o bacteriana em soluçOes
usadas como gotas nasais em crianças.
1978.
62.NICHOLS, R. L. Surgical infections. In: CONDON. R. E. &
NYHUS, L. M. Manual of §.l!!:.fL~cal therageutics. 4. ed.
Boston, Little, Brown and Company. 1980. p. Z91-3Z8.
63.F'ESSOR, G. V. R. et. alo Isolamento de enter'obactérias
patogênicas em berçAI~ios do município de 530 Paulo. Rev.
Inst. Rdolfo Lutz lf0:107-Z7 1980. ---- ----,-- . 64.POSTLETHWRIT. R. W. Principies of operative surgery,' anti-
\
sepsis, techn{que. suture and drains. In: SRBISTON JR,
D. C. Teu book of ~:.g.§.!:~:p the biological basis of
modern surgical practice. 12. ed. Philadelphia, W. B.
Saunders 1981. p.317-32.
6S.QURDRR, R. R. F. et. ai. CI~itérios especificos pal~a a
identificaç~o de infecç~o hospitalar. Rev. Paul.
Hosp.,Z4:448-50, 1976.
66.RRJ~, G. s. et. ai. R bacteriological study of sources of
infection in the operating theatre at a teaching hospi-
tal. w~?t Indian Med. J. 32:38-43 - ,_.. , 1983.
67.RHRME, F. S. & SUOOERT, W. D. Incidence and prevalence as
used in the analysis of the occurrence of nosocomial
infections. Rm. ~ .• EpidemiQI.,11;?:1-11, 1981.

69
68.STONIER, R. Y. et. al. Os primórdios da microbiologia.
In: STONIER, R. Y. et. al. Mundo dos micróbios. S3o
Paulo, Ed. Edgard BlUcher, 1969. p.1-27.
69.TEIXEIRA, E. M. Fontes de infecçSo no hospital. Rev. Paul.
Hosp..20:7-16, 1972.
70.THORWALD, J. 0 século dos cirurqiSes. S3o Paulo, Boa
Leitura, s.d. 350 p.
71 .TIMENETSKI, J. Ava 1iaçSo antibacteriana de desinfetantes
químicos de uso hospitalar e doméstico. S3o Paulo, 1987.
107 p. Tese, doutorado. Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de S3ío Paulo.
72.TR0BULSI, L. R. Microbioloqia. S3o Paulo, Otheneu, 1986.
73.WELCH, C. S. História da cirurgia. In: DOVIS, L. Clínica
Cirúrq ica. 2. ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1970. p.
1 - 2 1 .
74.20NÜN, U. Deslnfetantes, anti-sépticos e infecçSo hospita-
lar. Semestre Ter..12:48-64. 1973.
75.ZANON, U. et. al. A profilaxia da infecçâfo hospitalar em
Curitiba. Resultado de pesquisa operacional. Rev. Paul.
HOSP. .23:190-6. 1975.
76.ZANON, U. et. al. Bacteriologia das infecçOes hospita-
lares: I- Métodos para o diagnóstico etiológico. Rev.
Bras. Patol. Clin.,15:141-9 1979.
77.ZANON, U. et. al. ReflexOes sobre a incidência de infec-
çOes cirúrgicas. Rev. Bras. Cir.f 68:261-8, 1978.
78.ZANON, U. & BLEY:, J. L. Métodos de anti-sepsia em cirurgia
- tradiçSo, ritual e caos. Rev. Bras. Cir..69:335-42.
1979.
68.STRNIER, R. Y. et. aI. Os primórdios da mlcrobiologia.
In: STRNIER, R. Y. et. aI. Mundo dos micróbios. S30
Paulo, Ed. Edgal~d E:Hlchel~, 1969. p.1-27.
69.TEIXEIRR, E. M. Fontes de infecç30 no hospital. Rev. Pau!..
tlosP.,2121:7-16, 1972.
7121.THORWRLD, J. Q século dos c i ntrq ieles. S30 Paulo, Boa
Leitura. s.d. 350 p.
71. TIMENETmn, J. Rvalia.ç,.!Q. antibactel~iana de desinfetantes
9.ulnlicos de !!§.Q hospitalal~ 'ª- doméstico. Sllfo Paulo, 1987.
11217 p. Tese, doutor'ado, Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de S~o Paulo.
72.TRRBULSI, L. R.
73.WELCH, C. S.
Cin\rgica .•
1-21.
Microbio!ogia. Sllfo Paulo, Rtheneu, 1986.
História da cirurgia. In: DRVIS, L. Cllnica
2. ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 197~. p.
74.ZRNON, U. Desinfetantes anti-sépticos e infecç!o hospita
lal~. Semestre Te.!.:. ,12: LJS-64, 1973.
75.ZRNON U. et. aI. R profilaxia da infecç30 hospitalar em
CU1~itiba. Resultado de pesquisa operacional. Rev. Paul.
tlQ.fill.- , ;:!3 = 190-6, 1975.
76.ZRNON U. et. aI. Bacteriologia das infecç~es hospita
lares: I- Métodos pal~a o diagnóstico etiológico. Rev.
ê.l2i!.? .• Pato!.. Clin.,15:lIH-9, 1979.
77.ZRNON, U. et. aI. Reflex~es sobre a incidência de infec
ç~es cirdrgicas. Rev. Bras. Cir.,68:261-8, 1978.
78.ZRNON, U. & 8LEY~ J. L. Métodos de anti-sepsia em cirurgia
- tradiç:30, ritual e caos. Rev. Bras. Cir.,69:335-4Z,
1979.
69

79.ZANON, U. et. aí. InfecçOes broncopulmonares hospitalares
- epidemiologia e controle. Rey. Bras. Cir..69:217-25.
1979.
80.ZANON, U. & LISBOA, F. Biologia e profilaxia das infecçOes
cirúrgicas. Rev. Bras. Cir..71s111-7. 1981.
81.ZANON, U 8, MACEDO, H. M. AvaliaçSo in vivo de anti-sépti-
cos cirúrgicos. Rev. Bras. Cir.f 71:355-8. 1981.
82.ZANON, U. Epidemiologia e controle de infecçOes hospita-
lares. S3o Paulo, Centro S3o Camilo de desenvolvimento
em administração da saúde, s.d. 87 p.
83.ZANON, U. et. al, InfecçSo hospitalar: A explosSo dos
estafilococos, a mudança ecológica dos Gram-negativos e
os patógenos esdrúxulos dos anos 80. Prat. Hosp..1:39-
45, 1986.
84.ZANON, U. & NEVES, J. InfecçOes hospitalares; preevençSo,
diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro, Medsi, 1987.
986 p.
79.Z~NON. U. et. ai. Infecç~es broncopulmonares hospitalares
- epidemiologia e controle. ~~.Y .• Ci,.,. 69:217-23 -- , .. - #
1979.
80.Z~NON. U. & LIS80R. F. Biologia e profilaxia das infecçOes
cirlll~gicas. Re.Y.. Bras. Cir •. Zl:111-7. 1981.
81.Z~NON. U & MRCEDO, H.M. Rvaliaç~o in vivo de anti-sépti-
cos cin\r'gico·s. B~. Bras. 1;.1' .... 71:355-8.1981.
82.Z~NON, U. Epidemiologia ~ controle de infec~~ hospi~
lares. S~o Paulo, Centro S~o Camilo de desenvolvimento
em administraç~o da saúde s.d. 87 p.
83.ZRNON, U. et. ai. InfecçJo hospitalar: R explos~o dos
estafilococos, a mudança ecol6gica dos Gram-negativos e
os pat6genos esdrúxulos dos anos 80. Erat. Hosp.,t:39-
LfS. 1986.
84.Z~NON, U. & NEVES J. JnfecçOes ho.sQitalares; pl"eevenç30,
diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro, Medsi, 1987.
986 p.