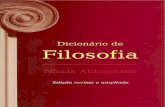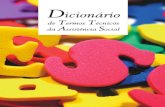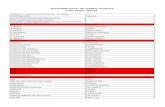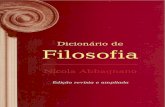Dicionario de-filosofia-nicola-abbagnano
-
Upload
valselmo-silva -
Category
Education
-
view
87 -
download
3
Transcript of Dicionario de-filosofia-nicola-abbagnano
-
PREFACIO
O objetivo deste dicionrio colocar disposio de todos um repertrio das possi-bilidades de filosofar oferecidas pelos conceitos da linguagem filosfica, que vem se cons-tituindo desde o tempo da Grcia antiga at nossos dias. O Dicionrio mostra como algumasdessas possibilidades foram desenvolvidas e exploradas exausto, ao passo que outrasforam insuficientemente elaboradas ou deixadas de lado. Ele apresenta, assim, um balanodo trabalho filosfico do ponto de vista de sua fase atual.
Em funo desse objetivo foi estabelecida a regra fundamental a que obedeceu aformulao dos verbetes: a de especificar as constantes de significado passveis de seremdemonstradas ou documentadas com citaes textuais, mesmo que de doutrinas aparente-mente diferentes. Mas as constantes de significado s podem ser especificadas quando osdiferentes significados, compreendidos por um mesmo termo, so claramente reconhecidose distintos. Essa a exigncia da clareza, considerada fundamental numa obra como estae que, na verdade, condio essencial para que a filosofia possa exercer qualquer funode esclarecimento e orientao nos confrontos entre os seres humanos.
Numa poca em que os conceitos so freqentemente confusos e equvocos a pontode se tornarem inutilizveis, a exigncia de uma definio rigorosa dos conceitos e de suasarticulaes internas adquire importncia vital. Espero que o Dicionrio que ora apresentoao leitor esteja altura dessa exigncia e contribua para difundi-la, restituindo aos conceitossua fora diretiva e asseguradora.
Vejo-me agora na grata obrigao de lembrar aqui as pessoas que me ajudaram narealizao deste trabalho.
O professor GIULIO PRETI elaborou para mim alguns verbetes de lgica (sendo oprincipal, justamente, Lgica), todos assinados com as iniciais G. P. Tambm me ajudou nacompilao de alguns outros, que trazem suas iniciais e as minhas.
Todos os artigos principais do Dicionrio foram discutidos, s vezes longa e minucio-samente, com um grupo restrito de amigos: NORBERTO BOBBIO, EUGNIO GARIN, C. A. Viano,Pietro Rossi, Pietro Chiodi.
Outros amigos ajudaram-me a encontrar ou confrontar textos de mais difcil acesso.Foram eles GRAZIELLA VESCOVINI FEDERICI, GRAZIELLA GIORDANO, SRGIO RUFFINO.
Minha mulher, Marian Taylor, me prestou grande ajuda na correo das provas.A todas essas pessoas dirijo meu cordial agradecimento. Mas o trabalho deste Dicionrio
no teria sido iniciado nem levado a termo sem a ampla ajuda da grande e benemrita casaeditora UTET, que agora a publica. A ela expresso, portanto, minha gratido.
NlCOLA ABBAGNANOTurim, 11 de outubro de 1960.
-
VI PREFCIO
NOTA SEGUNDA EDIO ITALIANA
Esta segunda edio, inteiramente revista, contm 22 verbetes novos: Artefato; Assero;Autmato; Casamento; Classe, conscincia de, Deus, morte de, Diacrnico, Sincrnico;Doxologia; Ensomatose; Futurologia; Iluminismo; Ocorrncia; Performativo; Poitico;Praxiologia; Previso-, Psicodlico; Recusa, grande, Tbuas de verdade, Teleonomia; Ler, Tra-balho.
Foram inteiramente refeitos os verbetes:Condicional; Conseqncia; Entimema; Implicao-, Matrizes, mtodo das; Pantesmo;
Tecnocracia.
N.A.Turim, 20 de abril de 1971.
-
OBSERVAES
1. O Dicionrio contm apenas termos, no nomes prprios. No entanto, contmtermos como Platonsmo, Aristotelismo, Criticismo, Idealismo, etc, que se referem dou-trina de um filsofo ou de uma escola, ou a aspectos ou linhas comuns a vrias doutrinas.Mas esses verbetes limitam-se a expor os pontos principais das doutrinas ou linhas emquesto com a maior brevidade possvel, dado que as opinies dos filsofos a que sereferem so amplamente citadas em todos os verbetes principais.
2. Foram includos artigos dedicados no apenas s simples disciplinas filosficas(Metafsica, Ontologia, Gnosiologia, Metodologia, tica, Esttica, etc), mas tambm a discipli-nas cientficas de carter ou fundamento terico (Matemtica, Geometria, Economia, Fsica,Psicologia, etc), em cuja abordagem os verbetes do Dicionrio limitam-se a distinguir asdiversas fases conceituais pelas quais a disciplina passou ou as diversas linhas que ela oferececomo alternativas de pesquisa ou de interpretao.
3. Para os termos que se referem a conceitos complexos ou problemticos, ou quetiveram ou tm interpretaes diversas, foi adotado o seguinte procedimento: A) Demos deincio, quando possvel, o significado geral ou generalizado ao qual podem ser reduzidostodos os significados encontrveis, ou a maioria deles; E) distinguimos e agrupamos empoucas categorias estes ltimos significados; O cada categoria de significado foi ilustradacom citaes de textos. Tivemos o cuidado de fazer com que os significados fundamentaisfossem distinguidos e formulados de modo que inclussem o maior nmero possvel designificados encontrveis.
4. O Dicionrio tem, como qualquer outro Dicionrio lingstico, uma base essen-cialmente histrica: isso mostra quais foram e quais so os usos de um termo na linguagemfilosfica ocidental e tambm, se for o caso, relaciona-os com seu uso na linguagem comum.As ambigidades de significado foram cuidadosamente registradas. Quando foi possvelfaz-lo sem demasiado arbtrio, indicamos o modo de evitar tais ambigidades.
5. Foram utilizadas abreviaes para os ttulos das obras citadas com maior freqn-cia (ver a lista apresentada nas pginas seguintes). Para as obras clssicas, utilizamos ossistemas de citao adotados correntemente pelos estudiosos. Sempre que possvel, indica-mos, das obras citadas, a parte ou volume, o captulo e o pargrafo, alm da pgina, paratornar a citao independente das diversas edies ou tradues existentes.
6. Os verbetes assinados pelas iniciais G. P. so da autoria do professor Giulio Preti,da Universidade de Florena.
-
LISTA DAS PRINCIPAIS ABREVIATURAS
Aristteles (384-322 a.C.)An.post. = Analayticaposteriora, ed. Ross, 1949-An. pr. = Analyticapriora, ed. Ross, 1949-Cat. = Categoriae, ed. Minio-Paluello, 1949.De cael. = De caelo, ed. Allan, 1936.Degen. an. = De generatione animalium, ed.
Bekker, 1831.Depart. an. = departibusanimalum, ed. Becker,
1831.El. sof. = De sohphisticis elenchis, ed. Bekker,
1831.Et. eud. = Ethica eudemia, ed. Susemihl, 1879.Et. nic. = Ethica nicomachea, ed. Bywather 1957.Eis. = Physcorum Hhri VIII, ed. Ross, 1950.Met. = Metaphysica, ed. Ross, 1924.Poet. = De arte potica, ed. Bywather, 1953.Pol. = Poltica, ed. Newman, 1887-1902.Ret. = Rethorica, ed. Bekker, 1831.Top. = Topicorum libri VIII, ed. Bekker, 1831.
Arnauld (1612-1694)log. = La logque ou l'art depenser, 1662, in
CEuvres Phosophiques, 1893.
Aulo Gllio (c. 122-c. 180)Noct. Att. = Noctes Attcae, ed. Hertz e Hosius,
1903.
Bacon (1561-1626)Nov. Org. = Novum Organum, 1620.Deaugtn. scient. = De augmentis scientiarum,
1623.
Bergson (1859-1941)vol. cratr. = volution cratrice, 1907, 8a ed.,
1911.Deux sources = Deux sources de Ia morale et de
Ia religion, 1932; trad. it. M. Vinciguerra,Milano, 1947.
Bocio (c. 480-c. 526)Phil. cons. = Phosophiae consolations libri V, 524.
Campanella (1568-1639)Phil. rat. = Philosophia rationalis, 1638.
Ccero (106-43 a.C.)Acad. = Academicontm reliquiae cum Lucullo,
ed. Plasberg, 1923.De divin. = De divinatione, ed. Plasberg e Ax,
1965.De finibus = De finibus bonorum et malorum,
ed. Shiche, 1915.De leg. = De legibus, ed. Mueller, 1897.De nat. deor. = De natura deorum, ed. Plasberg
1933.De off. = De officis, ed. Atzert, 1932.De rep. = De republica, ed. Castiglioni, 1947.Top. = Tpica, ed. Klotz, 1883.Tusc. = Tusculanae disputationes, ed. Pohlenz,
1938.
Descartes (1596-1650)Discours = Discours de Ia mthode, 1637.Md. = Mditations touchant Iapremirephilo-
sophie, 1641.Pass. de Vrne = Passions de Vme, 1649.Princ.phil. = Principia philosophiae, 1644.
Diels (1848-1922)DIELS = Die Fragmente der Vorsokratiker, 5a
ed., 1934. A letra A refere-se aos testemu-nhos, a letra B aos fragmentos; o nmero sempre o que foi dado por Diels em suaclassificao.
Digenes Larcio (sc. III d.C.)DIOG. L. = Vitae etplacta philosophorum, ed.
Cobet, 1878.
-
LISTA DAS PRINCIPAIS ABREVIATURAS
DunsScot (1265-1308)Rep. Par. = Reportata Parisiensa, in Opera, ed.
Wadding, vol. Xi, 1639-Op. Ox. = Opus Oxoniense, nelle Opere, ed. de
L. Wadding, vol. V-X. As partes desta obrapublicadas sob o ttulo de Ordinatio nosquatro primeiros volumes da Opera omnia,em ed. org. pela Commissione Vaticana em1950, foram citadas no texto seguido nestaltima edio.
Fichte (1762-1814)Wissenschaftslehre = Grundlagedergesammten
Wissenschaftslehre, 1794, in Werke, org. pelofilho I. H."Fichte, 8 vols., 1845-46.Tambm as outras obras de Fichte so cita-das (salvo advertncia em contrrio) por essaedio ou pela das Machgelassene Werke,org. tambm pelo filho, 1834-35 (citadas notexto como Werke, IX, X, XI).
Ficino (1433-1499)Theol. Plat. = Theologia Platnica, in Opera, 1561.In Conv. Plat. de Am. Comm. = In Convivium
PlatonisdeAmore Commentarium, bidem.
Flon (c. 20 a.C.-c. 50 d.C.)Ali. leg. =Allegoria legis, ed. Colson e Whitaker,
1929-62.
Hegel (1770-1831)Ene. = Encyklopdie derphilosophischen Wis-
senschaften im Grundrisse, 2- ed., 1827; ed.Lasson, 1950. Nas citaes desta obra tam-bm foi consultada a verso italiana de B.Croce, Bari, 1906.
Fil. do dir. = Grundlinien der Philosophie desRechts, 1821.
Phnomen. des Geistes = Phnomenologie desGeistes, 1807.Quando no dada outra indicao, as obrasde Hegel so citadas na edio original:Werke, Volstndige Ausgabe, 1832-45.
Hobbes (1588-1679)Decorp. = De corpore, 1655.De bom. = De homine, 1658Leviath. = Leviathan, 1651.
Hume (1711-1776)Inq. Cone. Morais = Inquiry Concerning the
Principies ofMorais, 1752; ed. Greene Grose,1879; nova ed., 1912.
Inq. Cone. Underst. = Inquiry ConcerningHuman Understanding, 1748.
Treatise = A Treatise of Human Nature, 1738;ed. Selby-Bigge, 1888.
Husserl (1859-1938)ldeen, I, II, III = Ideen zu einer reinen
Phnomenologie u ndphnomenologischenPhilosophie, I, II, III, 1950, 1951, 1952.
Cart.Med.= Cartesianische Meditationen, 1950.Krisis - Die Krisis der europischen Wissens-
chaften unddie transzendentalePhnome-nologie, 1954.
Jaspers (1883-1969)Phil. = Philosophie, 3 vols., 1932; 3a ed., 1956.
Kant (1724-1804)Antr. = Anthropologie inpragmatischerHinsicht,
1798.Crt do JUZO = Kritik der Urteilskraft, 1790.Crt. R. Prtica Kritik derpraktischen Vernunft,
1787.Crt. R. Pura = Kritik der reinen Vernunft, Ia
ed., 1781; 2a ed., 1787. As citaes referem-se 2- ed., salvo indicao em contrrio.
Met. derSitten = Metaphysik der Sitten, 1797.Prol. = Prolegomena zu einer jeden knftigen
Metaphysik, die ais Wissenschaft wird auf-treten knnen, 1783-
Religion = Die Religion innerhalb der Grenzender blossen Vernunft, 1793.s vezes so indicadas entre colchetes aspginas segundo a edio da AcademiaPrussiana. Nesse caso, no que diz respeito Crtica da Razo Pura, indica-se com A a 1 -edio e com B a segunda,
Kierkegaard (1813-1855)Werke = Gesammelte Werke, trad. ted. E. Hirsch,
1957 ss.
Leibniz (1646-1716)Disc. demt. = Discoursdemtaphysique, 1686,
ed. Lestiene, 1929.Monad. = Monadologie, 1714.Nouv. ess. = Nouveaux essaissur 1'entendement
humain, 1703.Thod. = Essais de Thodice sur Ia bont de
Dieu, Ia liberte de Vhomme et Vorgine dumal, 1710.
-
LISTA DAS PRINCIPAIS ABREVIATURAS XI
As duas obras precedentes e muitos outrosescritos de Leibniz so citados de OperaPhosophica, ed. Erdmann, 1840. Tambmso citadas as duas coletneas: MathematischeSchriften, ed. Gerhardt, 7 vols., 1849-63;Philosophische Schriften, ed. Gerhardt, 7 vols.,1875-90.
Locke (1632-1704)Saggio = An Essay conceming Human Un-
derstanding, 1690; ed. Fraser, 1894; trad. it.C. Pellzz, Bari, 1951.
Lucrcio (c. 96-c. 53 a.C.)Derer. nat. =Dererum natura, ed. Bailey, 1947.
MillJ. S. (1806-1873)Logic = System of Logic Ratiocinative and
Inductive, 1843.
Nicolau de Cusa (1401-1464)De docta ignor. = De docta ignorantia, 1440.
Ockham (c. 1280-c. 1349)In Sent. = Quaestiones in LVlibros Sententiarum,
1495.
Orgenes (c. 185-c. 253)Deprinc. = De principiis.Injohann. = Lnjobannem.
Pascal (1623-1662)Penses (os nmeros referem-se ordem da
ed. Brunschvicg).P. G. = MIGNE, Patrologia graeca, o primeiro
nmero indica o volume.P. L. = MIGNE, Patrologia latina, o primeiro n-
mero indica o volume.
Pedro Hispano (Papa Joo XXI, c. 1220-1277)Summ. log. = Summulae logicales, ed. Bo-
nhenski, 1947
Peirce 1839-1914)Coll. Pap, = Collected Papers, vols. I-VI, ed.
Hartshorne e Weiss, 1931-35; vols. VII-VIII,ed. Burks, 1958.
Plato (c. 427-c. 347 a.C.)Ale, I, II = Alcibiades, I, II.
Ap, = Apologia Socratis.Carm. = Charmides.Conv. = Symposium.Crat. = Cratylus.Crit. = Crito.Critia = Critias.Def. = Definitiones.Ep, = Epistulae.Eutid. = Euthydemus.Eed. = Phaedo.EU. = Philebus.Gorg. = Gorgias.lon. = Lone.Lach. = Laches.Leggi = Leges.Men. = Menon.Parm. = Parmenides.Pol. = Politicus.Prot. = Protagoras.Rep. = Respublica, ed. Chambry, 1932.Sof. = Sophista.Teet. = feaethetus.Tim. = Timaeus.
Os textos so citados na edio de Burnet,1899-1906.
Plotino (205-270)Enn. = Enneades, ed. Brhier, 1924.
Santo Agostinho (354-430)De civ. Dei = De civitate Dei.Conf. = Confessionum libri XIII.Santo Toms de Aquino (1225-1274)S. Th. = Summa Theologiae, ed. Caramello,
Torino, 1950.Contra Gent. = Summa contra Gentiles, Torino,
1938.De ver. = Quaestiones disputatae de veritate,
Torino, 1931.
Scheler (1874-1928)Formalismus = Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, 1913-16.Sympatbie= Wesen undFormen der Sympathie
1923; trad. franc. Lefebvre, 1928.
Schelling (1775-1854)Werke = Smmtliche Werke, organizada pelo
filho K. F. A. Schelling: I srie (obras j edita-das), 10 vols.; II srie (obras inditas), 4vols., 1.856 ss.
-
XII LISTA DAS PRINCIPAIS ABREVIATURAS
Schopenhauer (1788-1860)Die Welt = Die Welt ais Wille und Vorstellung,
1819; 2a ed., 1844; trad. it. P. Savi-Lopez eG. De Lorenzo, Bari, 1914-30.
Scotus Erigena (sc. D0De divis, nat. = De divisione naturae, nella P.
L, 122.
Sneca (12 a.C-65 d.C.)Ep. = Epistulae moralesadLucilium, ed. Beltrami,
1931; trad. it. U. Boella, Torino, 1951.
Sexto Emprico (180-220.)Adv. math. = Adversus mathematicos, ed. Mau,
1954.Pirr. hyp. = Pirroneion hypotyposeon libri trs,
ed. Mutschmann, 1912.
Stobeo (sc. V)Ed. = Eclogaephysicaeetethicae, ed. Wachsmuth
e Hense, 1884-1923.SpinozaEt. = Ethica more geomtrico demonstrata, 1677,
in Opera, ed. Wachsmuth e Hense, 1884-1923.
Telsio (1509-1588)De rer. nat. = De rerum natura iuxta prpria
principia, I-II, 1565; III-IX, 1586; ed. Spam-panato, 1910-23.
Wittgenstein (1889-1951)Tractatus= Tractatns logicophilosophicus, 1922.
Wolff (1679-1754)Cosm. = Cosmologia generalis, 1731-Log. = Philosophia rationalis, siveLgica, 1728.Ont. = Philosophia prima sive Ontologia, 1729.
Outras abreviaturas no esto registradas acima porque ou so de uso corrente entre osestudiosos, ou so de compreenso imediata, como Ap., para Apndice; Fil. para Filosofia;Phil. para Philosophie ou Philosophy; Intr. para Introduo; Schol. para scholium; etc.
-
AA. 1. Foi Aristteles quem usou pela primei-ra vez, particularmente em Analticos, as pri-meiras letras maisculas do alfabeto, A, B, F,para indicar os trs termos de um silogismo.Todavia, como na sua sintaxe o predicado posto antes do sujeito (A vnp%ti tco B, "A inerente [ou pertence] a B"), em geral em Ana-lticos os sujeitos so B e L. Na Lgica da IdadeModerna, com o costume de se escrever "A estB", A tornou-se normalmente o smbolo dosujeito.
2. A partir dos tratadistas escolsticos (aoque parece, de Introductiones de Guilhermede Shyreswood, sc. XIII), a letra A usada naLgica formal "aristotlica" como smbolo daproposio universal afirmativa (v.), segundoos conhecidos versos que chegaram at ns emvrias redaes. Nas Summulae de Pedro His-pano (ed. Bochenski, 1. 21), l-se:
A affirmat, negat E, sed universaliterambae,
I affirmat, negat O, sed particulariterambae.
3. Na lgica modal tradicional, a letra A de-signa a proposio modal que consiste naafirmao do modo e na afirmao da propo-sio. P. ex.: " possvel que p" onde p umaproposio afirmativa qualquer (ARNAULD, Log.,II, 8).
4. Na frmula "A A" ou "A=A", que come-ou a ser usada com Leibniz como tipo das ver-dades idnticas e foi adotada depois por Wolffe por Kant como expresso do chamado prin-cpio de identidade (v.), A significa um objetoou um conceito qualquer. Fichte dizia: "Todosconcordam que a proposio A A (assimcomo A=A porque este o significado da c-pula lgica) e, de fato, no preciso pensarmuito para reconhec-la como plenamente cer-ta e indubitvel" (Wissenschaftslehre, 1794,
1). Durante muito tempo essa frmula expri-miu o princpio de identidade e, ao mesmotempo, constituiu um tipo de verdade absoluta-mente indubitvel. Diz Boutroux: "O princpiode identidade pode ser assim expresso: A A.No digo o Ser, mas simplesmente A, isto ,qualquer coisa, absolutamente qualquer, susce-tvel de ser concebida, etc." (De 1'ide de loinaturelle, 1895, p. 12).
5. No simbolismo de Lukasiewicz a letra "A" usada como o smbolo da disjuno para aqual se emprega mais comumente o smbolo"V" (cf. A. CHURCH, Introduction to Mathema-tical Logic, nota 91).
ABALIEDADE. V. ASF.IDADE.ABDERITISMO (ai. Abderitismus). Assim
Kant designou a concepo que considera quea histria no est em progresso nem em re-gresso, mas sempre no mesmo estado. Desteponto de vista, a histria humana no teriamais significado do que a de qualquer espcieanimal; seria apenas mais penosa (Se o gnerohumano esta em constante progresso para omelhor, 1798).
ABDUO (gr. nayorf]; lat. Keductio; in.Abduction; fr. Abduction; ai. Abduction; it.Abduzion). um processo de prova indireta,semidemonstrativa (teorizado por Aristtelesem Top., VIII, 5, 159 b 8, e 160 a 11 ss.; An.pr,II, 25, 69 a 20 ss.), em que a premissa maior evidente, porm a menor s provvel ou dequalquer forma mais facilmente aceita pelointerlocutor do que a concluso que se querdemonstrar. Embora se trate de um processomais dialtico do que apodtico, j fora admiti-do por Plato (cf. Men., 86 ss.) para a matem-tica, e tambm ser sancionado como um dosmtodos de demonstrao matemtica porProclo (In Eucl, 212, 24).
-
ABERTO ABSOLUTISMO
Peirce introduziu o termo abduction (ouretroducton) para indicar o primeiro momentodo processo indutivo, o da escolha de umahiptese que possa servir para explicar determi-nados fatos empricos (Coll. Pap., 2.643).
ABERTO (in. Open; fr. Oiwert; it. Aperto).Adjetivo empregado freqentemente em sen-tido metafrico na linguagem comum e filo-sfica para indicar atitudes ou instituies queadmitem a possibilidade de participao ou co-municao ampla ou at mesmo universal. Um"esprito aberto" um esprito acessvel a su-gestes, conselhos, crticas que lhe vm dosoutros ou da prpria situao e que est dis-posto a levar em conta, isto , sem preconcei-tos, tais sugestes. Uma "sociedade aberta" uma sociedade que possibilita a correo desuas instituies por vias pacficas (K. POPPER,The Open Society and it Enemies, Londres,1945). Bergson deu o nome de sociedade aber-ta quela que "abraa a humanidade inteira"(Deux sources, 1932,1; trad. ital., p. 28). C. Morrisfalou de um "eu aberto" (The Open Self, 1948),A. Capitini de uma "religio aberta" (Religioneaperta, 1955).
AB ESSE AD POSSE. uma das consequen-tiaeformales (v. CONSEQNCIA) da Lgica Esco-lstica; ab esse ad posse valet (tenef) con-sequentia, ou, com maior rigor, ab Ma de inessevalet (tenet) Ma depossibili; isto : de "'p' ver-dadeira" segue-se que "'p' possvel". G. P.
AB INVTDIA. Assim Wolff denomina "as ra-zes com as quais se provoca dio contra asopinies dos outros" (Log., 1.049). o assuntopreferido pelos "perseguidores", isto , poraqueles "que, com o pretexto de defender averdade, procuram levar os adversrios ao pe-rigo de perderem a fama, a fortuna ou a vida"(Ibid., 1.051).
ABISSAL, PSICOLOGIA. V. PSICOLOGIA, E.ABNEGAO (gr. 7rpvr|Oi; lat. Abnega-
tio-, in. Self-denial; fr. Abngation; ai. Verleu-gnung- it. Abnegacione). a negao de simesmo e a disposio de pr-se a servio dosoutros ou de Deus, com o sacrifcio dos pr-prios interesses. Assim descrita essa noo noEvangelho (Mat., XVI, 24; Luc, IX, 23): "Se al-gum quer vir aps mim, renuncie a si mesmo,e tome cada dia a sua cruz". Essa negao de simesmo, porm, no a perda de si mesmo,mas, antes, o reencontro do verdadeiro "simesmo", como se explica no versculo seguin-te: "pois quem quiser conservar a sua vida,perd-la-; mas quem perder a sua vida por
mim, salv-la-". Por isso nos Evangelhos, anoo de abnegao no uma noo de mo-ral asctica, mas exprime o ato da renovaocrist, pelo qual da negao do homem velhonasce o homem novo ou espiritual.
ABSOLUTISMO (in. Absolutisni; fr. Absolu-tisme, ai. Absolutismus; it. Assolutismo). Termocunhado na primeira metade do sc. XVIII paraindicar toda doutrina que defenda o "poder ab-soluto" ou a "soberania absoluta" do Estado. Noseu sentido poltico original, esse termo agoradesigna: le o A. utopista de Plato em Rep-blica; 2- o A. papal afirmado por Gregrio VIIe por Bonifcio VIII, que reivindica para o Papa,como representante de Deus sobre a Terra, aplenitudopotestatis, isto , a soberania absolutasobre todos os homens, inclusive os prncipes,os reis e o imperador; 3Q o A. monrquico dosc. XVI, cujo defensor Hobbes; 4B o A. demo-crtico, teorizado por Rousseau no Contrato so-cial, por Marx e pelos escritores marxistas como"ditadura do proletariado". Todas essas formasdo A. defendem igualmente, embora com moti-vos ou fundamentos vrios, a exigncia de queo poder estatal seja exercido sem limitaes ourestries. A exigncia oposta, prpria do libe-ralismo (v.), a que prescreve limites e restri-es para o poder estatal.
No uso filosfico corrente, esse termo nose restringe mais a indicar determinada doutri-na poltica, mas estende-se designao detoda e qualquer pretenso doutrinai ou prticaao absoluto, em qualquer campo que seja con-siderado. Diz, p. ex., Reiehenbach (The Theoryof Probablty, p. 378): "Devemos renunciar atodos os resduos do A. para compreender osignificado da interpretao, em termos de fre-qncia, de uma assero de probabilidade emtorno de um caso individual. No h lugar parao A. na teoria das asseres de probabilidadereferentes realidade fsica. Tais asseres sousadas como regras de conduta, como regrasque determinam a conduta mais eficaz emdado estgio do conhecimento. Quem quiserencontrar algo a mais nessas asseres des-cobrir no fim que perseguiu uma quimera". O A.filosfico no tanto de quem fala do Absolutoou de quem lhe reconhece a existncia, mas dequem afirma que o prprio absoluto apoia suaspalavras e lhes d a garantia incondicional de ve-racidade. Nesse sentido, o prottipo do A.doutrinai o Idealismo romntico, segundo oqual, na filosofia, no o filsofo como ho-mem que se manifesta e fala, mas o prprio
-
ABSOLUTO ABSOLUTO
Absoluto que chega sua conscincia e se ma-nifesta.
ABSOLUTO (in. Absolute; fr. Absolu; ai.Absoluto; it. Assoluto). O termo latino absolutas(desligado de, destacado de, isto , livre detoda relao, independente) provavelmentecorresponde ao significado do termo gregokath' auto (ou por si) a propsito do qual dizAristteles: "Por si mesmo e enquanto ele mes-mo significam a mesma coisa; p. ex.: o pontoe a noo de reta pertencem linha por si por-que pertencem linha enquanto linha" (An.post., I, 4, 73 b 30 ss.). Nesse sentido, essapalavra qualificaria uma determinao que per-tence a uma coisa pela prpria substncia ouessncia da coisa, portanto, intrinsecamente.Esse um dos dois significados da palavra dis-tinguidos por Kant, o que ele considera maisdifundido, mas menos preciso. Nesse sentido,"absolutamente possvel" significa possvel "emsi mesmo" ou "intrinsecamente" possvel. Des-se significado Kant distingue o outro, que con-sidera prefervel, segundo o qual essa palavrasignificaria "sob qualquer relao"; nesse caso,"absolutamente possvel" significaria possvelsob todos os aspectos ou sob todas as relaes(Crt. R. Pura, Dial. transe, Conceitos da razopura, se. II).
Esses dois significados se mantm ainda nouso genrico dessa palavra, mas o segundoprevalece, talvez por ser menos dogmtico eno fazer apelo ao misterioso em si ou natu-reza intrnseca das coisas. P. ex., dizer "Isto absolutamente verdadeiro" pode eqivaler adizer "Esta proposio contm em si mesmauma garantia de verdade"; rna.s pode tambmquerer dizer "Esta proposio foi amplamenteverificada e nada h ainda que possa provarque ela falsa"; este segundo significado menos dogmtico do que o primeiro. Assim,responder "Absolutamente no" a uma perguntaou a um pedido significa simplesmente avisarque este "no" est solidamente apoiado porboas razes e ser mantido. Esses usos comunsdo termo correspondem ao uso filosfico que,genericamente, o de "sem limites", "sem res-tries", e portanto "ilimitado" ou "infinito".Muito provavelmente a difuso dessa palavra,que tem incio no sc. XVIII (embora tenhasido Nicolau de Cusa que definiu Deus como oA., De docta ignor, II, 9), devida lingua-gem poltica e a expresses como "poder A.","monarquia A.", etc, nas quais a palavra signi-fica claramente "sem restries" ou "ilimitado".
A grande voga filosfica desse termo deve-se ao Romantismo. Fichte fala de uma "dedu-o A.", de "atividade A.", de "saber A.", de "re-flexo A.", de "Eu A.", para indicar, com estaltima expresso, o Eu infinito, criador domundo. E na segunda fase de sua filosofia,quando procura interpretar o Eu como Deus,usa a palavra de modo to abusivo que beira oridculo: "O A. absolutamente aquilo que ,repousa sobre si e em si mesmo absolutamen-te", "Ele o que absolutamente porque porsi mesmo... porque junto ao A. no permanecenada de estranho, mas esvai-se tudo o que no o A." (Wissenschaftslehre, 1801, 5 e 8;Werke, II, pp. 12, 16). A mesma exageraodessa palavra acha-se em Schelling, que, assimcomo Fichte da segunda maneira, emprega,alm disso, o substantivo "A." para designar oprincpio infinito da realidade, isto , Deus. Omesmo uso da palavra reaparece em Hegel,para quem, como para Fichte e Schelling, o A., ao mesmo tempo, o objeto e o sujeito dafilosofia e, embora definido de vrias formas,permanece caracterizado pela sua infinida-de positiva no sentido de estar alm de to-da realidade finita e de compreender em sitoda realidade finita. O princpio formulado naFenomenologia (Pref.) de que "o A. essen-cialmente o resultado" e de que "s no fim esto que em verdade" leva Hegel a chamar deEsprito A. os graus ltimos da realidade, aque-les em que ela se revela a si mesma comoPrincpio autoconsciente infinito na religio, naarte e na filosofia. O Romantismo fixou assim ouso dessa palavra tanto como adjetivo quantocomo substantivo. Segundo esse uso, a pala-vra significa "sem restries", "sem limitaes","sem condies"; e como substantivo significaa Realidade que desprovida de limites oucondies, a Realidade Suprema, o "Esprito"ou "Deus". J Leibniz dissera: "O verdadeiro in-finito, a rigor, nada mais que o A." (Nouv. ess.,II, 17, 1). E na realidade esse termo pode serconsiderado sinnimo de "Infinito" (v.). Em vis-ta da posio central que a noo de infinitoocupa no Romantismo (v.), entende-se por queesse sinnimo foi acolhido e muito utilizado noperodo romntico. Na Frana, essa palavra foiimportada por Cousin, cujos vnculos com oRomantismo alemo so conhecidos. Na In-glaterra, foi introduzida por William Hamilton,cujo primeiro livro foi um estudo sobre a Filo-sofia de Cousin (1829); e essa noo tornou-sea base das discusses sobre a cognoscibilida-
-
ABSORO, LEI DE ABSTRAO
de de A., iniciadas por Hamilton e Mansel econtinuadas pelo evolucionismo positivista(Spencer, etc), que, assim como esses doispensadores, afirmou a existncia e, ao mesmotempo, a incognoscibilidade do Absoluto. Nafilosofia contempornea, essa palavra foi am-plamente usada pela corrente que estava maisestreitamente ligada ao Idealismo romntico,isto , pelo Idealismo anglo-americano (Green,Bradley, Royce) e italiano (Gentile, Croce),para designar a Conscincia infinita ou o Espri-to infinito.
Essa palavra permanece, portanto, ligada auma fase determinada do pensamento filosfi-co, mais precisamente concepo romnticado Infinito, que compreende e resolve em sitoda realidade finita e no , por isso, limitadoou condicionado por nada, nada tendo fora desi que possa limit-lo ou condicion-lo. No seuuso comum, assim como no filosfico, essetermo continua significando o estado daquiloque, a qualquer ttulo, desprovido de condi-es e de limites, ou (como substantivo) aquiloque se realiza a si mesmo de modo necessrio einfalvel.
ABSORO, LEI DE (in. Law of absorption;fr. Loi d'absorption; it. Leggi di assorbimen-to). Com esse nome designam-se na Lgicacontempornea os dois teoremas da lgebradas proposies:
pr\pq = p; p(.pr\q)=p,e os dois teoremas correspondentes da lge-bra das classes:
a x\ab =a; a (ar\b) = a.
A A. , nessas expresses, a possibilidadelgica de substituir-sep porpvpq ou porp(/>r)q) nas primeiras expresses; ou a por a r\ abou por a(ar\ b) nas segundas expresses. (Cf.CHURCH, Intr. toMathematicalLogic, 15, 8). Forada linguagem da lgica, essa lei significa que,se um conceito implica outro, ele absorve esteoutro, no sentido de que a assero simultneados dois eqivale assero do primeiro epode ser, portanto, substituda pela asserodeste toda vez que ela reaparea. Cf. TAU-TOLOGIA.
ABSTRAO (gr. pccpeai; lat. Abstractia,in. Abstraction; fr. Abstraction; ai. Abstraktion;
it. Astrazion). a operao mediante a qualalguma coisa escolhida como objeto de per-cepo, ateno, observao, considerao,pesquisa, estudo, etc, e isolada de outras coi-sas com que est em uma relao qualquer. AA. tem dois aspectos: l2 isolar a coisa previa-mente escolhida das demais com que est rela-cionada (o abstrair de); 2- assumir como objetoespecfico de considerao o que foi assim iso-lado (A. seletiva ou prescindente). Esses doissignificados j foram distinguidos por Kant(Logik, 6), que, porm, pretendia reduzir a A.somente primeira dessas formas.
A A. inerente a qualquer procedimentocognoscitivo e pode servir para descrever todoprocesso desse gnero. Com tal finalidade foiutilizada desde a Antigidade. Aristteles expli-ca com a A. a formao das cincias teorticas,isto , da matemtica, da fsica e da filosofiapura. "O matemtico", diz ele, "despoja as coi-sas de todas as qualidades sensveis (peso, le-veza, dureza, etc.) e as reduz quantidadedescontnua e contnua; o fsico prescinde detodas as determinaes do ser que no se redu-zam ao movimento. Analogamente, o filsofodespoja o ser de todas as determinaes parti-culares (quantidade, movimento, etc.) e limita-se a consider-lo s enquanto ser" (Met., XI, 3,1.061 a 28 ss.). O processo todo do conhecerpode ser, segundo Aristteles, descrito com aA.: "O conhecimento sensvel consiste em assu-mir as formas sensveis sem a matria assimcomo a cera assume a marca do sinete sem oferro ou o ouro de que ele composto" (Dean., II, 12, 424 a 18). E o conhecimento intelec-tual recebe as formas inteligveis abstraindo-asdas formas sensveis em que esto presentes(ibid., III, 7, 431 ss.). S. Toms reduz o conheci-mento intelectual operao de A.: abstrair aforma da matria individual e assim extrair ouniversal do particular, a espcie inteligvel dasimagens singulares. Assim como podemos con-siderar a cor de um fruto prescindindo do fruto,sem por isso afirmar que ela existe separada-mente do fruto, tambm podemos conhecer asformas ou as espcies universais do homem,do cavalo, da pedra, etc, prescindindo dosprincpios individuais a que esto unidas, massem afirmar que existem separadamente des-tes. A A., por isso, no falsifica a realidade, mass possibilita a considerao separada da for-ma e, com isso, o conhecimento intelectual hu-
-
ABSTRAO ABSTRAO
mano (S. Th., I, q. 85, a. 1). Esses conceitos, ouconceitos afins, repetem-se em toda a Es-colstica. A Lgica de Port-Royal (I, 4) resumiumuito bem o pensamento da Escolstica e a es-treita conexo do processo abstrativo com anatureza do homem, dizendo: "A limitao danossa mente faz que no possamos compreen-der as coisas compostas seno considerando-asnas suas partes e contemplando as faces diver-sas com que elas se nos apresentam: isto oque geralmente se costuma chamar conhecerpor A.".
Locke foi o primeiro a evidenciar a estreitaconexo entre o processo de A. e a funo sim-blica da linguagem. "Mediante a A.", diz ele,"as idias extradas de seres particulares tor-nam-se representantes gerais de todos os obje-tos da mesma espcie e os seus nomes tornam-se nomes gerais, aplicveis a tudo o que existee est conforme com tais idias abstratas... As-sim, observando-se hoje no gesso ou na nevea mesma cor que ontem foi observada no leite,considera-se s esse aspecto e faz-se com ele arepresentao de todas as outras idias da mes-ma espcie; e dando-se o nome 'brancura',com este som significa-se a mesma qualidade,onde quer que ela venha a ser imaginada ouencontrada; e assim so compostos os univer-sais, quer se trate de idias, quer se trate determos" (Ensaio, II, 11, 9). Baseando-se nes-sas observaes de Locke, Berkeley chegou negao da idia abstrata e da prpria funoda abstrao. Nega, em outros termos, que ohomem possa abstrair a idia da cor das cores,a idia do homem dos homens, etc. No h, defato, a idia de um homem que no tenha ne-nhuma caracterstica particular, assim comono h, na realidade, um homem desse gnero.As idias gerais no so idias desprovidas decarter particular (isto , "abstratas"), mas idiasparticulares assumidas como signos de um gru-po de outras idias particulares afins entre si. Otringulo que um gemetra tem em mente parademonstrar um teorema no um tringuloabstrato, mas um tringulo particular, p. ex.,issceles; mas j que no se faz meno dessecarter particular durante a demonstrao, oteorema demonstrado vale para todos os trin-gulos indistintamente, podendo cada um delestomar o lugar do que foi considerado (Princ. ofHum. Know., Intr., 16). Hume repetiu a anli-se negativa de Berkeley {Treatise, I, 1, 7). Tais
anlises, todavia, no negam a A., mas a suanoo psicolgica em favor do seu conceito l-gico-simblico. A A. no o ato pelo qual o es-prito pensa certas idias separadamente deoutras; , antes, a funo simblica de certasrepresentaes particulares. Kant, porm, su-blinha a importncia da A. no sentido tradicio-nal, pondo-a ao lado da ateno como um dosatos ordinrios do esprito e sublinhando a suafuno de separar uma representao, de quese est consciente, das outras com que ela estligada na conscincia. Embora ele exemplifiquede modo curioso a importncia desse ato ("Mui-tos homens so infelizes porque no sabemabstrair". "Um celibatrio poderia fazer bomcasamento se soubesse abstrair a partir de umaverruga do rosto ou a partir da falta de umdente de sua amada" [Antr., 31), claro que oprocedimento todo de Kant, que tem por fimisolar (isolieren) os elementos do conhecimento,apriori, ou da atividade humana, em geral, um procedimento abstrativo. Diz ele, por ex.:"Em uma lgica transcendental, ns isolamos ointelecto (como acima, na Esttica transcen-dental, a sensibilidade) e extramos de todo onosso conhecimento s a parte do pensamen-to que tem origem unicamente no intelecto"(Crt. R. Pura, Div. da Lg. transcend.).
Com Hegel, assiste-se ao estranho fenmenoda supervalorizao da A. e da desvalorizaodo abstrato. Hegel ope-se opinio de queabstrair significa somente extrair do concreto,para proveito subjetivo, esta ou aquela nota queconstitua o conceito, entre outras que todaviapermaneceriam reais e vlidas fora do conceito,na prpria realidade. "O pensamento abs-traente", diz ele, "no pode ser consideradocomo pr parte a matria sensvel que noseria prejudicada por isso em sua realidade; ,antes, superar e reduzir essa matria, que sim-ples fenmeno, ao essencial, que s se ma-nifesta no conceito" (Wissensch. der Logik, III,Do conceito em geral, trad. it., pp. 24-25). Oconceito a que se chega com a A. , por isso, se-gundo Hegel, a prpria realidade, alis, a subs-tncia da realidade. Por outro lado, todavia, oabstrato considerado por Hegel como o que finito, imediato, no posto em relao com otodo, no resolvido no devir da Idia, e por issoproduto de uma perspectiva provisria e falaz."O abstrato o finito, o concreto a verdade, oobjeto infinito" (Phil. derReligion, II, em Werke,
-
ABSTRAO ABSTRATTVO, CONHECIMENTO
ed. Glockner, XVI, p. 226). "Somente o concreto o verdadeiro, o abstrato no o verdadei-ro" (Geschicbte der Phil, III, em Werke, ed.Glockner, XIX, p. 99). Est claro, todavia, queHegel entende por abstrato aquilo que co-mumente se chama concreto as coisas, osobjetos particulares, as realidades singularesoferecidas ou testemunhadas pela experincia enquanto chama de concreto o que o uso co-mum e filosfico sempre chamou de abstrato,isto , o conceito; e chama-o de concreto por-que este constitui, para ele, a substncia mesmada realidade (conforme o seu princpio "Tudoo que racional real e tudo o que real ra-cional"). De qualquer forma, essa inverso designificado permitiu que boa parte da filosofiado sc. XIX se pronunciasse a favor do concretoe contra o abstrato, ainda quando o "concreto"de que se tratava era, na realidade, uma simplesA. filosfica. Gentile falava, p. ex., de uma "lgi-ca do abstrato", ou do pensamento pensado, ede uma "lgica do concreto", ou do pensamen-to pensante (Sistema di lgica, I, 1922, pp. 119ss.). Croce falava da "concretitude" do conceitocomo imanncia deste nas representaes sin-gulares e da "abstrateza" das noes considera-das desligadas dos particulares ilgica, A- ed.,1920, p. 28). Bergson contraps constantementeo tempo "concreto" da conscincia ao tempo"abstrato" da cincia e, de modo geral, o proce-dimento da cincia que se vale de conceitos ousmbolos, isto , de "idias abstratas ou gerais",ao procedimento intuitivo ou simptico da filo-sofia (cf., p. ex., Lapenseet le mouvant, 3- ed.,1934, p. 210). Esses temas polmicos forambastante freqentes na filosofia dos primeirosdecnios do nosso sculo. E certamente a pol-mica contra a A. foi eficaz contra a tendncia deentificar os produtos dela, isto , de considerarcomo substncias ou realidades, entidades queno tm outra funo seno possibilitar a des-crio, a classificao e o uso de um complexode dados. Mas, por outro lado, essa mesma po-lmica s vezes fez esquecer a funo da A. emtodo tipo ou forma de atividade humana, en-quanto tal atividade s pode operar atravs deselees abstrativas. Mach insistiu nessa funoda A. nas cincias, afirmando que ela indis-pensvel para a observao dos fenmenos,para a descoberta, ou para a pesquisa dos prin-cpios (Erkenntniss undIrrtum, cap. VIII; trad.fr., pp. 146 ss.). A esse propsito foi oportuna-mente distinguida por Peirce uma dupla funoda A.: a de operao seletiva e a que d ensejo
s verdadeiras e prprias entidades abstratas,como p. ex., na matemtica. "O fato mais co-mum da percepo, como, p. ex., 'h luz', impli-ca A. prescindente ou prescindncia. Mas a A.hiposttica, que transforma 'h luz' em 'h luzaqui', que o sentido que dou comumente palavra A. (desde que prescindncia indica a A.prescindente), um modo especialssimo dopensamento. Consiste em tomar certo aspectode um objeto ou de vrios objetos percebidos(depois que j foi 'pr-cindido' dos outros as-pectos de tais objetos) e em exprimi-lo de formaproposicional com um juzo" (Coll. Pap., 4.235;cf. 3.642; 5.304). Essa distino que j fora ace-nada por James (Princ. ofPsychol, I. 243) eaceita por Dewey {Logic, cap. 23; trad. it., pp.603-604) no impede que tanto a prescindnciaquanto a A. hiposttica sejam especificaes dafuno geral seletiva, que tradicionalmente foiindicada pela palavra "abstrao". Paul Valryinsistiu poeticamente na importncia da A. emtodas as constaies humanas, logo tambmna arte: "Estou dizendo que o homem fabricapor A.; ignorando e esquecendo grande partedas qualidades daquilo que emprega, aplican-do-se somente a condies claras e distintasque podem, via de regra, ser simultaneamentesatisfeitas no por uma, mas por muitas esp-cies de matrias" (Eupalinos, trad. ital., p. 134).
ABSTRACIONISMO (in. Abstractionisni; fr.Abstractionnisme, ai. Abstraktionismus; it. As-trazionismo). Assim William James (The Mea-ning of Truth, 1909, cap. XIII) denominou ouso ilegtimo da abstrao e em particular atendncia a considerar como reais os produtosda abstrao.
ABSTRATAS, CINCIAS. V. CINCIAS, CLASSI-FICAO DAS.
ABSTRATAS, IDIAS. V. ABSTRAO.ABSTRATIVO, CONHECIMENTO (lat
Cognitio abstractiva-, in. Abstractive knowledge,fr. Connaissance abstractive, ai. AbstrahierendeErkenntniss; it. Conoscenza astrattiva). Termoque Duns Scot empregou de modo simtricoe oposto ao de conhecimento intuitivo (cog-nitio intuitiva), para indicar uma das esp-cies fundamentais do conhecimento: a pri-meira delas "abstrai de toda existncia atual"enquanto a segunda "se refere ao que existeou ao que est presente em certa existnciaatual" (Op. Ox., II, d. 3, q. 9, n. 6). A distinofoi aceita por Durand de St. Pourain (In Sent,Prol, q. 3, F) e por Ockham, que, porm, areinterpretou a seu modo, entendendo por co-
-
ABSTRATOR ACADEMIA
nhecimento intuitivo aquele mediante o qual seconhece com evidncia a realidade ou a irrea-lidade de uma coisa ou de algum outro atributoemprico da prpria coisa; portanto, em geral,"toda noo simples de um termo ou de vriostermos de uma coisa ou de vrias coisas, em vir-tude da qual se possa conhecer alguma verdadecontingente especialmente em torno do objetopresente" (In Sent., Prol., q. 1, Z.). F. entendeupor conhecimento abstrativo o que prescinde darealidade ou da irrealidade do objeto e umaespcie de imagem ou cpia do conhecimentointuitivo. Nada se pode conhecer abstrativa-mente, diz ele, que no tenha sido conhecidointuitivamente, seno at mesmo o cego de nas-cena poderia conhecer as cores (Ibid, I, d. 3, q.2, K). Essa doutrina do conhecimento intuitivo a primeira formulao da noo de experinciano sentido moderno do termo (V. EXPERINCIA).
ABSTRATOR. V. OPERADOR.ABSTRUSO (lat. Abstrusus [= escondido];
in. Abstruse, fr. Abstrus; ai. Abstrus; it. Astruso).Termo pejorativo para qualificar qualquer no-o inslita ou de difcil compreenso; ou,como diz Locke (Ensaio, II, 12, 8), "distantedos sentidos e de toda operao do nosso esp-rito". Esse termo aplicado sobretudo a no-es abstratas, mas aplica-se igualmente a noesque se afastem, mais ou menos, do universocomum do discurso.
ABSURDO (gr. cetOTiov, avaxov; lat. Ab-surdum; in. Absurd; fr. Absurde, ai. Absurd; it.Assurd). Em geral, aquilo que no encontralugar no sistema de crenas a que se faz refe-rncia ou que se ope a alguma dessas cren-as. Os homens e, em especial, os filsofos sempre usaram muito essa palavra para con-denar, destruir ou pelo menos afastar de si cren-as (verdadeiras ou falsas) ou mesmo fatos ouobservaes perturbadoras, incmodas ou, dequalquer modo, estranhas ou opostas aos sis-temas de crenas aceitos por eles. Portanto, no de surpreender que at mesmo experinciasou doutrinas que depois seriam reconhecidascomo verdadeiras tenham sido por muito oupouco tempo definidas como absurdas. P. ex.:os antigos reputavam A. a crena nos antpodasporque, no tendo a noo da relatividade dasdeterminaes espaciais, acreditavam que nosantpodas os homens deveriam viver de cabeapara baixo. Nesse sentido, a palavra significa"irracional", isto , contrrio ou estranho quiloem que se pode crer racionalmente, ou "in-conveniente", "fora de lugar", etc.
Em sentido mais restrito e preciso, essa pa-lavra significa "impossvel" (adynatori) porquecontraditrio. Nesse sentido, Aristteles falavade raciocnio por A. ou de reduo ao A.: seriaum raciocnio que assume como hiptese aproposio contrria condio que se querdemonstrar e faz ver que de tal hiptese derivauma proposio contraditria prpria hipte-se (An. pr, II, 11-14, 61 ss.). A demonstraopor A., acrescenta Aristteles (ibid., 14, 62 b27), distingue-se da demonstrao ostensivaporque assume aquilo que, com a reduo aoerro reconhecido, quer destruir; a demonstra-o ostensiva, ao contrrio, parte de premissasj admitidas. Leibniz chamou de demonstraoapaggica o raciocnio por A. e considerou-otil ou pelo menos dificilmente eliminvel, nodomnio da matemtica (Nouv. ess., IV, 8, 2).Kant, que emprega o mesmo nome, justifi-cou-o nas cincias, mas o excluiu da filosofia.Justificou-o nas cincias porque nestas im-possvel o modus ponens de chegar verdadede um conhecimento a partir da verdade dassuas conseqncias: seria necessrio, de fato,conhecer todas as conseqncias possveis: oque impossvel. Mas, se de uma proposiopode ser extrada ainda que uma s conse-qncia falsa, a proposio falsa: por isso omodus tollens dos silogismos conclui ao mes-mo tempo com rigor e com facilidade. Masesse modo de raciocinar isento de perigos snas cincias em que no se pode trocar objeti-vo por subjetivo, isto , nas cincias da nature-za. Em filosofia, porm, essa troca possvel,isto , pode acontecer que seja subjetivamenteimpossvel o que no objetivamente imposs-vel. Portanto, o raciocnio apaggico no levaa concluses legtimas (Crt. R. Pura, Disciplinada razo pura, IV).
AB UMVERSALI AD PARTICULAREM. uma das consequentiaeformates (v. CONSEQN-CIA) da Lgica escolstica: ab universali adpar-tcularem, sive ndefinitam sive singularemvalet (tenef) consequentia; isto : de "todo A B" valem as conseqncias "alguns A so B","A B", "S (se S um A) B".
ACADEMIA (gr. 'AKatu.eia; lat. Acade-mia; in. Academy, fr. Acadmie, ai. Akademie,it. Accademia). Propriamente a escola funda-da por Plato no ginsio que tomava o nomedo heri Academos e que depois da morte dePlato foi dirigida por Espeusipo (347-339a.C), por Xencrates (339-14 a. C.), por Pole-mon (314-270 a. C.) e por Cratete (270-68 a.C).
-
ACADEMIA FLORENTINA AO
Nessa fase, a Academia continuou a especula-o platnica, vinculando-a sempre mais estrei-tamente ao pitagorismo; pertenceram a ela ma-temticos e astrnomos, entre os quais o maisfamoso foi Eudoxo de Cnido. Com a morte deCratete, a Academia mudou de orientao comArcesilau de Pitane (315 ou 314-241 ou 240a.C), encaminhando-se para um probabilismoque derivava da poca em que Plato afirmara,sobre o conhecimento das coisas naturais, queestas, no tendo nenhuma estabilidade e soli-dez, no podem dar origem a um conhecimen-to estvel e slido, mas s a um conhecimentoprovvel. De Arcesilau e de seus sucessores(de que no sabemos quase nada) esse pontode vista estendeu-se a todo o conhecimen-to humano no perodo que se chamou de"Academia mdia". A "nova Academia" comeacom Camades de Cirene (214 ou 212-129 ou128 a.C); essa orientao de tendncia ctica eprobabilstica foi mantida at Flon de Larissa,que, no sculo I a.C, iniciou a IV Academia, deorientao ecltica, na qual Ccero se inspirou.Mas a Academia Platnica durou ainda pormuito tempo e sua orientao tambm se reno-vou no sentido religioso-mstico, que prpriodo Neoplatonismoiy.). S em 529 o imperadorJustiniano proibiu o ensino da filosofia e con-fiscou o rico patrimnio da Academia. Da-mscio, que a dirigia, refugiou-se na Prsiacom outros companheiros, entre os quais Sim-plcio, autor de um vasto comentrio a Aris-tteles, mas logo voltaram desiludidos. Foi as-sim que terminou a tradio independente dopensamento platnico.
ACADEMIA FLORENTINA. Foi fundadapor iniciativa de Marslio Ficino e de Cosimode Mediei e reuniu um crculo de pessoas queviam a possibilidade de renovar o homem e asua vida religiosa mediante um retorno sdoutrinas genunas do platonismo antigo. Nes-sas doutrinas, os adeptos do platonismo, espe-cialmente Ficino (1433-1499) e Cristvo Lan-dino (que viveu entre 1424 e 1498), viam asntese de todo o pensamento religioso da An-tigidade e, portanto, tambm do cristianismoe por isso a mais alta e verdadeira religio pos-svel. A esse retorno ao antigo ligou-se outroaspecto da Academia florentina, o anticuria-lismo; contra as pretenses de supremacia pol-tica do papado, a Academia sustentava um re-torno idia imperial de Roma; por isso, Demonarchia de Dante (V. RENASCIMENTO) era obje-to freqente de comentrios e discusses.
AO (gr. Tipv; lat. Actio; in. Action; fr.Action; ai. Tat, Handlung; it. Azione). 1. Termode significado generalssimo que denota qual-quer operao, considerada sob o aspecto dotermo a partir do qual a operao tem incio ouiniciativa. Nesse significado, a extenso do ter-mo coberta pela categoria aristotlica do fazer(Tiovev), cujo oposto a categoria da paixo(v.) ou da afeio (v.). Fala-se, assim, da A. docido sobre os metais ou do "princpio de A. ede reao" ou da A. do DDT sobre os insetos;ou ento fala-se da A. livre ou voluntria ou res-ponsvel, isto , prpria do homem e qualifica-da por condies determinadas. Produzir, cau-sar, agir, criar, destruir, iniciar, continuar,termi-nar, etc. so significados que inscrevem-se nessesignificado genrico de ao.
2. Aristteles foi o primeiro a tentar destacardesse significado genrico um significado espe-cfico pelo qual o termo pudesse referir-se so-mente s operaes humanas. Assim, comeouexcluindo da extenso da palavra as operaesque se realizam de modo necessrio, isto , deum modo que no pode ser diferente do que .Tais operaes so objeto das cincias teo-rticas, matemtica, fsica e filosofia pura. Essascincias referem-se a realidades, fatos ou even-tos que no podem ser diferentes do que so.Fora delas est o domnio do possvel, isto , doque pode ser de um modo ou de outro; masnem todo o domnio do possvel pertence ao. Dele preciso, com efeito, distinguir o daproduo, que o domnio das artes e que temcarter prprio e finalidade nos objetos produ-zidos (Et. nic, VI, 3-4, 1.149 ss.). S. Tomsdistingue A. transitiva (transiens), que passade quem opera sobre a matria externa, comoqueimar, serrar, etc, e A. imanente (imma-nens), que permanece no prprio agente, comosentir, entender, querer (S. Tb., II, I, q. 3, a 2; q.111, a. 2). Mas a chamada A. transitiva nadamais do que o fazer ou produzir, de que falaAristteles (ibid., II, I, q. 57, a. 4). Nessas obser-vaes de S. Toms, assim como nas deAristteles, est presente a tendncia a reconhe-cer a superioridade da A. chamada imanente,que se consuma no interior do sujeito operante:A. que, de resto, outra coisa no seno a ativi-dade espiritual ou o pensamento ou a vidacontemplativa. S. Toms diz, com efeito, que sa A. imanente "a perfeio e o ato do agente",enquanto a A. transitiva a perfeio do termoque sofre a A. {ibid., II, I, q. 3, a 2). Por outrolado, S. Toms distingue, na A. voluntria, a A.
-
AO, FILOSOFIA DA AO, FILOSOFIA DA
comandada, que a ordenada pela vontade, p.ex., caminhar ou falar, e a A. elcita da vontade,que o prprio querer. O fim ltimo da A. no o ato elcito da vontade, mas o comandado: jque o primeiro apetecvel o fim a que tende avontade, no a prpria vontade iibid., II, I, q. 1,a. 1 ad 2a). Esses conceitos permaneceram du-rante muito tempo inalterados e so pressupos-tos tambm pela chamada filosofia da A. (v.);esta, se tende a exaltar a A. como um caminhopara entrar em comunicao mais direta com arealidade ou o Absoluto, ou na posse mais se-gura destes, no se preocupa muito em forne-cer um esquema conceituai da A. que lhe deter-mine as constantes. Essa tentativa, porm, foifeita por cincias particulares, em vista das suasexigncias, especialmente pela sociologia. As-sim, p. ex., Talcott Parsons determinou o esque-ma da ao. Esta implicaria: 1Q um agente ouum ator; 2Q um fim ou estado futuro de coisasem relao ao qual se orienta o processo da A.;3U uma situao inicial que difira em um oumais importantes aspectos do fim a que tende aA.; 4e certo complexo de relaes recprocas en-tre os elementos precedentes. "Dentro da reade controle do ator", diz Parsons, "os meios em-pregados no podem, em geral, ser considera-dos como escolhidos ao acaso ou dependentesexclusivamente das condies da A., mas de-vem de algum modo estar sujeitos influnciade determinado fator seletivo independente,cujo conhecimento necessrio compreensodo andamento concreto da A.". Esse fator aorientao normativa que, embora possa serdiferentemente orientada, no falta em nenhumtipo de A. efetiva (The Structure of SocialAction, 1949, pp. 44-45). Esse esquema analti-co proposto por Parsons sem dvida cor-responde muito bem s exigncias da anlisesociolgica; mas pode ser assumido tambmem filosofia como base para a compreenso daA. nos vrios campos de que a filosofia se ocu-pa, isto , no campo moral, jurdico, polti-co, etc.
AO, FILOSOFIA DA (in. Philosophy ofAction; fr. Phlosophie de Vaction, it. FilosofiadelVazion). Com esse nome indicam-se algu-mas manifestaes da filosofia contempornea,caracterizadas pela crena de que a A. constituio caminho mais direto para conhecer o Absolu-to ou o modo mais seguro de possu-lo. Trata-se de uma filosofia de origem romntica: omoralismo de Fichte fundava-se na superiori-dade metafsica da A. (V. MORALISMO). O prima-
do da razo prtica, de que Kant falara, no ti-nha significado fora do domnio moral; mascom Fichte esse primado significa que s na A.o homem se identifica com o Eu infinito. Osmbolo da filosofia da A. pode ser expressona frase de Fausto, na obra de Goethe, quepropunha traduzir In principio erat Verbumdo IV Evangelho por "No princpio era a A.".
Foi com esses pressupostos romnticos quea filosofia da A. se vinculou; na Frana, atravsde OU-Laprune (1830-99) e de Blondel (1861-1949), assumiu forma religiosa: para ela a A. o ncleo essencial do homem e s uma anliseda A. pode mostrar as necessidades e as defi-cincias do homem, assim como sua aspiraoao infinito, que, por sua vez, s pode ser satis-feita pela A. gratuita e misericordiosa de Deus.A supremacia da A. era transferida por GeorgeSorel (1847-1922) do domnio religioso para osocial e poltico. Aqui a ao se desembaraavade toda limitao factual ou racional e era re-conhecida como capaz de criar por si, com omito, a sua prpria justificao (Rflexions surIa violence, 1906). A crena de que a A. possaproduzir por si s as condies cio seu xito epor si s justificar-se de modo absoluto, consti-tui o ativismo (v.) prprio de algumas correntesfilosficas e polticas contemporneas.
Por uma das no raras ironias da histria dopensamento, justamente uma das correntes quepertencem filosofia da A. deveria levar a no-o de A. at seus limites mximos e enca-minh-la para uma nova fase interpretativa. Essacorrente o pragmatismo (v.). Se, num pri-meiro momento, William James declara que aA. a medida da verdade do conhecer e, por-tanto, considera-a capaz de justificar propo-sies morais e religiosas teoricamente in-justificveis, as anlises empiristas de James e,melhor ainda, as de Dewey deveriam eviden-ciar o condicionamento da A. por parte das cir-cunstncias que a provocam, sua relao com asiaiao que constitui seu estmulo e, da, os li-mites da sua eficincia e da sua liberdade. Mas,desse ponto de vista, a A. deixa de estar ligadaunicamente ao sujeito e de encontrar unica-mente nele ou na atividade dele (vontade) oseu princpio. Perde a possibilidade de consu-mar-se e de exaurir-se no prprio sujeito; e tor-na-se um comportamento, cuja anlise deveprescindir da diviso das faculdades ou dospoderes da alma, enquanto deve ter presente asituao ou o estado de coisas a que deve ade-quar-se (V. AO; COMPORTAMENTO).
-
AO ELCITA e AO COMANDADA 10 AO REFLEXA
AO ELCITA e AO COMANDADA(lat. Actus elicitus et actus imperatus). Segundoos Escolsticos, a A. voluntria elcita a pr-pria operao da vontade, o querer, enquanto aA. comandada dirigida, iniciada e controla-da pela vontade, como, p. ex., caminhar oufalar (S. TOMS, S. Th., II, I, q, 1, a, 1).
AO MNIMA (in. Least action; fr. Moin-dre action; ai. Kleinsten Aktion; it. Azione mni-ma). Princpio de que "a natureza nada faz deintil" (natura nihilfacitfrustra) e segue o ca-minho mais curto e econmico. Essa mximaencontra-se em Aristteles (Dean., III, 12, 434 a31; Decael, I, 4, 271 a 32; Depart. an., I, 5, 645a 22), repetida por S. Toms (In IIIAn., 14) eretomada nos tempos modernos por Galileu,Fermat, Leibniz, etc. Em 1732, Maupertuis for-mulava matematicamente esse princpio e ointroduzia em mecnica com o nome de "lei deeconomia da natureza" (LexParsimoniae). Mastambm para Maupertuis esse princpio conser-vava o carter finalista que convencera Aris-tteles a adot-lo. No Ensaio de cosmologia,Maupertuis escrevia: " este o princpio, to s-bio, to digno do Ser supremo: qualquer queseja a mudana que se realize na natureza, asoma de A. despendida nessa mudana a me-nor possvel". Todavia o princpio no tem, emmecnica, o significado finalista que lhe atribuaMaupertuis. Na reexposio que dele fez La-grange (Mcanique analytique, II, 3, 6), ficouclaro que ele exprime a conservao no s domnimo como tambm do mximo de A. e que,alm disso, tanto o mnimo quanto o mximodevem ser considerados de modo relativo e noabsoluto. Desse ponto de vista, Hamilton gene-ralizava o princpio na forma de "princpio da A.estacionaria": e, nessa forma, diz somente que,em certas classes de fenmenos naturais, oprocesso de mudana tal que qualquer gran-deza fsica apropriada um extremo (isto , ummnimo ou um mximo, mais freqentementeum mnimo). Mas a grandeza em questo e oseu mnimo ou mximo so coisas que podemmudar de uma ordem de consideraes paraoutra.
Sobre princpio da mnima ao j se falouem psicologia, em esttica e at na tica (cf.JAMES, Princ. qf PsychoL, II, pp. 188, 239 ss.;SIMMEL, Einleitung in die Moral Wissenschaft,1892,1, p. 58). No deve ser confundido com oprincpio metodolgico da economia, que nodiz respeito ao da natureza ou de Deus,
mas escolha dos conceitos e das hiptesespara a descrio dos fenmenos naturais (v.ECONOMIA).
AO RECPROCA. V. RECIPROCIDADE.AO REFLEXA (in. Reflex action; fr. Ac-
tion rflexe, ai. Reflex Bewegung; it. Azioneriflessd). Em geral, uma resposta mecnica (in-voluntria), uniforme e adaptada, do orga-nismo a um estmulo externo ou interno aoprprio organismo. Um reflexo , p. ex., a con-trao da pupila quando o olho estimuladopela luz ou a salivao pelo gosto ou pela vistade um alimento. Do reflexo assim entendidodeve distinguir-se o arco reflexo, que o dis-positivo anatomofisiolgico destinado a pr oreflexo em ao. Tal dispositivo formadopelo nervo aferente ou centrpeto que sofre oestmulo, pelo nervo eferente ou centrfugoque produz o movimento e por uma conexoentre esses dois nervos, estabelecida nas clu-las nervosas centrais. A importncia filosficadessa noo, elaborada primeiramente pela fi-siologia (sc. XVIII), depois pela psicologia,est no fato de ter sido assumida como esque-ma explicativo causai da vida psquica; inicial-mente, apenas dos mecanismos involuntrios(instintos, emoes, etc), depois, tambm dasatividades superiores. Tudo o que, da vida ps-quica, pode ser reportado A. reflexa, podeser explicado causalmente a partir do estmulofsico que pe em movimento o arco reflexo.Em vista de sua uniformidade, essa A. previ-svel a partir do estmulo: isso quer dizer queela causalmente determinada pelo prprioestmulo. Desse modo, a A. reflexa no se-no o mecanismo pelo qual a causalidade ps-quica se insere na causalidade da natureza, comoparte dela.
Essas noes foram sendo elaboradas a par-tir da metade do sc. XIX, isto , desde que apsicologia se constituiu como cincia experi-mental (V. PSICOLOGIA). De acordo com a orien-tao atomista, prpria da psicologia durantemuito tempo, ela procurou resolver os reflexoscomplexos em reflexos simples, dependentesde circuitos nervosos elementares. A doutrinados reflexos condicionados, fundada por Pav-lov em bases experimentais (a partir de 1903;cf. os escritos de Pavlov recolhidos no volume /riflessi condizionati, Turim, 1950), obedece mesma exigncia e, alis, contribuiu pararefor-la durante algum tempo, fazendo nas-cer a esperana de que os comportamentos su-
-
AO REFLEXA 11 ACASO
periores tambm pudessem ser explicados pelacombinao de mecanismos reflexos simples.Um reflexo condicionado aquele em que afuno excitadora do estmulo que habitual-mente o produz (estmulo incondicionado) assumida por um estmulo artificial (condicio-nado) ao qual o primeiro foi de algum modoassociado. P. ex., se se apresenta um pedao decarne a um co, esse estmulo provoca nelesalivao abundante. Se a apresentao do pe-dao de carne foi muitas vezes associada comoutro estmulo artificial (p. ex., o som de umacampainha ou o aparecimento de uma luz),este segundo estmulo acabar por produzir,sozinho, o efeito do primeiro, isto , a saliva-o do co. claro que a combinao e a so-breposio dos reflexos condicionados podemexplicar numerosos comportamentos que, primeira vista, no esto ligados a reflexos na-turais ou absolutos. Mais recentemente, viu-setambm no reflexo condicionado a explicaodo chamado comportamento simblico do ho-mem, isto , do comportamento dirigido porsignos ou smbolos, lingsticos ou de outra na-tureza. P. ex., o viajante que encontra na estra-da um cartaz advertindo que a estrada est in-terrompida adiante, reage (p. ex., voltando)exatamente como se houvesse visto a interrup-o da estrada. Aqui o smbolo (o cartaz) subs-tituiu, como estmulo artificial, o estmulo natu-ral (a vista da interrupo). Pavlov e muitosdefensores da teoria dos reflexos condiciona-dos mantiveram-se fiis ao princpio de quetodo reflexo que entra na composio de umreflexo condicionado um mecanismo simplese infalvel, realizado por determinado circuitoanatmico. Por isso, a teoria do reflexo condi-cionado, na forma exposta por Pavlov, inscre-ve-se nos limites daquilo que hoje se costumachamar "teoria clssica do ato reflexo", isto ,da interpretao causai da A. reflexa.
Todavia, um respeitvel complexo de obser-vaes experimentais, feitas pela fisiologia epela psicologia nos ltimos decnios, a partirde 1920, aproximadamente, foi tornando cadavez mais difcil entender a A. reflexa segundoseu esquema clssico. Em primeiro lugar, viu-se que a A. dos estmulos complexos no previsvel a partir da A. dos estmulos simplesque o compem, ou seja, os chamados reflexossimples combinam-se de modos imprevisveis.Em segundo lugar, o prprio conceito de "re-flexo elementar", isto , do reflexo que entrariana composio dos reflexos complexos, foi jul-
gado ilegtimo: e, com efeito, todos os reflexosobservveis so complexos e um reflexo "sim-ples", isto , no decomponvel, uma simplesconjectura. Em terceiro lugar, as mesmas refle-xes sobre os reflexos condicionados demons-tram a irregularidade e a imprevisibilidade decertas respostas: irregularidade e imprevisibili-dade que Pavlov explicava com a noo de ini-bio, que, porm, somente um nome paraindicar o fato de que certa reao, que se espe-rava, no se verificou (GOLDSTEIN, DerAufbaudes Organismus, 1927; MERLEAU-PONTY, Struc-ture du comportement, 1949). Essas e outras or-dens de observao, apresentadas sobretudopela psicologia da forma (cf., p. ex., KATZ,Gestaltpsychologie, cap. III), mostram que o re-flexo no pode ser entendido como uma A. de-vida a um mecanismo causai. Fala-se de reflexosempre que se pode determinar, em face decerto estmulo, um campo de reaes suficien-temente uniformes para serem previstas comalto grau de probabilidade. As A. reflexas cons-tituem, desse ponto de vista, uma classe de rea-o, mais precisamente a que se caracterizapela alta freqncia de uniformidade das pr-prias reaes. Mas com isso a noo de reflexosai do esquema causai para entrar no esquemageral de condicionamento (V. CONDIO).
ACASO (gr. aTjiaxov; lat. Casus; in. Chan-ce, fr. Hasard; ai. Zufall; it. Caso). Podem-sedistinguir trs conceitos desse termo que seentrecruzaram na histria da filosofia. ls o con-ceito subjetivista, que atribui a imprevisibilida-de e a indeterminao do evento casual ig-norncia ou confuso do homem. 2a o conceitoobjetivista, que atribui o evento casual mistu-ra e interseo das causas. 3e a interpretaomoderna, segundo a qual o acaso a insufi-cincia de probabilidades na previso. Este l-timo conceito o mais geral e o menos me-tafsico.
ls Aristteles (Fs., II, 4, 196 b 5) j falava daopinio segundo a qual a sorte seria uma cau-sa superior e divina, oculta para a intelign-cia humana. Os Esticos equiparavam o A. aoerro ou iluso; julgavam que tudo aconteceno mundo por absoluta necessidade racional(Plac. philos., I, 29). claro que quem admiteuma necessidade desse gnero e a atribui(como achavam os Esticos) divindade ima-nente no cosmos ou ordem mecnica do uni-verso no pode admitir a realidade dos eventosque costumam ser chamados de acidentais ou
-
ACASO 12 ACASO
fortuitos e muito menos do acaso como princ-pio ou categoria de tais eventos; deve ver nelesa ao necessria da causa reconhecida em atono universo, negando como iluso ou erro oseu carter casual. esse o motivo por queKant, que modela as suas categorias e os seusprincpios a priori sobre a fsica newtoniana,inteiramente fundada no princpio de causali-dade, nega a existncia do A., e faz, alis, dessanegao um dos princpios a priori do intelec-to: "A proposio 'nada ocorre por A. (in mun-do non datur casus)' uma lei a priori da na-tureza" (Crt. R. Pura, Analtica dos princpios,Refutao do idealismo). Hegel, que parte doprincpio da perfeita racionalidade do real, atri-bui o A. natureza, ou melhor, v na natureza"uma acidentalidade desregulada e desenfrea-da" (Ene, 248), mas na medida em que a natu-reza no est adequada substncia racionaldo real e, por isso, carece ela prpria de reali-dade. De modo anlogo, na filosofia contem-pornea, Bergson explicou o A. pela troca, me-ramente subjetiva, entre a ordem mecnica e aordem vital ou espiritual: "Que a mecnica dascausas que fazem a roleta parar sobre o nme-ro me permita vencer e, por isso, aja como umgnio benfico para quem os meus interessestivessem grande importncia; ou que a foramecnica do vento arranque uma telha do tetoe a arroje sobre a minha cabea, isto , que ajacomo um gnio malfico que conspirasse con-tra a minha pessoa; em ambos os A. eu encon-tro um mecanismo onde eu teria procurado eonde deveria encontrar, ao que parece, uma in-teno: isso que se exprime quando se falade A." (vol. cratr, 8a ed., 1911, p. 254).
2e Por outro lado, seguncio a interpretaoobjetivista, o A. no um fenmeno subjetivo,mas objetivo, e consiste no entrecruzar-se deduas ou mais ordens ou sries diversas de cau-sas. A mais antiga das interpretaes desse tipo a de Aristteles. Aristteles comea notandoque o A. no se verifica nem nas coisas queacontecem sempre do mesmo modo, nem nasque acontecem quase sempre do mesmomodo, mas entre as que ocorrem por exceoe sem qualquer uniformidade (Fs., II, 5, 196 b10 ss.). Desse modo, ele atribui corretamente oA. esfera do imprevisvel, isto , do que acon-tece fora do necessrio ("o que acontece sem-pre do mesmo modo") e do uniforme ("o queacontece quase sempre do mesmo modo"). As-sim sendo, o A. (ou a sorte) definido porAristteles como "uma causa acidental no m-
bito das coisas que no acontecem nem demodo absolutamente uniforme nem freqentee que poderiam acontecer com vistas a uma fi-nalidade" (ibd., 197 a 32). Para Aristteles, adeterminao da finalidade essencial, j queo A. tem ao menos o aspecto ou a aparncia dafinalidade: como no exemplo de quem vai aomercado por motivo completamente diferentee ali encontra um devedor que lhe restitui asoma devida. Nesse exemplo chama-se A. (ousorte) o evento da restituio devido ao encon-tro que no foi deliberado ou desejado comofinalidade, mas que teria podido ser uma finali-dade: enquanto, na realidade, foi o efeito aci-dental de causas que agiam com vistas a outrasfinalidades. A noo de encontro, de enre-damento de sries causais para a explicao doA., foi retomada na Idade Moderna por filso-fos, matemticos e economistas, que reconhe-ceram a importncia da noo de probabilida-de (v.) para a interpretao da realidade emgeral. Assim, Cournot definiu o A. como o car-ter de um acontecimento "devido combina-o ou ao encontro de fenmenos indepen-dentes na ordem da causalidade" (Thorie deschances et desprobabilits, 1843, cap. II), no-o que se tornou predominante no positi-vismo, tambm porque foi aceita por Stuart Mill(Logic, III, 17, 2): "Um evento que aconteapor A. pode ser mais bem descrito como umacoincidncia da qual no temos motivo para in-ferir uniformidade... Podemos dizer que doisou mais fenmenos so reunidos ao A. ou quecoexistem ou se sucedem por A., no sentidode no serem, de modo algum, vinculados pelacausao; que no so nem a causa ou o efeitoum do outro, nem efeitos da mesma causa oude causas entre as quais subsista uma lei decoincidncia, nem efeitos da mesma colocaode causas primrias". De modo semelhante,Ardig (Opere, III, p. 122) relaciona o A. com apluralidade e o entrelaamento de sries cau-sais distintas. Essa noo, todavia, objetiva sentre certos limites, ou melhor, s na aparn-cia. Dizer que o A. consiste no encontro deduas sries causais diferentes significa que ele um acontecimento causalmente determinadocomo todos os outros, mas s mais difcil deser previsto porque a sua ocorrncia no de-pende do curso de uma srie causai nica. Se-gundo essa noo, a determinao causai do A. mais complexa, mas no menos necessitante;a imprevisibilidade, caracterstica fundamentaldo A., deve-se to-somente a tal complexidade
-
ACATALEPSIA 13 ACIDENTE
e no de natureza objetiva. Para que seja denatureza objetiva, tal imprevisibilidade deve serrealmente devida a uma indeterminao efetivainerente ao funcionamento da prpria causali-dade.
3Q Essa ltima alternativa constitui um tercei-ro conceito do A., conceito que se pode fazerremontar a Hume. Parece que Hume quer re-duzir o acaso a um fenmeno puramente sub-jetivo, pois diz: "Embora no haja no mundo al-guma coisa como o A., a nossa ignorncia dacausa real de cada acontecimento exerce amesma influncia sobre o intelecto e gera se-melhante espcie de crena ou de opinio".Mas, na realidade, se no existe "A." como no-o ou categoria em si, tampouco existe a "cau-sa" no sentido necessrio e absoluto do termo;existe somente a "probabilidade". E na proba-bilidade que est fundado o que chamamos A.:"Parece evidente que, quando a mente procu-ra prever para descobrir o acontecimento quepode resultar do lanamento do dado, consi-dera-se o aparecimento de cada lado como igual-mente provvel; e essa a verdadeira naturezado A.: de igualar inteiramente todos os eventosindividuais que compreende" (Inq. Cone. Un-derst., VI). Essa idia de Hume deveria revelar-se extremamente fecunda na filosofia contem-pornea. O conceito de que o A. consiste naequivalncia de probabilidades que no doacesso a uma previso positiva em um sentidoou em outro foi enfatizado por Peirce, que tam-bm viu sua implicao filosfica fundamental:a eliminao do "necessitarismo", isto , dadoutrina segundo a qual tudo no mundo acon-tece por necessidade (Chance, Love and Logic,II, 2; trad. it., p. 128 ss.). Desse ponto de vista,o A. torna-se um exemplo particular do juzode probabilidade, mais precisamente, de que aprpria probabilidade no tem relevncia sufi-ciente para permitir prever um evento. Nessesentido, o A. foi considerado uma espcie deentropia (v.) e o conceito relativo comumente empregado no campo da informao e da ci-berntica (v.).
ACATALEPSIA (gr. Kaxa^riv|/a; in. Aca-talepsy, fr. Acatalepsie, ai. Akatalepsie, it. Acata-lessid). a negao feita por Pirro e pelos ou-tros cticos antigos da representao com-preensiva ((pavTocaaKaTocT|7rTiKri), isto , doconhecimento que permite compreender eapreender o objeto, que, segundo os Esticos,era o verdadeiro conhecimento. A acatalepsia a atitude de quem declara no compreender e,
portanto, suspende o seu assentimento, isto ,no afirma nem nega (SEXTO EMPRTCO, Pirr. hyp.,I, 25).
ACCEDENTIS FALLACIA. A falcia (v.) j identificada por Aristteles (El. sof, 5, 166 b)como derivada da identificao de uma coisacom um seu acidente ou atributo acidental ("SeCorisco diferente de Scrates, e Scrates ho-mem, Corisco diferente de um homem"). Cf.PEDRO HISPANO, Summ. log., 7, 40 ss. G. P.
ACENTO (gr. rcpooua; lat. Accentus; in.Accent; fr. Accent; ai. Prosodie, it. Accento).Segundo Aristteles (Sof. ei, 4, 166 b), seguidopelos lgicos medievais (cf. PEDRO HISPANO,Summ. log., 7, 31), da acentuao diferente daspalavras pode derivar, em enunciados escri-tos, uma equivocidade que pode causar paralo-gismos. G. P.
ACIDENTE (gr. cruu.pefkiK; lat. Accidens;in. Accident; fr. Accident; ai. Accidenz; it. Ac-cident). Podem-se distinguir trs significadosfundamentais desse termo, quais sejam:
Ia uma determinao ou qualidade casualou fortuita que pode pertencer ou no a deter-minado sujeito, sendo completamente estranha essncia necessria (ou substncia) deste;
2B uma determinao ou qualidade que, em-bora no pertencendo essncia necessria(ou substncia) de determinado sujeito e estan-do, portanto, fora de sua definio, est vincu-lada sua essncia e deriva necessariamenteda sua definio;
3S uma determinao ou qualidade qualquerde um sujeito, que pertena ou no sua es-sncia necessria.
Os dois primeiros significados do termo fo-ram elaborados por Aristteles. "Acidente", dizele (Top., I, 5, 102 b 3), "no nem a definionem o carter nem o gnero, mas, apesar dis-so, pertence ao objeto; ou tambm, o quepode pertencer e no pertencer a um s e mes-mo objeto, qualquer que seja ele." Como essadefinio exprime a essncia necessria deuma realidade, isto , a substncia (v. DEFINI-O), o acidente est fora da essncia necess-ria e, portanto, pode pertencer ou no ao ob-jeto a que se refere. Todavia, o acidente podeter uma relao mais ou menos estreita com oobjeto a que se refere, conforme a causa dessarelao; por isso, Aristteles distingue dois sig-nificados, ambos empregados no Organon eA metafsica: 1- o acidente pode ser casual namedida em que a sua causa indeterminada:p. ex., um msico pode ser branco, mas como
-
ACIDENTE 14 ACIDENTE
isso no acontece por necessidade ou na maiorparte dos casos, ser branco, para um msico,ser um "acidente". Da mesma forma, para al-gum que cave um buraco a fim de colocaruma planta, encontrar um tesouro acidental,j que a encontrar um tesouro no se segue ne-cessariamente o ato de cavar um buraco, nemacontece habitualmente em semelhante cir-cunstncia. Nesse significado (Mel, V, 30,1.025a 14), portanto, acidente tudo o que acontecepor acaso, isto , pela inter-relao e o entrela-amento de vrias causas, mas sem uma causadeterminada que assegure a sua ocorrnciaconstante ou, pelo menos, relativamente fre-qente. Mas h tambm: 2a o acidente no ca-sual, ou acidente por si, isto , aquele carterque, embora no pertena substncia, estan-do, pois, fora da definio, pertence ao objetoem virtude daquilo que o prprio objeto . P.ex., ter ngulos internos iguais a dois retos nopertence essncia necessria do tringulo, talqual expressa pela definio; por isso, umacidente. Mas um acidente que pertenceao tringulo por acaso, isto , por uma causaindeterminvel, mas por causa do prpriotringulo, quer dizer, por aquilo que o tringu-lo ; e por isso um acidente eterno (Met., V,30, 1.025 a 31 ss.). Aristteles ilustra a diferenado seguinte modo (An.post, 4, 73 b 12 ss.): "Serelampeja enquanto algum caminha, isso um acidente, j que o relmpago no causa-do pelo caminhar... Se, porm, um animal morredegolado, em virtude de um ferimento, dire-mos que ele morreu porque foi degolado, eno que lhe ocorreu, acidentalmente, morrerdegolado". Em outros termos, o acidente por siest vinculado causalmente (e no casualmen-te) s determinaes necessrias da substn-cia, embora no faa parte delas. E emborano haja cincia do acidente casual, porque acincia s do que sempre ou habitualmente(Met., X, 8, 1.065 a 4) e porque ela investiga acausa, ao passo que a causa do acidente in-definida (Fs., II, 4, 196 b 28), o acidente por sientra no mbito da cincia, como indicadopelo prprio exemplo geomtrico de que sevaleu Aristteles em Met., V, 30, e em numero-sos textos dos Tpicos.
Com esse segundo significado aristotlicoda palavra pode-se relacionar o terceiro signifi-cado, segundo o qual ela designa, em geral, asqualidades ou os caracteres de uma realidade(substncia) que no podem ficar sem ela, por-que o seu modo de ser o de "inerir" (nesse)
prpria realidade. Talvez esse uso tenha sidoiniciado por Porfrio, que define o aci-dente (Isag., V, 4 a, 24): "O que pode ser gera-do ou desaparecer sem que o sujeito sejadestrudo". Essa definio, obviamente, refere-se definio aristotlica do acidente como "oque pode pertencer e no pertencer a um s emesmo objeto". S. Toms anota corretamente(Met., V, 1.143) que, no segundo dos dois signi-ficados aristotlicos, o acidente se contrape substncia. Em virtude dessa contraposio, oacidente "o que est em outra coisa" (S. Th.,III, q. 77, a. 2 ad le), isto , em um sujeito ousubstrato sem o qual ele, no curso ordinrio danatureza (isto , prescindindo da ordem da gra-a que se manifesta no sacramento do altar)no pode subsistir (ibid., III, q. 76, a. 1 ad\-).Nesse significado, em que o acidente se contra-pe substncia, porquanto o seu modo de ser inerir (inesse) a algum sujeito, em oposioao subsistir da substncia que no tem neces-sidade de apoiar-se em outra coisa para existir, otermo acidente torna-se coextensivo ao de qua-lidade em geral, sem referncia a seu cartercasual e gratuito, que Aristteles tinha ilustra-do. A terminologia dos escolsticos adere habi-tualmente a este ltimo significado, que destespassa para os escritores modernos, na medidaem que se valem da linguagem escolstica. To-davia, mais prxima da definio aristotlicaque do uso escolstico encontra-se a definiode Stuart Mill, para quem os acidentes so to-dos os atributos de uma coisa que no estocompreendidos no significado do nome e notm vnculo necessrio com os atributosindivisveis dessa mesma coisa (Logic, I, 7, 8).
Locke e os empiristas ingleses, o mais das ve-zes, usam no lugar da palavra acidente, a pa-lavra qualidade (v.). Mas a sua insistncia nainseparabilidade das qualidades em relao substncia, que sem elas se esvai no nada, influino uso posterior da palavra em questo: usoque tende a reduzir ou a anular a oposio en-tre acidente e substncia e a considerar os aci-dentes como a prpria manifestao da subs-tncia. Na verdade esse uso tambm pode serencontrado em Spinoza, se, porm, se admi-tir que a palavra "modo" que ele emprega sinnimo de acidente; essa sinonmia pareceser sugerida pela definio que ele d de"modo" (Et., I, def. 5) como o que est em outracoisa e concebido por meio dessa outra coisa.De qualquer forma, a mudana de significado claramente verificvel em Kant e Hegel. Kant
-
ACIDIA 15 ACORDO
diz (Crt. R. Pura, Analtica dos princpios, Pri-meira Analogia): "As determinaes de umasubstncia, que no so seno modos especiaisdo seu existir, chamam-se acidentes. Eles sosempre reais, porque dizem respeito existn-cia da substncia. Ora, se a esse real que est nasubstncia (p. ex., ao movimento como aciden-te da matria) se atribui uma existncia especial,essa existncia chamada de inerncia, paradistingui-la da existncia da substncia, que sechama subsistncia". Essa passagem retoma aterminologia escolstica com um significado to-talmente diferente, pois os acidentes so consi-derados "modos especiais de existir" da prpriasubstncia. Noo anloga encontra-se emHegel, que diz (Ene, 151): "A substncia atotalidade dos acidentes nos quais ela se reve-la como a absoluta negatividade deles, isto ,como potncia absoluta e, ao mesmo tempo, co-mo a riqueza de cada contedo". O que signi-fica que os acidentes, na sua totalidade, soa revelao ou a prpria manifestao da subs-tncia. Fichte exprimira, por outro lado, umconceito anlogo, afirmando, na esteira deKant, que "Nenhuma substncia pensvel se-no com referncia a um A. ... Nenhum A. pensvel sem substncia" (Wssenschaftslehre,1794, 4 D, 14). O uso desse termo sofreu, as-sim, ao longo da sua histria, uma evoluo pa-radoxal: comeou significando as qualidades oudeterminaes menos estreitamente ligadas natureza da realidade, ou at mesmo gratuitasou fortuitas, e acabou por significar todas as de-terminaes da realidade e, assim, a prpria rea-lidade em sua inteireza.
ACDIA (lat. Acedia; in. Sloth; fr. Accidie, ai.Acedie, it. Accidia). O tdio ou a nusea nomundo medieval: o torpor ou a inrcia em quecaam os monges que se dedicavam vidacontemplativa. Segundo S. Toms, consiste no"entristecimento do bem divino" e uma esp-cie de torpor espiritual que impede de iniciar obem (S. Th., II, II, q. 35, a. 1). Com o tdio, aacdia tem em comum o estado que a con-diciona, que no de necessidade, mas de sa-tisfao (V. TDIO).
ACLARAO (in. Clarification; fr. clair-cissement; ai. Klrung, Erhellung; it. Chiarifi-cazion). No uso filosfico contemporneo,esse termo tem um significado especfico, por-que no significa genericamente "esclarecimen-to", mas indica o processo com que se leva clareza conceituai certo substrato de conscin-cia ou de experincias vividas. Foi precisamen-
te nesse sentido que Husserl falou de "mtododa A. (Klrung)" (Ideen, I, 67, 125). Husserlinsistiu no fato de que a A. exige que seja leva-do evidncia o seu substrato (as experinciasvividas que a sustentam) de tal modo que"transforme todo elemento morto em vivo,toda confuso em distino e todo elementono intuvel em intuvel" (Jbid., 125). Por suavez, Jaspers usou do termo Erhellung para indicara relao entre existncia e razo. A A. aexistncia que procura tornar-se evidente parasi mesma e assim aclarar-se como razo. "A A.existencial", diz Jaspers, "no conhecimentoda existncia, mas recorre s suas possibilida-des" (Vernunft undExistenz, II, 7). Isto signi-fica que "a razo no existe como pura razo,mas o fazer-se da existncia possvel" (ibid.,II, 6); e precisamente este fazer-se a aclarao.
ACONTECIMENTO (gr. crvu.(3epriK; lat. Ac-cidens; in. Occurrence; fr. vnement; ai.Vorfall; it. Accadiment). Um fato ou um eventoque tem certo carter acidental ou fortuito ou,pelo menos, do qual no se pode excluir essecarter.
A CONTRARIO. Forma de argumentaodialtica por analogia: do contrrio se concluio contrrio. (Se a A convm um predicado B, ano-A provvel que convenha um predicadono-B). G. P.
ACORDO (in. Agreement; fr. Convenance;ai. bereinstmmung; it. Accord). Essa nooserviu, na Idade Moderna, para definir a natu-reza do juzo ou da proposio em geral. Diz aLgica de Port-Royal: "Depois de conceber ascoisas atravs de nossas idias, comparamosessas idias entre si; e descobrindo que algu-mas esto de acordo entre si e outras no, nsas ligamos ou as desligamos, o que se chamaafirmar ou negar e, geralmente, julgar" (Log.,II, 3). Essa noo foi usada no mesmo sentidopor Locke, para definir o conhecimento emgeral, entendido como "a percepo do vncu-lo e do acordo ou desacordo e da oposioentre as nossas idias, quaisquer que sejamelas" (Ensaio, IV, 1, 2). Essa noo foi criticadapor Leibniz: "O acordo ou o desacordo no propriamente o que expresso pela proposi-o. Dois ovos esto de acordo e dois inimigosesto em desacordo. Trata-se aqui de um modode acordo ou de desacordo bastante particular"(Nouv. ess., IV, 5). Spinoza falou de acordo(convenientia) entre a idia e o seu objeto. "Aidia verdadeira deve convir com o seu ideado;ou seja, o que objetivamente est contido nointelecto deve necessariamente ser dado na na-
-
ACOSMISMO 16 ADEQUAO
tureza" (Et., I, 30). Mas para esse significado, v.VERDADE.
ACOSMISMO (in. Acosmism; fr. Acosmis-me, ai. Akosmismus; it. Acosmism). Termo em-pregado por Hegel (Ene, 50) para caracte-rizar a posio de Spinoza, em oposio acusao de "atesmo" freqentemente dirigidaa este filsofo. Spinoza, segundo Hegel, noconfunde Deus com a natureza e com omundo finito, considerando o mundo comoDeus, mas, antes, nega a realidade do mundofinito afirmando que Deus, e s Deus, real.Nesse sentido a sua filosofia no atesmo,mas acosmism, e Hegel nota, ironicamente,que a acusao contra Spinoza deriva da ten-dncia a crer que se pode mais facilmente ne-gar Deus do que negar o mundo.
ACRIBIA (gr. cncppeioc). Exatido ou preci-so. No sentido moderno, escrpulo em seguiras regras metdicas de qualquer pesquisa cien-tfica. No significado platnico, "o exato em si"(orr xaicpip) o justo meio (x (xxpiov), isto, o conveniente, ou o oportuno enquanto ob-jeto de um dos dois ramos fundamentais daarte da medida, isto , daquele que propria-mente interessa tica e poltica. O outroramo da mesma arte o que, sendo propria-mente matemtico, concerne ao nmero, aocomprimento, altura, etc. (Pol, 284 d-e)
ACROAMTICO (gr. Kpoa(J.atiK; in.Acroamatic; fr. Acroamatique, ai. Akroama-tisch; it. Acroamatic). Assim foram chama-dos, por se destinarem a ouvintes, os textos deAristteles que constituam lies por ele mi-nistradas no Liceu, para distingui-las das des-tinadas ao pblico, das quais restam apenasfragmentos. Todas as obras aristotlicas quepossumos so acroamticas, porque os textoscompostos para um pblico mais vasto, quasetodos em forma de dilogo, caram em desusoquando os textos de lies, levados a Romapor Sila, foram reorganizados e publicados porAndronico de Rodes em meados do sc. I a.C.(V. EXOTRICO).
ADEQUAO (lat. Adaequatio; in. Adequa-tion; fr. Adquation; ai. bereinstimmung; it.Adequazon). Um dos critrios de verdade,mais precisamente aquele pelo qual um conhe-cimento verdadeiro se est adequado ao ob-jeto, isto , se se assimila e corresponde a elede tal modo que reproduza, o mais possvel, asua natureza. A definio da verdade como"adequao do intelecto e da coisa" foi dadapela primeira vez pelo filsofo hebraico Isac
Ben Salomo Israel (que viveu no Egito entre845 e 940) no seu Liber de definitionibus. Essadefinio foi retomada por S. Toms que lhedeu uma exposio clssica (S. Th., I, 16, 2;Contra Gent., I, 59; Dever., q. 1, a. 1). As coisasnaturais, cuja cincia o nosso intelecto recebe,so a medida do intelecto, j que este possui averdade s na medida em que se conforma scoisas. As prprias coisas so, por sua vez, me-didas pelo intelecto divino, no qual subsistemsuas formas tal como as formas das coisas ar-tificiais subsistem no intelecto do artfice. Deus,portanto, a verdade suprema porquanto oseu entendimento a medida de tudo o que e de todos os outros entendimentos. A noode adequao (ou acordo, ou conformidade,ou correspondncia) pressuposta e empre-gada por muitas filosofias, mais precisamentepor todas as que consideram o conhecimentocomo uma relao de identidade ou semelhan-a (v. CONHECIMENTO). Locke afirma que "onosso conhecimento real s se h conformi-dade entre as idias e a realidade das coisas"(Ensaio, IV, 4, 3). O prprio Kant declarapressupor "a definio nominal da verdade comoacordo do conhecimento com o seu objeto" eprope-se o problema ulterior do critrio "gerale seguro para determinar a verdade de cadaconhecimento" (Crt. R. Pura, Lgica transe,Intr., III) e Hegel usa explicitamente a idia decorrespondncia (Ene, 213): "A idia a ver-dade, j que a verdade a correspondnciaentre objetividade e o conceito, mas no quecoisas externas correspondam s minhas re-presentaes; estas so apenas representaesexatas que eu tenho como indivduo. Na idiano se trata nem disto, nem de representaes,nem de coisas externas". Aqui Hegel faz a dis-tino entre a exatido das representaesfinitas, prprias do indivduo, enquanto corres-pondentes a objetos finitos, e a verdade doconceito infinito, ao qual s pode correspondera idia infinita ("O singular por si no cor-responde ao seu conceito: esta limitao da suaexistncia constitui a finitude e a runa do sin-gular"). Num e noutro caso, o critrio sempreo da correspondncia. Na orientao lingsticada filosofia analtica contempornea mantm-se a noo de correspondncia como relaode semelhana entre linguagem e realidade.Wittgenstein, p. ex., diz: "A proposio a ima-gem (Bild) da realidade... A proposio, se verdadeira, mostra como esto as coisas"(Tractatus, 4.021, 4.022). A coincidncia entre
-
ADEQUADO 17 ADIVINHAO
doutrinas to diferentes sobre essa noo deverdade deve-se interpretao do conheci-mento como relao de assimilao (v. CONHE-CIMENTO; VERDADE).
ADEQUADO (lat. Adaequatus; in. Adequate,fr. Adquat; ai. Adquat; it. Adeguadd). Nemsempre o significado desse adjetivo est vin-culado ao significado do substantivo corres-pondente. Ele pode significar em geral "co-mensurado a". Nesse sentido dizemos que umadescrio adequada se no neglicencia ne-nhum elemento importante da situao des-crita; ou que um pagamento adequado se proporcional importncia da remunerao,etc. Spinoza fez uso constante da noo deidia adequada, por ele assim definida (Et., II,def. IV): "Entendo por idia adequada a que,considerada em si, sem relao com o objeto,tem todas as propriedades ou as denomina-es intrnsecas da idia verdadeira. Digo in-trnsecas para excluir a denominao que extrnseca, isto , a correspondncia da idiacom o objeto ideado". Aqui, como se v, anoo de adequado admitida de modo com-pletamente independente da noo de ade-quao (v.). Spinoza nega explicitamente quea idia verdadeira seja a que corresponde aoprprio objeto porque nesse caso ela se dis-tinguiria da idia falsa somente pela denomi-nao extrnseca e no haveria diferena en-tre idia verdadeira e idia falsa quanto suarealidade e perfeio intrnsecas (Et., II, 43,escol.).
AD HOMINEM. Assim foi chamada, na lgi-ca do sc. XVII, a argumentao dialtica queconsiste em contrapor ao adversrio as con-seqncias que resultam das teses me