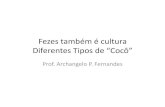DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE FEZES SOBRE OS ... · carolinne silva da mota avaliaÇÃo de...
Transcript of DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE FEZES SOBRE OS ... · carolinne silva da mota avaliaÇÃo de...

DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE FEZES SOBRE
OS COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE
PARA O TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
Carolinne Silva da Mota
Orientador: Prof. Dr. Igo Gomes Guimarães
JATAÍ-GO
2012
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
CURSO DE ZOOTECNIA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
CURSO DE ZOOTECNIA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE FEZES SOBRE OS
COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE PARA O TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)
Relatório de projeto orientado apresentado
ao Colegiado do Curso de Zootecnia, como
parte das exigências para a obtenção do título de
Bacharel em Zootecnia.
Orientador
Prof. Dr. Igo Gomes Guimarães
JATAÍ-GO
2012
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
CURSO DE ZOOTECNIA

CAROLINNE SILVA DA MOTA
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE FEZES SOBRE
A ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE
PARA O TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
Relatório de projeto orientado apresentado
ao Colegiado do Curso de Zootecnia, como
parte das exigências para a obtenção do título de
Bacharel em Zootecnia.
APROVADA em 9 de outubro de 2012.
_____________________________________________
Prof. Dr. Otto Mack Junqueira
Membro da Banca
_____________________________________________
MS. Janaína Gomes Araújo
Membro da Banca
_____________________________________________
Prof. Dr Igo Gomes Guimarães
Orientador
JATAÍ-GO
2012

Dedico ao meu pai, Sebastião Antônio da Mota,
a minha mãe Jacy Silva da Mota e a meu irmão
Jair Silva da Mota. Distância ou tempo algum
apagarão do meu coração o amor e dedicação,
ensinamentos e apoio de vocês recebidos.

AGRADECIMENTOS
Ao meu querido orientador, Igo Gomes Guimarães, que foi durante todo esse
tempo de orientação atencioso e dedicado, sempre me mostrando o caminho certo, e
sendo maleável com meus exageros e ataques de loucura, você sempre será meu
exemplo. O meu sincero obrigada.
A minha querida “Co-Orientadora” Janaína Gomes Araújo, que é meu grande
exemplo de como ser uma boa aluna, professora, orientadora, profissional, pessoa,
amiga, mãe, esposa, mulher. Tenho muito orgulho de falar que trabalhei ao seu lado. O
meu extremo obrigada.
Universidade Federal de Goiás, que me acolheu de braços abertos e me
proporcionou um ensino de qualidade e me ensinou a ter espaço na sociedade, sendo
justa e correta. Obrigada.
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que me ofereceu com muito
custo, a primeira fase da minha formação, foi em suas instalações que descobri como é a
vida. Obrigada.
Pontifica Universidade Católica de Goiás (PUC), que me cedeu suas instalações,
equipamentos, funcionários e condição para execução desse trabalho, me tratando de
igual com seus alunos. Obrigada.
Aos professores: Raquel Salgado, Josemir Gonçalves, Maria do Socorro, Eduardo,
Luiz Rennan, Kaliandra Alves, Márcia, Vinícios, Roberta de Assis, Vera Banys, Arthur,
Karina, Márcia, Fernando, obrigada por terem e estarem contribuindo com a minha
formação.
Aos meus amigos: Thalita Araujo, Fabiany Gonçalves, Paulo Henrique Arruda,
Alexandre Figueiredo, Carla Furtado, Dyulie Antunes, Murillo Machado, Nayara, que
são meus amigos e companheiros de todas as horas.
Aos meus colegas de graduação: Mateus, Gilberto, Eduardo, Mércia, Thayane,
Vanessa, Rozilda, Iracema, Nayane, Lara, Samara, Diego, Machel, Virgilho, Gabriel,
Cigano, Hugo, Vinícios, Nayana, e a todos aqueles que diretamente ou indiretamente
me ajudaram na minha formação e na construção de um belo grupo de amizades.
Aos meus amigos do grupo de Pesquisa em Organismos Aquáticos – LAPAQ-
UFG- Jataí, Thiago Quirino, Thiago Morais, Alana Lucena, CristielleColto e ao Tiago
Aguiar quem me ajudoubastante para realização deste trabalho. Obrigada.
Ao Senhor José Neves, técnico do Laboratório de Solos e todos os funcionários da
PUC-GO – Bloco G, que me ajudaram interinamente com a maior dedicação e carinho
como dado a uma filha.
Ao meu querido “Bile” (Sandro Henrique), pelo amor e compreensão oferecido
durante todo esse trabalho, levantando de madrugada, dormindo tarde, escutando
atentamente meus choros e desesperos, você segurou minhas mãos quando meus joelhos
já não aguentavam mais segurar o meu corpo. Obrigada.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Anexo I
Figura I. Sistema Guelph (Fonte: CHO, C.Y.; COWEY, C.B.; WATANABE, T..
Methodological approaches to research and development. In: Cho, C.Y., Cowey, C.B.,
Watanabe, T. (Eds.), Finfish Nutrition in Asia. IDRC, Ottawa, Canada, pp. 10–80.
1985.)
Figura II. Coleta mecânica (Fonte: CHOUBERT, G.; DE LA NOUE Jr., J.; Luquet, P.
Digestibility in fish: improved device for the automatic collection of feces.
Aquaculture 29, 185–189. 1982.)
Anexo II
Gráfico 1. Coeficientes de digestibilidade aparente do fósforo nas fezes do tambaqui
sobre diferentes tempos de coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método de
decantação.
Gráfico 2. Coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca nas fezes do
tambaqui sobre diferentes tempos de coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método
de decantação.
Gráfico 3. Coeficientes de digestibilidade aparente da energia nas fezes do tambaqui
sobre diferentes tempos de coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método de
decantação.
Figura I. Aquário de alimentação (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura II. Animais experimentais (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura III. Incubadoras adaptadas para coleta de fezes por decantação (Fonte: Arquivo
Pessoal).
Figura IV. Coleta noturna de conteúdo fecal (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura V. Recipiente coletor de fezes acoplado a incubadora (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura VI. Identificação e armazenamento das amostras fecais (Fonte: Arquivo
Pessoal).
Figura VII. Trato digestório do tambaqui todo removido (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura VIII. Corte longitudinal do trato digestório até o cecos pilóricos (Fonte: Hugo
Vinicius Pereira).
Figura IX. Remoção das fezes de dentro do trato digestório com pincel (Fonte:Hugo
Vinicius Pereira).
Anexo III
Normas para preparação de trabalhos científicos para publicação na Revista Brasileira
de Zootecnia.

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
CDA= Coeficiente de digestibilidade aparente.
CDAPB = Coeficiente de digestibilidade aparente da Proteína Bruta.
CDAMS = Coeficiente de digestibilidade aparente da Matéria Seca.
CDAP = Coeficiente de digestibilidade aparente do Fósforo.
CDAEB = Coeficiente de digestibilidade aparente da Energia Bruta.
PB = Proteína bruta.
EB = Energia bruta.

SUMÁRIO
CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS ....................................................................................... 1
1.2 MÉTODOS DE COLETA .................................................................................................. 6
CAPÍTULO 2 - PROJETO ORIENTADO .......................................................................................... 15
2.1 RESUMO .......................................................................................................................... 15
2.2 ABSTRACT ...................................................................................................................... 16
2.3 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 17
2.4 MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................. 18
2.4.1 Área e animais experimentais .................................................................................... 18
2.4.2 Dieta experimental ..................................................................................................... 19
2.4.3 Metodologia para coleta de fezes pelo método de decantação ................................... 20
2.4.4 Metodologia de coleta de fezes pelo método de dissecação ...................................... 22
2.4.5 Cálculo dos CDAs e análises químicas ...................................................................... 22
2.4.6 Delineamento experimental e análise estatística dos dados ....................................... 23
2.5 RESULTADOS ................................................................................................................. 24
2.6 DISCUSSÃO .................................................................................................................... 27
2.7 CONCLUSÃO .................................................................................................................. 33

1
CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Nos últimos anos, o cultivo intensivo e semi-intensivo de peixes tem sido
crescente no Brasil, principalmente pelo interesse nas espécies nativas tropicais, como o
pacu (Piaractus mesopotamicus) e o tambaqui (Colossoma macropomum), que
apresentam grande potencial para a piscicultura, uma vez que possuem carne de
excelente qualidade, além da facilidade na adaptação de criação em cativeiro (Abimorad
& Carneiro, 2004).
A produção aquícola mundial tem crescido significativamente, atingindo a marca
de 60 milhões de toneladas em 2010. Este crescimento decorre da alta demanda por
pescado pela população, com crescimento médio anual de 6,6%, chegando a um
consumo 18,4 kg per capita/ano (The Stateof World Fisheries and Aquaculture- Sofia,
2012).
O tambaqui é o segundo maior peixe de escamas do Brasil, sendo a principal
espécie da Amazônia cultivada no país, cuja produção nacional em 2008 foi de 46 mil
toneladas (MPA, 2010b) tendo um crescimento de 66% em relação ao ano de 2007, o
que destaca o rápido crescimento desta espécie em território nacional. Segundo o
IBAMA (2008), o tambaqui é o 4º pescado mais cultivado do país, perdendo somente
para o camarão, tilápia e carpa. Entre 2003 e 2009, a produção desta espécie cresceu
123%, com taxa média anual de 14% (MPA, 2010b).
Pertencente à classe Actinopterygii, ordem Characiformes e família Characidae
(Britski, 1977), o tambaqui é um peixe de piracema nativo das bacias dos rios
Amazonas e Orinoco, com alto potencial para a aquicultura. A popularidade do
tambaqui é atribuída à facilidade de produção de alevinos, rápido crescimento,
resistência a elevadas temperaturas da água dos viveiros, ao manuseio, e baixos níveis
de oxigênio dissolvido necessário (Silva et al., 1986; Araújo-Lima & Gomes, 2005;

2
Porto, et al. 2005; Paula, 2009). Esta espécie, em situação de hipóxia, apresenta
adaptações comportamentais e fisiológicas para suportar a adversidade como: aumento
da respiração e batimento cardíaco, aumento da afinidade da hemoglobina pelo
oxigênio, redução do metabolismo e baixa taxa de crescimento (Val & Almeida-Val,
1995; Gomes et al., 2006).
Durante a década de 80 alguns pesquisadores caracterizaram o tambaqui como
tendo hábito alimentar onívoro com tendência à herbívoria, sendo ainda considerada
espécie filtradora e frugívora (Goulding et al., 1980; Carvalho et al., 1981; Flamm et al.,
1983; Machado-Allinson et al., 1982; Piedade et al., 1985; Soares et al., 1986; Goulding
& Carvalho, 1982; Saint Paul et al., 1986).
Mesmo estando em grande expansão à produção de espécies nativas, em especial
do tambaqui, os estudos são escassos sobre manejo alimentar, nutricional, reprodutivo e
comportamento desta espécie, os quais são dominados por algumas instituições de
ensino e pesquisa, e setores privados, como fábricas de ração. Mesmo assim, a
exigência nutricional especifica do tambaqui ainda não foi tabulada como já existem
relatos específicos para a tilápia no Brasil e no mundo (Furuya, 2010 e NRC, 2011).
Portanto, a criação do tambaqui depende especialmente em sistemas semi-intensivos ou
intensivos de produção e do uso de rações balanceadas e de boa qualidade, permitindo
melhor aproveitamento dos nutrientes pela espécie, já que os custos com alimentação
são relativamente altos, representando o maior percentual dos custos operacionais (em
torno de 70%).
Do ponto de vista da aquicultura sustentável, para a formulação ideal de ração
deve-se levar em consideração a digestibilidade dos ingredientes, a qual pode ser
influenciada por vários fatores, como a densidade de estocagem, a qualidade e a

3
quantidade dos alimentos, influência do sexo, idade, tamanho, tempo, frequência
alimentar e, principalmente, dos métodos de avaliação da digestibilidade.
A determinação doscoeficientes de digestibilidade aparente (CDA) dos nutrientes
é medida pela diferença (expressa como percentagem) entre a ingestão de nutrientes e a
excreção de nutrientes fecais com a utilização de marcadores indigestíveis. Sendo
assim, a melhor forma de produzir dietas nutricionalmente balanceadas, quantificando a
capacidade desses animais de digerir e assimilar os nutrientes dos alimentos. Portanto,
experimentos de digestibilidade têm fundamental importância para a quantificação de
valores nutricionais para formulação de dietas espécie-especificas nutricionalmente
balanceada.
A digestibilidade de uma dieta ou de um ingrediente pode ser determinada direta
ou indiretamente. O ambiente aquático é o grande desafio para pesquisas de
digestibilidade em peixes, pois dificulta a separação das fezes na água, a mensuração do
consumo de alimento, além da contaminação com o alimento não ingerido. O método
direto, que tem como objetivo a coleta total das fezes, não tem sido utilizado
rotineiramente para determinação dos coeficientes de digestibilidade dos alimentos para
peixes, principalmente pelo estresse ocasionado e dificuldade de coleta, apesar de
existirem técnicas adaptadas para coleta total de excretas, como: câmara metabólica
(Halver et al., 1989), sistema de filtragem contínua adaptada para a coleta total de fezes
(Choubert et al., 1979; Choubert et al., 1982) e sistema de bolsa coletora de fezes (Vidal
Junior, 2000).
No método indireto, os coeficientes de digestibilidade aparente são estimados pela
diferença de concentração de um marcador indigestível e dos nutrientes no alimento e
nas fezes, de forma que a coleta total das fezes não é necessária (Halver et al., 1989).
Contudo, a coleta das fezes pode ser efetuada de duas maneiras: a) as excretas podem

4
ser obtidas diretamente do tanque ou aquário de cultivo após a defecação (coleta com o
peixe dentro da água); b) as amostras podem ser coletadas diretamente do intestino
posterior antes de serem defecadas pelo peixe (coleta com o peixe fora da água) (Portz
et al. 2001).
A fim de evitar a lixiviação de nutrientes na água, vários autores têm ressaltado
que métodos de coleta de fezes fora do ambiente aquático, como o método de
dissecação (Smith & Lovell, 1971; Smith & Lovell, 1973; Austreng et al., 1978;
Windell et al., 1978; Henken et al., 1985), ou o método de compressão ou massagem
abdominal (Inaba et al., 1962; Nose et al., 1967; Austreng et al., 1978; Windeil et al.,
1978; Vens-Cappel et al., 1985) e de sucção anal (Lovell et al., 1977; Windell et al.,
1978; Brown et al., 1985) apresentam-se como técnicas mais adequadas, como para o
salmão (Salmo salar), que produz fezes que se dissipam facilmente na água. A
lixiviação pode ser altamente significativa no método indireto por decantação, quando
grandes instalações são utilizadas para a manutenção destes peixes, devido à distância
que os excrementos teriam de percorrer na água, antes que pudessem ser recolhidos por
decantação ou remoção física (Abimorad & Carneiro, 2004).
Porém, tais métodos requerem a manipulação frequente dos peixes, acarretando
em estresse. Além destes fatores, estes métodos de coleta podem incorrer no erro de
subestimar a digestibilidade devido aos peixes possuírem a característica de absorver os
nutrientes até a região final do intestino, ou seja, o ânus.
Outros autores criaram metódos que visavam a coleta das fezes dentro da água,
como a câmara metabólica (Smith et al.,1971), pipetagem imediata das fezes (Alliot et
al., 1978), decantação, (Cho et al., 1985) ou por filtração contínua (Choubert et al., 1979;
Choubert et al.,1982). Estes métodos, mesmo sendo eficientes em diminuir a
mortalidade e o estresse nos animais, têm como principal problema a tendência a

5
acelerar a lixiviação (De La Noiie & Choubert, 1986), exceto a filtração contínua, que é
o mais eficiente em minizar a lixiviação dos nutrientes na água.
Todos os métodos de coleta de fezes existentes apresentam vantagens e
desvantagens, particularmente em relação à facilidadeda coleta da amostra e da natureza
representativa das fezes recolhidas. No entanto, a coleta de amostras representativas de
fezes em peixes menores de 1 kg é problemática, tanto no método direto como no
indireto. Como por exemplo, a utilização de uma câmara de metabolismo (Smith et al.,
1971) é impraticável devido ao tamanho do peixe, como também o método dissecação,
devido à necessidade do sacrificio dos animais, bem como a dificuldade de coleta.
Métodos que contam coma coleta de fezes na água são propensos a
superestimativa do CDA como um resultado da lixiviação dos nutrientes a partir das
fezes (Smith et al., 1980; Brown & Robinson,1989; Spyridakis et al., 1989; Hajen et al.,
1993). Neste contexto, Cho et al.(1982) concluiram que as fezes são mais vulneráveis à
lixiviação quando os peletes fecais eram quebrados durante o processo de coleta e
quando o tempo de contato das fezes com a água é maior, entretanto, Satoh et al. (1992)
trabalhando com truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) afirmaram que o tempo de
recuperação fecal tem pouco efeito sobre a lixiviação de nutrientes.
Portanto, as técnicas de coleta de fezes podem afetar os resultados do CDA.
Windell et al. (1978) e Vens-Cappell (1985), trabalhando com truta arco-íris
(Oncorhynchus mykiss), e Abimorad e Carneiro (2004), trabalhando com pacu
(Piaractus mesopotamicus), demonstraram claramente que os valores de digestibilidade
podem variar de acordo com o método de coleta de fezes. Assim, erros inerentes aos
vários métodos devem ser quantificados, a fim de selecionar o método mais apropriado
que gerem dados mais fidedignos de digestibilidade.

6
1.2 MÉTODOS DE COLETA
A ciência da nutrição de peixes começou quase 80 anos atrás. Muitos
pesquisadores desde este tempo vem tentado avaliar a eficiência de alimentos para
peixes (Belal et al., 2005), aprimorando tecnologias, metodologias e usando técnicas
semelhantes às utilizadas para determinação de digestibilidade em animais
homeotérmicos (aves, ovinos, caprinos, bovinos, suínos, entre outros). Porém algumas
destas técnicas não poderiam ser feitas sem aceitar um nível de erro significativo devido
aos peixes viverem em ambiente diferente.
Na avaliação de alimentos para animais, é desejável ter um método rápido e
simples para a determinação da digestibilidade, e para os animais domésticos ensaios de
digestão são realizados rotineiramente. Para os peixes, o ambiente aquático dificulta a
medição do consumo de ração e separação das fezes na água.
Delmondes & Bomfim (2004), destacaram todas as metodologias de coleta de
fezes de peixes para determinação de coeficientes de digestibilidade, relatando
características e desvantagens de cada método de coleta.
Uma das metodologias mais utilizadas em trabalhos de digestibilidade é o método
caracterizado como decantação, desenvolvido por Cho et al. (1985), sendo também
chamado de Sistema “Guelph”. Consiste de tanque (s) com fundo inclinado ou
afunilado e sistema (s) de drenagem comum a uma única coluna de decantação (Anexo
I, Figura I). Os peixes são livremente alimentados neste sistema e após um período de
alimentação, as fezes são coletadas por 9-16 h. No final do período, a coluna de
sedimentação é aberta e as fezes são removidas, sendo seu principal problema a
lixiviação de nutrientes (Cho et al., 1985; Allan et al., 2000). Segundo Storebakken et
al. (1998), o método de decantação é adequado para obtenção de fezes de peixes
pequenos, porém, um número relativamente alto de unidades animais deve ser

7
considerado, já que se tratando de uma coleta com grande quantidade de água a perda
principalmente por lixiviação, é muito alta, superestimando os valores de
digestibilidade.
Mesmo sendo ainda um método muito utilizado, além do problema de lixiviação o
método de Sistema Guelph ainda tem uma desvantagem em sua metodologia, pois o
conteúdo fecal acaba ficando aderido em sua estrutura (Abimorad e Carneiro, et al.
2004), principalmente os indicadores inertes, como o óxido de crômio, não expressando
assim os valores reais de digestibilidade, já que ela é calculada de acordo com a
concentração deste indicador nas fezes.
Observando os problemas no Sistema Guelph, Choubert et al. (1982) criaram uma
nova técnica, desenvolvida com o objetivo de minimizar os efeitos estressores para os
peixes causados pelos métodos já existentes e diminuir as perdas ocorridas por
movimentação do bolo fecal, denominada coleta mecânica (Anexo I, Figura II). Neste
método, a água passa por uma tela separadora que se move através de esteira, separando
todas as fezes e depositando-as em uma caixa de coleta. Porém, neste método é
necessário equipamento especializado e um sistema de drenagem projetado
especialmente para o viveiro ou tanque (Portz et al., 2001).
Outra técnica desenvolvida para esse tipo de trabalho se trata da pipetagem direta
no fundo do tanque, desenvolvida por Watanable & Ohta (1995), onde os tanques
possuem fundo com leve declividade para acumulação das fezes em determinado ponto
para serem removidas da água através de fina mangueira de pipetagem para uma coluna
separada do tanque. Sua desvantagem está na possibilidade de maior lixiviação dos
componentes das fezes, em virtude do turbilhonamento proporcionado com a sifonagem
e pelo contato direto dos peixes com as fezes possibilitando assim o consumo das
excretas.

8
Nas técnicas de coleta com os peixes dentro da água, a lixiviação de materiais para
a água é o único erro importante, que acarreta na maior estimativa da digestibilidade
(Percival et al.,2001). Segundo Spyridakis et al. (1989), há tendência dos métodos que
utilizam material fecal naturalmente evacuado na água apresentarem valores maiores de
digestibilidade, em razão da lixiviação de nutrientes na água, como se essa fração de
nutriente tivesse sido aproveitada pelo peixe.
Observando os problemas nas metodologias existentes, técnicas de coleta de fezes
com o peixe fora da água foram desenvolvidas para superar o problema de lixiviação
através da coleta de fezes diretamente a partir do trato intestinal dos peixes.
Nose et al. (1960) desenvolveu a técnica denominada como compressão ou
massagem abdominal, onde o peixe é previamente anestesiado e as fezes são extraídas
através de uma cuidadosa compressão ventral. A desvantagem deste método é a
possibilidade de contaminação das fezes pela urina, estresse, coleta de fluídos do
intestino ou material não digerido ou absorvido, e necessidade de peixes de tamanho
superior (ao redor de 100g) na quantidade mínima de 30 animais (Nose et al.,1961;
Austreng et al., 1978; Storebakken et al., 1998; Percival et al., 2001).
Outro método testado em alguns trabalhos foi denominado sucção anal (Lovell et
al., 1977; Windell et al., 1978; Brown et al., 1985), que se trata de uma cânula
introduzida no ânus do peixe previamente anestesiado, realizando-se uma leve sucção
empregada com o auxilio de uma seringa para coleta fecal na região posterior do
intestino. A desvantagem desse método se trata do decorrente estresse provocado pela
manipulação excessiva dos peixes e coleta dos fluidos e/ou epitélio intestinal ou de
material não digerido ou absorvido (Percival et al., 2001).
A dissecação é outro método de coleta de fezes bastante utilizado, porém a
desvantagem de se ter que sacrificar os animais torna o método inviável, do ponto de

9
vista ético. Os peixes são previamente anestesiados e sacrificados, realizando corte
longitudinal sob a cavidade abdominal para a coleta do conteúdo fecal na parte terminal
do intestino. O problema desse método está relacionado com a possibilidade de ocorrer
redistribuição de material fecal no trato intestinal após a eutanásia, passando material
menos digerido para o intestino posterior, além de ser necessária uma quantidade alta de
animais para a coleta de amostras suficiente para análises (Austreng et al., 1978;
Storebakken et al., 1998; Allan et al., 1999; Percival et al., 2001). Este método pode ser
realizado sem que os peixes passem um período de adaptação à dieta, possibilitando a
utilização dos animais imediatamente após o ensaio de crescimento, quando o estresse
já não é prejudicial para o desempenho do peixe.
Cho et al.(1985), trabalhando com truta arco-iris (Oncorhynchus mykiss),
avaliaram a sucção anal, extrusão e dissecação e observaram que houve subestimação
da digestibilidade dos nutrientes por contaminação com fluido corporal, epitélio
intestinal, e as enzimas em excesso.
Henken et al. (1985) com o objetivo de comparar metodologias de coleta de fezes
com o bagre africano (Aquamonstrus devastadorus), obtiveram material para análise a
partir das seguintes técnicas: coleta total (fezes por sedimentação e sem o uso de
marcador); pela dissecação do terço final do intestino dos peixes, a partir de ração
marcada com o Cr2O3, e coleta por sedimentação também com ração marcada com o
Cr2O3. Concluíram que os valores dos coeficientes de digestibilidade obtidos pelo
último método foram mais seguros.
Portz et al. (2001) observaram que as estimativas de digestibilidade dos
ingredientes da trutas arco-íris (Oncrhynchus mykiss) obtidos a partir de análises de
fezes coletadas por decantação, teriam valores cerca de 10% inferiores aos da análise

10
das fezes coletadas diretamente do peixe, o que indica que alguns nutrientes são
lixiviados na água.
A determinação de um método de coleta de fezes eficiente e que demostre os
valores reais de digestibilidade dos nutrientes não tem só importância na piscicultura, e
sim para todos os organismos aquáticos, como relatado por Mouriño et al. (2006), que
trabalharam com diferentes métodos de coleta de fezes para determinação da
digestibilidade proteica rã-touro (Rana catesbeiana), concluíram que as informações
obtidas com uma espécie não devem ser generalizadas exatamente para outras, devido a
fatores específicos como comportamento e consistência das fezes. Portanto, novos
estudos deveriam ser realizados e podem ser tão importantes a ponto de impedir a
utilização de determinados métodos.
Desta forma, a coleta de fezes é a atividade que exige maior atenção e precisão em
experimentos de digestibilidade, independentemente da escolha do método. Em
trabalhos com a truta arco-íris, Smith et al. (1980) mostraram que significativa
quantidade de nitrogênio fecal pode ser lixiviada na água antes da coleta,
superestimando os coeficientes de digestibilidade. Portanto, um método de coleta de
fezes mais adequado para os estudos de digestibilidade em peixes é indispensável para
que se obtenha precisão nos resultados (Austreng et al., 1978; Smith et al., 1980).

11
2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABIMORAD, E.G.; CARNEIRO, D.J. Métodos de Coleta de Fezes e Determinação dos
Coeficientes de Digestibilidade da Fração Protéica e da Energia de Alimentos para o
Pacu, Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887), Revista Brasileira de
Zootecnia, v.33, n.5, p.1101-1109, 2004.
ALLAN, G.J., ROWLAND, S.J., PARKINSON, S., STONE, D.A.J., JANTRAROTAI,
W. 1999. Nutrient digestibility for juvenile silver perch Bidyanus bidyanus:
development of methods. Aquaculture 170, 131–145.
ALLAN, G.L.; PARKINSON, S.; BOOTH, M.A.; STONE, D.A.J.; ROWLAND, S.J.;
FRANCES, J.; WARNER-SMITH, R. Replacement of fish meal in diets for
Australian silver perch, Bidyanus bidyanus: I. Digestibility of alternative
ingredients. Aquaculture v.186, p.293–310, 2000.
ALLIOT, E.; PASTOREAUDT, A.; PELAEZ HUDLET, J. et al. Utilisation des farines
vègetales et des levedures cultivées sur alcanes pour I’ alimentation du bar
(Dicentrarchus labrax). In: WORLD SYMPOSIUM FINFISH NUTRITION
FISHFEED TECHNOLOGY, 1978, Hambur. Proceedings …Berlin: Heenemann,
1978. V. 2, p.229-238.
ARAÚJO-LIMA, C.A.R.M.; GOMES, L.C. Tambaqui (Colossoma macropomum). In:
BALDISSEROTTO, B., GOMES, L.C. (Org.). Espécies nativas para piscicultura
no Brasil. Santa Maria: Editora UFMS, 2005. p. 175-202.
AUSTRENG, E. Digestibility determination in fish using chromic oxide marking and
analysis of contents from different segments of the gastrointestinal
tract.Aquaculture 13, 265–272, 1978.
BELAL, I.E.H. A review of some fish nutrition methodologies. Bioresource
Technology 96, 395–402, 2005.
BRITSKI, H.A. Sobre o gênero Colossoma (Pisces, Characidae). São Paulo: Ciência
e Cultura, v.29, 1977, 810p.
BROWN, B.P,; STANGE, R.J; ROBBINS, K.R. Protein digestibility coefficients for
yearling channel catfish fed high protein feedstuffs. The Progressive Fish
Culturist, v.54, p.44-49, 1985.
CARVALHO, M.L. Alimentação do tambaqui jovem (Colossoma macropomum) e
sua relação com a comunidade zooplanctônica do Lago Grande - Manaquiri,
Solimões - AM. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia/Universidade do Amazonas, 1981. 91p. Dissertação (Mestrado em
Biologia de Água Doce e Pesca Interior) - Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia/Universidade do Amazonas, 1981.
CHO, C.Y.; COWEY, C.B.; WATANABE, T. Methodological approaches to
research and development. In: Cho, C.Y., Cowey, C.B., Watanabe, T. (Eds.),
Finfish Nutrition in Asia. IDRC, Ottawa, Canada, pp. 10–80, 1985.
CHOUBERT, G.; DE LA NOUE Jr.; LUQUET, P. Continuous quantitative automatic
collector for fish feces. The Progressive Fish Culturist, v.41, p.64-67, 1979.
CHOUBERT, G.; DE LA NOUE Jr.; LUQUET, P. Digestibility in fish: improved
device for the automatic collection of feces. Aquaculture 29, 185–189, 1982.
DE LA NOIIE, J & CHOUBERT, G. Digestibility in rainbow trout: comparison of the
direct and indirect methods of measurement. Prog. Fish Cult., 48: 190-195, 1986.
DELMONDES & BOMFIM. Fatores que afetam os coeficientes de digestibilidade nos
alimentos para peixes. Revista Eletrônica Nutritime, v.1, n°1, p.20-30, julho/agosto
de 2004. Disponível em:

12
http://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/003V1N1P20_30_JUL2004
.pdf.Acessado: 18 Agosto 2012.
FLAMM, B.R. Amazonian fruit-eating fish and the várzea forest. Journal of Forestry,
p.106-108, 1983.
FURUYA, W.M. Tabelas brasileiras para a nutrição de tilápias. (2010). Disponível em:
http://blog.projetopacu.com.br/wpcontent/uploads/tabelas_brasileiras_para_a_nutric
ao_de_tilapias.pdf. Aceso: 25 de set 2012.
GOMES, L.C.; CHAGAS, E.C.; MARTINS-JUNIOR, H. et al. Cage culture of
tambaqui (Colossoma macropomum) in a central Amazon floodplain lake.
Aquaculture, v.253, p.374-384, 2006.
GOULDING, M. The fish and the forest - Explorations in Amazonian natural history.
California: University of California, 1980. 280p.
GOULDING, M.; CARVALHO, M.L. Life history and management of the tambaqui
(Colossoma macropomum, Charachidae). An important Amazonian food fish.
Revista Brasileira de Zoologia, v.1, p.107-133, 1982.
HAJEN, W.E. et al. Digestibility of various feedstuffs by post-juvenile chinook salmon
(Onchorhynchus tshawytscha) in sea water. 1. Validation of technique.
Aquaculture, Amsterdam, v. 112, p. 321-332, 1993.
HALVER, J.E. Fish nutrition. San Diego Acedemic Press.2 ed. 1989. 798p.
HENKEN, A.M. et al. The effect of feeding level on apparente digestibility of dietary
dry mater, crude protein and gross energy in the African catfish (Clarias gariepinus).
Aquaculture, Amsterdam, v. 51, p. 1-11, 1985.
IBAMA. Estatística pesqueira. Disponível em:
http://www.ibama.gov.br/rec_pesqueiros/index.php?id_menu=100. Acesso em
03/05/2012.
INABA, D. et al. Digestibility of dietary components in fishes. 1 - Digestibility of
dietary proteins and starch in rainbow trout. Bull. Japan. Soc. Sci. Fish. Hakodate, v.
28, n. 3, p. 367-371, 1962.
KUBITZA, F. Coletânea de informações aplicadas ao cultivo do tambaqui, do pacu e de
outros peixes redondos. Panorama da Aquicultura. Rio de Janeiro, v.14, n.82, p.
49-55, mar/abr. 2004a.
LOVELL, R.T. Digestibility of nutrientes in feedstuffs for catfish. In: Stickney R.R. e
Lowell, R.T. (Ed.), Nutrition and Feeding of channel catfish. Southern
Cooperative Serial Bulletin, v.218, p.33-37. 1977
MACHADO-ALLINSON, A. Studios sobre la subfamília Serrasalminae (Teleostei,
Characidae). Parte 1. Estudio Comparado de los juveniles de las “cachamas” de
Venezuela (Genero Colossoma y Piaractus). ActaBiologicaVenezoelana, v.11,
n.3, p.1-101, 1982.
McGOOGAN, B. B.; REIGH, R. C. Apparent digestibility of selected ingredients in red
drum (Sciaenops ocellatus) diets. Aquaculture, v. 141, n. 3-4, p. 233-244, 1996.
MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA - MPA. Produção pesqueira e aquícola:
estatística 2008-2009. Brasília, DF, 2010b. 30p. Disponível em:
http://www.mpa.gov.br/mpa/seap/Jonathan/mpa3/dados/2010/Docs/Caderno%20Co
nsolidação%20dos%20dados%20estatiscos%20final%20curvas%20-20comple
to.pdf. Acesso: 16 de setembro de 2012.
MOURIÑO & STÉFANI. Avaliação de métodos de coleta de fezes para determinação
da digestibilidade protéica em rã-touro (Rana catesbeiana). Ciência Rural, Santa
Maria, v.36, n.3, p.954-958, maio-junho 2006.

13
NOSE, T. Determination of nutritive value of food protein on fish: I. On the
determination of food protein utilization by caracass analysis. Bull. Freshwater Fish.
Res. Lab.11, p.29-42, 1961.
NOSE, T. On the digestion of food protein by goldfish (Carassiu sauratusL.) and
rainbow trout (Saimo irideus g.). Bull. Freshwater Fish.Res. Lab.10, p.11-22, 1960.
NOSE, T. On the metabolic fecal nitrogen in young rainbow trout. Bulletin Freshwater
Fish. v.17. n.2 p.97-105. 1967.
NUNES, C. S. Avaliação do valor nutricional de fontes de proteína. II – Metodologia in
vivo aplicável aos animais monogástricos e aos teleósteos. Revista Portuguesa
Ciências Veterinárias, v. 91, n. 519, p. 144-151, 1996.
PAULA, F.G. de. Desempenho do tambaqui (Colossoma macropomum), de pirapitinga
(Piaractus brachypomum), e do híbrido tambatinga (C. macropomum x P.
brachypomum) mantidos em viveiros fertilizados, na fase de engorda. 2009. 57p.
Dissertação (Mestrado) -Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
PERCIVAL, S.B.; LEE, P.S.; CARTER, C.G. Validation of a technique for determining
apparent digestibility in large (up to 5 kg) Atlantic salmon Salmosalar L. in
seacages. Aquaculture 201 (3-4), 315–327, 2001.
PIEDADE, M.T.F. Ecologia e biologia reprodutiva de Astrocaryum jauari (como
exemplo de população adaptada às áreas inundáveis do Rio Negro Igapó).
Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Universidade do Amazonas,
1985. 187p. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia/Universidade do Amazonas, 1985.
PORTO, M.S.A. Indicadores de estresse em peixes da Amazônia: sensibilidade em
face do tipo de estressor. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto
Nacional de Pesquisa da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Manaus,
2005. 38 f.
PORTZ, L. Recentes avanços na determinação das exigências e digestibilidade da
proteína e aminoácidos em peixes. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ZOOTECNIA, 38., 2001, Piracicaba. Anais... Piracicaba, 2001. CD-ROM.
Palestras.Semi 36.
SAINT-PAUL, U. Potential for aquaculture of South American freshwater fishes: a
review. Aquaculture, v.54, p.205-240, 1986.
SATOH, S., CHO, C.Y., WATANABE, T. Effect of faecal retrieval timing on
digestibility of nutrients in rainbow trout diet with the Guelph and TUF feces
collection systems. Nippon Suisan Gakkaishi, v. 58, p.1123–1127, 1992.
SILVA, I.A.M.; PEREIRA – FILHO, M.; OLIVEIRA – PEREIRA, M.I. Frutos e
sementes consumidos pelo Tambaqui, Colossoma macrompum (Cuvier, 1818)
incorporados em rações. Digestibilidade e velocidade de trânsito pelo trato
gastrointestinal. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.32, n.6, p. 1815-1824,
2003ª (Supl.2).
SILVA, J.W.B.; CAMINHA, M.I.O.; NOBRE, M.I.S.; BARROS-FILHO, F.M.
Resultados de um ensaio sobre o cultivo do híbrido do tambaqui, Colossoma
macropomum CUVIER, 1818, com a pirapitinga C. brachypomum CUVIER, 1818,
realizado no centro de pesquisa ictiológico “Rodolpho Von Ihering” (Pentecostes,
Ceará, Brasil). Ciência Agronômica. Fortaleza, v.17, n.2, p.7-18, dez. 1986.
SMITH, B.W. & LOVELL, R.T. Digestibility of nutrients in semipurifed rations by
channel catfish in stainless steel troughs. Proceedings Annual Conference Southeast
Association Game Fish Community, v.25, p.425-459, 1971.

14
SMITH, B.W.; LOVELL, R.T. Digestibility of apparent protein digestibility in feed for
channel catfish.Transactions of the American Fisheries Society, v.4, p.830-835,
1973.
SMITH, R.R; PETERSON, M.C.; ALLRED, A.C. Effect of leaching on apparent
digestion coefficients of feedstuffs for salmonids. The Progressive Fish Culturist,
v.42, n.2, p.195-199, 1980.
SOARES, M.G.M.; ALMEIDA, R.G.; JUNK, W.J. The trophic status of the fish fauna
in Lago Camaleão, a macrophyte dominated floodplain lake in the middle Amazon.
Amazoniana IX, v.4, p.511-526, 1986.
SPYRIDAKIS, P.; METAILLER, R.; GABAUDAN, J. et al. Studies on nutrient
digestibility in European sea bass (Dicentrarchus labrax). 1. Methodological
aspects concerning faeces collection. Aquaculture, v.77, p.61-70, 1989.
THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE – SOFIA, 2012 [on
line].In: FAO – Fisheries and Aquaculture Department, Roma, 2010. 218 p.
Disponível em: http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e.pdf. Acesso em: 17
setembro 2012.
VAL. A.L.; VAL-ALMEIDA, V.M.F. Fishes of the Amazon and their environment:
physiological and biochemical aspects. Springer: Heidelberg, 1995, 224p.
VENS-CAPPELL, B. methodical studies on digestion in trout. 1. Realiability of
digestion coefficients in relation to methods for faces collection. Aquaculture
Engineering, v.4, p.33-49, 1985.
VIDAL JUNIOR, M. V. Técnicas de determinação de digestibilidade e
determinação da digestibilidade de nutrientes de alimentos para tambaqui
(Colossoma macropomum). Viçosa, MG: UFV. 96p. Tese (Doutorado em
Zootecnia). Universidade Federal de Viçosa. 2000.
WATANABE, T.; OHTA, M. Digestible and metabolizable energy of various diets for
carp and rainbow trout. Fisheres Science v.61, n.2, p.215-222, 1995.
WINDELL, J.T.; FOLTZ, J.W.; SAROKAN, J.A. Methods of fecal collection and
nutrient leaching in digestibility studies. Progressive Fish Culturist 49, 51–55,
1978.

15
CAPÍTULO 2 - DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE FEZES SOBRE OS
COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE PARA O TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)
2.1 RESUMO
O presente estudo teve como objetivo determinar o melhor método de coleta de
fezes do tambaqui, comparando os métodos de decantação em diferentes tempos de
coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) e o método de dissecação. Foram utilizados oitenta
juvenis de tambaqui (167,54±6,71g), distribuídos em quatro tanques experimentais.
Após a coleta de fezes pelo método de decantação, os peixes foram sacrificados depois
de receberem cinco refeições com intervalos de duas horas um dia antes do sacrifício,
sendo o material fecal recolhido após os cecos pilóricos. As variáveis avaliadas foram
coeficiente de digestibilidade aparente da proteína bruta (CDAPB), matéria seca
(CDAMS), fósforo (CDAP) e da energia bruta (CDAEB). Conclui-se que o CDAPB dos
tempos de coleta por decantação não tiveram diferença, porém em comparação entre os
métodos, o CDAPB foi menor no método de dissecação. Houve diferença significativa
(P<0,05) para CDAP, CDAMS e CDAEB entre os tempos de coleta pelo método de
decantação, como também na comparação entre os métodos de decantação e dissecação.
Pode-se concluir que os CDAs obtidos pelo método de dissecação foram inferiores a
todos os tempos de coleta do método de decantação, exceto para o fósforo,
comprovando assim a possível influência do método nos CDAs. No método de
decantação o tempo mais indicado para a coleta de fezes foi de 60 minutos após a
primeira queda do grânulo fecal, com base na menor lixiviação de nutrientes das fezes.
Palavras-chave: decantação, dissecação, lixiviação, nutrição, tempo de coleta.

16
2.2 ABSTRACT
The present study aimed to determine the best faeces collection method for
tambaqui by comparing the sedimentation method at different sampling times (60, 120,
240 and 480 minutes) and the dissection method. Eighty tambaqui juveniles (167,54±
6,71g) were randomly stocked into four experimental aquaria. After the collection of
faeces by sedimentation, fishes were sacrificed after receiving five meals with intervals
of two hours a day before the sacrifice, and fecal material being collected after the
pyloric caeca. The variables evaluated were apparent digestibility coefficients of crude
protein (ADCCP), dry matter (ADCDM), phosphorus (ADCP) and gross energy (ADCGE).
ADCCP were not affected by sampling time in the sedimentation method. However,
ADCCP were lower in the dissection method compared to sedimentation. There were
significant differences (P <0.05) for ADCP, ADCDM and ADCGE between sampling
times in sedimentation method. Similarly, differences were observed between the two
methods evaluated. Regardless the ADCP, ADCs of nutrients obtained by dissection
were lower than the ADCs obtained at all sampling times of sedimentation method,
indicating that care must be taken when faeces are collected by dissection. In the
sedimentation method, the proper sampling time to reduce influences by nutrient
leaching in faeces is 60 minutes after the first drop of fecal granule.
Keywords: sedimentation, dissection, leaching, nutrition, time of collection

17
2.3 INTRODUÇÃO
Várias metodologias têm sido utilizadas para determinar os coeficientes de
digestibilidade dos nutrientes em ingredientes e rações para peixes. Dentre os métodos
mais empregados, destacam-se: a) pipetagem direta no fundo do tanque (Watanable &
Ohta, 1995), b) filtragem contínua (Choubert et al., 1979), c) coleta mecânica (Choubert
et al., 1982), d) decantação (Cho et al., 1985), e) extrusão (Nose et al., 1960), f) sucção
anal (Lovell et al., 1977) e g) dissecação (Austreng et al., 1978).
Trabalhos recentes (Delmondes & Bomfim, 2004), têm demonstrado preocupação
com o estresse a que são submetidos os peixes independente do método utilizado, e
principalmente sobre a confiabilidade de cada método, já que problemas como
contaminação das fezes e lixiviação dos nutrientes podem interferir nos valores reais
dos coeficientes de digestibilidade dos alimentos contidos nas dietas.
Estudos sobre a digestibilidade da proteína, energia, matéria seca e de minerais
dos principais produtos e subprodutos produzidos no Brasil utilizados na elaboração de
rações são de fundamental importância nos aspectos nutricional e econômico,
resultando em maior precisão no balanceamento das dietas para organismos aquáticos.
Portanto, para determinar a exigências de peixes, e principalmente do tambaqui
(Colossoma macropomum), é fundamental que se conheça o nível de aproveitamento
dos ingredientes da dieta.
Experimentos de digestibilidade realizados com peixes, especialmente com o
tambaqui (principal espécie nativa do Brasil), ainda são escassos, principalmente no que
diz respeito ao método de coleta que minimize o efeito do ambiente aquático nos dados
de digestibilidade dos nutrientes. Devido à importância desta espécie para aquicultura
nacional e o reduzido volume de trabalhos que avaliem um método preciso de
determinação da digestibilidade dos nutrientes para o tambaqui. Desta forma, o presente

18
trabalho teve como objetivo determinar a lixiviação dos nutrientes das fezes do
tambaqui e qual o melhor tempo de coleta de fezes. Assim como, comparar dois
métodos de coleta distintos (decantação e dissecação).
2.4 MATERIAL E MÉTODOS
2.4.1 Área e animais experimentais
O experimento foi conduzido na Pontifícia Universidade Católica de Goiás –
PUC- Campus II, Goiânia, no Laboratório de Produção de Organismos Aquáticos -
LAPOA, nos períodos de janeiro a maio de 2012 com duração do período experimental
de 30 dias mais sete dias de período de adaptação.
Foram utilizados 80 juvenis de tambaqui com peso médio inicial de
167,54±6,71g, provenientes do setor de piscicultura da UFG, Campus Samambaia –
Goiânia – GO, onde foi realizada a alevinagem em tanques escavados. Antes do
alojamento, os peixes foram tratados com banhos profiláticos de imersão em
permanganato de potássio (KMnO4), com a diluição de um grama/50L de água, onde
os peixes permaneceram por uma hora segundo a recomendação de Pavanelli (1998).
Após o banho profilático, os peixes foram anestesiados com uma solução de
benzocaína (ethyil-p-aminobenzoato) na proporção de 100mg/L de água (Roubach, et
al. 2001) para efetiva pesagem dos grupos, que foram distribuídos aleatoriamente em
grupos de 20 peixes em quatro aquários com capacidade para 310L cada, abastecidos
com água de poço artesiano, termostatizados e com aeração constante por turbina de ar,
instalados em sistema de recirculação fechado (Anexo 2, Figura 1), sendo a vazão de
água das caixas reguladas para 2,5L/min., e troca diária de 30% da água do sistema.
Estas caixas foram utilizadas somente para alimentação dos peixes.

19
A água era proveniente de poço artesiano, sendo tratada por filtros físicos,
ultravioleta e biológico antes de retornar às caixas. Os parâmetros de qualidade de água
como temperatura, oxigênio dissolvido e pH foram monitorados diariamente com
auxílio de oxímetro digital e pHmetro, e, semanalmente, monitorados amônia, nitrito e
nitrato por kit comercial (Alfakit®). A temperatura da água dos aquários foi mantida
dentro da faixa de conforto para a espécie (27,0 ± 2,0ºC), sendo aferida às 8:00 e 16:00
horas.
2.4.2 Dieta experimental
A dieta experimental foi confeccionada com ingredientes convencionais de forma
a atender as exigências nutricionais da espécie, com 28%PB g/kg-1
e 4.300 cal/g/ EB
(Tabela 1). Os valores digestíveis da proteína e da energia de cada alimento foram
calculados de acordo com os valores de coeficiente de digestibilidade aparente obtidos
para tilápia por Pezzato et al. (2002) e Guimarães (2008). Os ingredientes foram moídos
em moinho de facas, com peneira apresentando diâmetro menor que 0,5mm,
posteriormente foram homogeneizados em misturador automático, e para confecção dos
grânulos experimentais a mistura recebeu cerca de 40% de água com temperatura de
aproximadamente 65ºC, sendo assim imediatamente granulada por meio de um moinho
de carne, empregando-se matrizes para obtenção de grânulos com os diâmetros de
3,5mm. Após a peletização, os grânulos foram desidratados a 55,0ºC por 24 horas em
estufa com circulação de ar forçada, posteriormente, trituradas e o tamanho do grânulo
ajustado ao tamanho da boca do peixe, sendo armazenados por resfriamento a -5,0ºC.

20
Tabela 1. Composição percentual e proximal da ração experimentala
Ingredientes g kg-1
Farelo de Soja 490
Farinha de Peixe 50
Fubá de Milho 270
Farelo de Trigo 60
DL-metionina 1
Cr2O3 1
Óleo de Soja 65
Fosfáto Bicálcico 56
Vitamina C 0.8
Sal Comum 1
Premix Vitamínicob 5
BHTc 0.2
Total 1000
ª 28%PB g/kg-1 e 4.300 cal/g/ EB; bPremix vitamínico, níveis de garantia por kg da dieta: vitamina A, 16060 UI; vitamina D3, 4510 UI;
vitamina E, 250 UI; vitamina K, 30 mg; vitamina B1, 32 mg; vitamina B2, 32 mg; pantotenato de
cálcio, 80 mg; niacina, 170 mg; biotina, 10 mg; ácido fólico, 10 mg; vitamina B12, 32 µg; vitamina
B6, 32 mg.cAntioxidante Butil Hidroxitolueno.
2.4.3 Metodologia para coleta de fezes pelo método de decantação
Foi avaliada a digestibilidade da matéria seca, proteína, energia bruta e do
fósforo de uma dieta referência para o tambaqui de acordo com o procedimento descrito
por Guimarães et al. (2008), em que os peixes são alimentados em aquários fora do
sistema coletor de fezes.
Cada grupo de 20 peixes foi considerado uma unidade experimental, totalizando
quatro repetições. Estes quatro grupos de peixes foram transferidos dos aquários de
alimentação para os aquários de coletas por um período de cinco dias, necessário para
obtenção de amostras suficientes para realização das análises. Os tratamentos foram:
(T1) primeiro período (60 min. após a primeira sedimentação dos péletes fecais); (T2)
segundo período (120 min. após sedimentação dos primeiros péletes fecais); (T3)
terceiro período (240 min. após sedimentação dos primeiros péletes fecais); (T4) quarto

21
período (480 min. após sedimentação dos primeiros péletes fecais). A coleta ocorreu no
período noturno após os peixes terem recebido ração durante o dia.
Os peixes foram alimentados três vezes ao dia, próximo à saciedade, nos
horários de 8:00, 12:00 e 16:00, durante os sete dias de adaptação. No dia de coleta a
frequência foi elevada para quatro vezes (9h, 11h, 14h e 17h). Em seguida, com auxílio
de puçá, os 20 peixes de cada grupo, eram transferidos para os quatro aquários de
coleta, permanecendo das 18h00min até 8h00min do dia seguinte.
O sistema de coleta de fezes, com capacidade para 200L de água, apresentando
formato cônico, que possibilitam a coleta das fezes por gravidade, as quais
sedimentavam em recipiente de rosca acoplado a um registro de esfera no fundo de cada
aquário (Anexo 2, Figura 3, e 5). Os mesmos eram equipados com termostatos
regulados para 28ºC e mangueiras acopladas com pedras porosas para aeração, por
turbina de ar comprimido.
Esta transferência possibilitou a obtenção de fezes sem contaminação por
sobras de ração ou acúmulo de nutrientes na água dos aquários de coleta, pois se
realizava sifonamento das caixas de alimentação antes da transferência e descartavam-se
os sedimentos dos coletores de fezes após 30 minutos de permanência dos peixes nos
coletores. Toda a água utilizada nos aquários de coleta foi substituída para evitar
contaminação nas coletas seguintes.
Após a sedimentação dos primeiros grânulos fecais era observado o horário para
marcar o tempo de coleta (tratamentos) assim, realiza-se o fechamento do registro e
retirada do recipiente de acrílico, retirando-se o excedente de água e transferindo para
recipientes de vidro estéreis devidamente identificados com os horários da primeira
visualização das fezes e do horário da retirada (correspondente ao tratamento) e
simultaneamente das quatro unidades experimentais (Anexo 2, Figuras 4 e 6), e

22
imediatamente as amostras eram conservadas em freezer (-20ºC). Com a obtenção de
três pools de amostras por tratamento, realizou-se a pré-secagem (65 ºC) e as amostras
de fezes foram moídas com pistilo de vidro separadamente, sendo retiradas escamas
com auxílio de pinça.
Foram obtidas quatro amostras de fezes de cada tratamento por unidade
experimental, das quais foi avaliado o teor de proteína bruta (PB), energia bruta (EB),
crômio e do fósforo, determinando a digestibilidade da PB, matéria seca, energia e
disponibilidade de fósforo pelo tambaqui.
2.4.4 Metodologia de coleta de fezes pelo método de dissecação
Esta etapa do experimento ocorreu após o período de coleta de fezes por
decantação. Os peixes de todos os grupos passaram por um período de reabilitação de
cinco dias recebendo a dieta sem manejo que promovesse estresse e comprometesse o
trânsito gastrointestinal. Após esse período, intensificou o fornecimento da dieta
recebendo 6 refeições com intervalos de 2 horas um dia antes do sacrifício. No dia do
sacrifício, os animais foram novamente alimentados para estimulação do bolo fecal 2
horas antes do sacrifício. A eutanásia dos peixes foi realizada por meio de
aprofundamento do plano anestésico com alta dose de benzocaína e corte da medula,
posteriormente eviscerados e o trato digestório dissecado cuidadosamente para a
retirada do material fecal após os cecos pilóricos. As fezes foram identificadas e
congeladas para posterior análise como descrito anteriormente (Anexo 2, Figura 7, 8 e
9).
2.4.5 Cálculo dos CDAs e análises químicas
Os CDAs foram determinados por meio do método de coleta parcial de fezes,
utilizando-se o óxido de crômio como indicador inerte na concentração de 0,1%, crômio

23
recomendado por Bremer-Neto et al. (2005). Após a realização da análise quantitativa
do óxido de crômio, e de posse dos valores de proteína e energia presentes nas dietas e
nas fezes, os CDA dos nutrientes foram calculados pela fórmula proposta por Nose
(1966):
CDA (%) = 100–100
%Cr2O3 na dieta
X
% de nutrientes ou EB nas fezes
% Cr2O3 nas fezes % de nutrientes ou EB na dieta
A determinação da digestibilidade da matéria seca foi efetuada de acordo com a
fórmula apresentada abaixo:
CDA MS (%) = 100 x (1 - % Cr2O3 na dieta / % Cr2O3 nas fezes)
As análises químico-bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Solos e
Limnologia da PUC-GO e no Laboratório de Bromatologia do Departamento de
Produção Animal da Escola de Veterinária – UFG, Campus Samambaia, segundo os
protocolos do A.O.A.C. (1995), sendo a proteína pelo método de Kjeldhal, o fósforo e
crômio por espectrofotometria de luz a 420 e 550 mm, respectivamente. A concentração
de crômio nas rações e nas fezes foram realizadas de acordo com Bremer-Neto et al.
(2005) A energia foi determinada com bomba calorimétrica realizada pelo Laboratório
de Enzimologia e análises bromatológicas do Instituto de Química e Biotecnologia da
UFAL,
2.4.6 Delineamento experimental e análise estatística dos dados
O delineamento estatístico utilizado no experimento foi o inteiramente
casualisado com cinco tratamentos (métodos de coleta e tempo de coleta) e quatro
repetições. Os resultados dos estudos foram avaliados por meio da técnica da análise de

24
variância e, quando significativo, foi aplicado o teste de comparações múltiplas de
médias de Student Newman Kews (SNK). Para determinar o comportamento das
variáveis frente aos diferentes períodos de coleta, foi utilizada a análise de regressão,
excluindo para esta análise os dados do método de dissecação. Todas as análises foram
realizadas utilizando o procedimento GLM do pacote computacional SAS, ao nível de
5,0% de significância.
2.5 RESULTADOS
Os valores médios dos coeficientes de digestibilidade aparente das fezes do
tambaqui sobre diferentes tempos de coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método
de decantação e dissecação estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Valores médios de coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes
obtidos pelos métodos de dissecação e decantação para o tambaqui1
Métodos de
coleta
Coeficientes de Digestibilidade2
CDAMS
(%)
CDAPB
(%)
CDAP
(%)
CDAEB
(%)
Dissecação 68,62 ± 2,61 d 86,77 ± 1,27 b 54,21 ± 3,37 a 70,45 ± 1,14 d
Decantação
60 min 77,64 ± 2,06 a 89,84 ± 1,36ab 19,59 ± 2,83 d 84,62 ± 0,93 a
120 min 75,81 ± 0,99 ab 91,10 ± 1,33 a 39,56 ± 2,51 b 82,72 ± 0,54 ab
240 min 72,82 ± 2,13 bc 87,71 ± 1,93 ab 30,38 ± 3,01 c 78,57 ± 1,91 c
480 min 71,11 ± 2,41 dc 90,74 ± 2,51 a 59,34 ± 3,25 a 81,15 ± 2,60 b
Linear P < 0,0001 ns P < 0,0001 ns
Quadrático P < 0,0001 ns ns P < 0,0001
1 Teste linear e quadrático apenas avaliado nos intervalos de coleta do método de decantação
ns – Não significativo ao nível de 5% de probabilidade, SNK
2Coeficiente de digestibilidade aparente da proteína bruta (CDAPB), fósforo (CDAP), matéria seca (CDAMS) e energia bruta
(CDAEB).
Neste trabalho, os métodos de coleta e o tempo de permanência das fezes na água
no método de decantação influenciaram significativamente os coeficientes de

25
digestibilidade (P<0,05). Os modelos de regressão linear e/ou quadrático se ajustaram à
maioria dos dados apresentando coeficientes de determinação (R2) acima de 0,6.
O CDAMS no método de decantação apresentou efeito quadrático de acordo com
os diferentes intervalos de coleta de fezes (P<0,01), com redução dos valores de
CDAMS. Com base na equação de regressão e no comportamento das variáveis, pode-se
observar tendência de estabilização no CDA da MS após 400 minutos (Gráfico 2). O
método de dissecação apresentou o menor valor de CDAMS (68,62%) entre os
parâmetros avaliados, entretanto não diferiu do intervalo de coleta de 480 min
(71,11%).
Gráfico 2. Coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca nas fezes do tambaqui sobre diferentes tempos de
coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método de decantação.
O CDAPB não foi influenciado pelos diferentes períodos de coleta no método de
decantação (P>0,05). Entretanto, quando os períodos de permanência das fezes na água
foram comparados com os valores de CDAPB do método de dissecação, foi observada
diferença apenas entre os intervalos de 120 e 480min que obtiveram os CDA maiores.
0 100 200 300 400 500 600
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Y =79.95833-0.04074 X+4.64531E-5 X2
R2 = 0.998
CD
A d
a m
até
ria
se
ca
(%
)
Intervalos de coleta (minutos)

26
Os valores do CDAP no último horário de coleta por decantação (480 minutos)
(59,34%) não diferiu do método de dissecação (54,21%) (P<0,05). Foi observado,
ainda, efeito linear positivo dos diferentes intervalos de coleta sobre o CDA do P
(Gráfico 1).
Gráfico 1. Coeficientes de digestibilidade aparente do fósforo nas fezes do tambaqui sobre diferentes tempos de
coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método de decantação.
Os intervalos de coleta de fezes influenciaram o CDAEB de maneira quadrática
(P<0,01). O CDAEB reduziu de acordo com o aumento dos intervalos de coleta até 314
min, aumentando gradativamente após este tempo. O método de dissecação apresentou
o menor CDAEB (70,45%), comparado com os valores obtidos nos diferentes intervalos
do método de decantação (P<0,05) (Gráfico 3).
0 100 200 300 400 500 600
20
30
40
50
60
Y = 19.3887 + 0.007924x
R2 = 0.873
CD
A d
o f
ósfo
ro (
%)
Intervalos de coleta (minutos)

27
Gráfico 3. Coeficientes de digestibilidade aparente da energia bruta nas fezes do Tambaqui sobre diferentes tempos
de coleta (60, 120, 240 e 480 minutos) pelo método de decantação.
2.6 DISCUSSÃO
Os métodos de determinação da digestibilidade são utilizados pelos nutricionistas
como forma de avaliar o valor nutricional dos alimentos, sendo ferramenta importante
para a seleção de ingredientes que possam compor a dieta, e ainda, um dado
extremamente importante quando se pretende formular dietas ambientalmente corretas.
Entretanto, dependendo do método de coleta de fezes utilizado para avaliação da
digestibilidade, pode apresentar maior ou menor discrepância dos resultados.
Apesar da importância da digestibilidade, poucos são os estudos que avaliam
essas metodologias para espécies de peixes nativas do Brasil ou da América Latina,
principalmente o tambaqui. Até o presente momento, apenas três trabalhos contribuíram
para a determinação da digestibilidade e a velocidade de trânsito pelo trato
gastrointestinal do tambaqui (Silva et al., 1999; Silva et al., 2000; Silva et al., 2003).
Portanto, a utilização de referências metodológicas de coleta de fezes para o tambaqui
são baseadas em atribuições a diferentes espécies de peixes. Segundo Mourinõ et al.
0 100 200 300 400 500 600
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Y =88.45-0.06473 X+1.03002E-4 X2
R2 = 0.975
CD
A d
a e
ne
rgia
bru
ta (
%)
Intervalos de coleta (minutos)

28
(2006), Informações obtidas com uma espécie não devem ser generalizadas exatamente
para outras, devido a fatores específicos como comportamento e consistência das fezes.
Novos estudos deveriam ser realizados a ponto de evitar a utilização de determinados
métodos, e apontar metodologias que comprovem de forma fidedigna os CDA dos
nutrientes (proteína, matéria seca, energia bruta e fósforo) com uma maior precisão para
a formulação de dietas especificas para o tambaqui.
É possível observar uma queda dos valores de CDA da MS à medida que o tempo
de coleta foi aumentado, afirmando assim, a influência do tempo de coleta sobre o teor
de matéria seca das fezes. Este resultado está diretamente relacionado com a
concentração de crômio nas fezes, que foi diminuindo gradativamente no conteúdo
fecal. Este fato pode ser explicado pelo possível efeito residual do crômio no recipiente
coletor de fezes, já que este não era lavado entre uma coleta e outra. Essa possibilidade
foi relatada por Percival et al. (2001) que observaram que o crômio apresenta afinidade
por materiais plásticos e acrílicos, podendo assim interferir nos valores de
digestibilidade.
O CDAMS da dissecação (68,62%) foi menor que o encontrado para o CDA da MS
pelo método de decantação. Esse resultado pode ser explicado pelo fato do alimento não
ter sido completamente digerido e absorvido dentro do trato digestório, conforme
relatado por Austreng et al. (1978).
Comparando-se com os resultados de digestibilidade da proteína da dieta obtida
pelo método de decantação em relação ao método de dissecação, os valores
apresentaram-se pouco divergentes. Por outro lado, os valores médios sugerem que, no
sistema de decantação de fezes os intervalos de coleta podem não influenciar nos
valores de CDAPB, sendo esse nutriente pouco influenciado pela lixiviação. Entretanto
observou-se uma redução do valor médio do CDAPB do método de dissecação em

29
comparação aos valores médios do método de decantação. Resultado que pode ser
atribuído segundo Inaba et al. (1962) ao nitrogênio presente nas fezes, proveniente de
enzimas digestivas ou de células da descamação da parede do intestino e, ainda, do
alimento que seria digerido ao longo do trato digestório. Assim, este fato pode explicar
os menores valores de CDAPB que reduz o valor de digestibilidade da proteína bruta.
No presente estudo, quanto maior o intervalo de coleta, maior o CDA do fósforo,
comprovando assim que este elemento, por ser um mineral solúvel (Gillis et al.,1962;
Sullivan et al., 1992) pode sofrer influência do tempo de coleta, aumentando a
lixiviação do mesmo para a água.
Os dados do CDAP foram similares no método de dissecação e no método de
decantação no intervalo de 480 min. Estes resultados não podem ser explicados
logicamente, já que, é bem conhecido que o aumento da permanência das fezes na água
promove maior lixiviação de compostos solúveis, aumentando desta forma o CDA dos
nutrientes (Potrich, 2011; Bueno, 2011; Diemer et al., 2011). Entretanto, o fósforo
apresentou maior digestibilidade quando coletado no trato digestório, fato este, que não
era esperado.
O fósforo é absorvido tanto em processo passivo como ativo nos peixes,
entretanto, seu local de absorção varia entre as espécies, podendo ocorrer ao longo de
todo o trato digestório, assim como em compartimentos especializados como nos cecos
pilóricos dos salmonídeos (Sugiura & Ferraris, 2004; Hua & Bureau, 2010). A alta
digestibilidade observada no método de dissecação pode estar relacionada com uma
eficiente absorção deste mineral nos cecos pilóricos do tambaqui, entretanto são
necessários maiores estudos sobre a fisiologia digestiva desta espécie para confirmar
esta hipótese. Deve-se ressaltar, ainda, que devido ao pequeno volume de fezes
produzidos pelos peixes no período de 60 min de permanência na água possa ainda ter

30
afetado a concentração de crômio nas fezes coletadas, podendo indicar que este
marcador possa não ser um indicador adequado para estudos de digestibilidade com o
tambaqui, ou mesmo que o nível de 0,1% de crômio nas dietas não seja o mais
adequado.
A energia bruta está relacionada diretamente com à concentração de compostos
orgânicos presentes nos alimentos, ou seja, proteína, lipídeos e carboidratos que
compõem a matéria seca. Estes compostos apresentam diferentes graus de combustão,
os quais fornecem energia em maior ou menor grau aos animais. Portanto, o CDA da
MS possui alta correlação com o CDA da EB. Desta forma, a redução no CDA da EB
com o aumento do tempo de coleta de fezes apresentou comportamento similar aos
dados do CDA da MS do presente estudo. Entretanto, uma leve diferença no
comportamento das variáveis foi observada após 314 min, com o aumento no CDA da
EB (Gráfico 3). Este fato pode estar relacionado com a possível lixiviação de alguns
compostos que não foram avaliados, como lipídeos e carboidratos, reduzindo o teor de
EB nas fezes e assim, aumentado o CDA da EB.
Neste estudo foi observado que os diferentes métodos de coleta de fezes avaliados
apresentaram baixos coeficientes de variação, indicando a possibilidade de utilização
destas metodologias para a coleta de fezes do tambaqui. Como pode ser observado, o
tambaqui apresenta fezes de formato granular sem cobertura mucosa. Este fato inerente
à espécie pode influenciar os resultados de digestibilidade, pois a perda dos compostos
orgânicos pode ser maior pela estrutura física das fezes.
Todos os nutrientes estão sujeitos ao processo de lixiviação quando as fezes
permanecem por curtos períodos no corpo aquático. Este fato pôde ser observado com
diversas espécies de peixes como tilápia do Nilo, truta, salmão, pacu, e peixes
siluriformes (De La Noue&Choubert, 1986; Hajen et al., 1993a; Watanabe et al.,1996;

31
Storebakken et al., 1999; Pezzato et al., 2002; Abimorad & Carneiro, 2004) e também
em anfíbios, como descrito por Mourinõ et al. (2006) que trabalharam com diferentes
métodos de coleta de fezes para determinação da digestibilidade protéica em alimentos
para rã-touro (Rana catesbeiana). Afirmaram que as diferentes metodologias
influenciaram os valores dos coeficientes de digestibilidade aparente da fração protéica
da dieta.
Silva et al. (1999) não encontraram diferenças significativas avaliando os métodos
de decantação e o método de dissecação para a determinação da digestibilidade de
alimentos para o tambaqui, o que contradiz com o resultado encontrado no presente
estudo.
Os CDAs apresentados para a MS (68,62%) e EB (70,45%) no método de
dissecação demostram a possível digestão parcial destes nutrientes. Resultados de
pesquisa com o salmão e truta arco-íris (Inaba et al., 1962; Hajen et al., 1993;
Storebakken et al., 1998), tem indicado que o alimento presente na porção posterior do
intestino mostra-se parcialmente digerido, sendo a digestibilidade obtida pelo método
de dissecação subestimada , uma vez que a digestão e a absorção ocorre até o final do
intestino.
As diferenças encontradas nesse estudo confirmam os resultados obtidos por
Windell et al.(1978) com juvenis de trutas arco-íris. Esses autores também compararam
esses dois métodos para estudo de digestibilidade e encontraram coeficientes de
digestibilidade significativamente menores para a matéria seca, proteína bruta e extrato
etéreo pelo método de dissecação, possivelmente pela provável contaminação da
amostra por secreções naturais do animal. Pode-se inferir, portanto, que tais secreções
digestórias aumentaram a concentração de MS, PB e EB, diluíram o marcador externo
(Cr2O3) e possibilitaram essas distorções nos resultados.

32
Colaborando com os resultados do presente trabalho, Spyridakis et al. (1989)
concluíram que o método de coleta de fezes com sistema de decantação foi o mais
apropriado para trabalhos com digestibilidade para peixes, pois não havia manipulação
dos peixes, não provocando estresse, e as fezes eram coletadas automaticamente, à
medida que eram evacuadas.
Estudo realizado por Abimorad et al. (2004), foram avaliados quatro métodos de
coleta de fezes (dissecação, extrusão, sistema Ghelph e sistema de Guelph modificado)
para o pacu. Relataram que todos os métodos estudados podem ser adotados com
segurança para a espécie estudada, desde que sejam rigorosamente aplicados, e o
intervalo de tempo entre as coletas de fezes em estudos de digestibilidade, por
intermédio dos sistemas de Guelph, não ultrapasse 30 minutos.
Resultado semelhante foi encontrado por Hajen et al. (1993a), que determinaram a
digestibilidade de diferentes ingredientes por meio da obtenção de fezes pelo Sistema
Guelphe por dissecação, para o chinook salmon (Oncorhincus tshawytscha), e não
encontraram diferenças significativas entre os valores obtidos pelos dois métodos.
Apesar de ter sido encontrado diferença nos CDAs dos nutrientes entre os
métodos de coleta, a diferença numérica não foi tão acentuada, demostrando assim a
possível utilização de ambos os métodos. Um dos fatores que podem contribuir para a
redução dos níveis de lixiviação dos nutrientes pode ser a inclusão de aglutinantes nas
dietas para determinação da digestibilidade de modo a melhorar a consistência das fezes
dessa espécie. Estudos estão sendo focados nesta área (Cantelmo et al., 1999; Cantelmo
et al., 2002), comprovando que a adição de aglutinantes melhora significativamente a
resistência física dos grânulos fecais, sendo necessário assim maiores estudos sobre as
concentrações e eficiência sobre a utilização deste aditivo para cada espécie, como
alternativa para minimizar os efeitos da lixiviação.

33
2.7 CONCLUSÃO
Ambos os métodos de coleta de fezes estudados podem ser adotados, desde que
usados de forma criteriosa. A coleta que tem por objetivo determinar macros nutrientes
(proteína, energia bruta e matéria seca) pelo método de decantação não deve ultrapassar
314 minutos. Enquanto para o fósforo, o ideal é que sejam coletadas as fezes por
decantação até 60 minutos ou pelo método de dissecação utilizando o terço final do
trato gastrointestinal.

34
2.8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABIMORAD, E.G.; CARNEIRO, D.J. Métodos de Coleta de Fezes e Determinação dos
Coeficientes de Digestibilidade da Fração Protéica e da Energia de Alimentos para o
Pacu, Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887), Revista Brasileira de
Zootecnia, v.33, n.5, p.1101-1109, 2004.
AUSTRENG, E. Digestibility determination in fish using chromic oxide marking and
analysis of contents from different segments of the gastrointestinal tract.
Aquaculture 13, 265–272, 1978.
BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. 2.ed. Santa
Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2009. 350p.
BREMER-NETO, H; GRANER, C.A.F.; PEZZATO, L.E. et al. Determinação de rotina
do cromo em fezes, como marcador biológico, pelo método espectrofotométrico
ajustado da 1,5-difenilcarbazida. Ciência Rural, Santa Maria, v.35, n.3, p.691-697,
2005.
BUENO, G.W. Impacto ambiental do fósforo em rações para tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus). 2011. 65f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros
e Engenharia de Pesca) – Centro de Engenharia e Ciências Exatas, Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Toledo.
CANTELMO, O.A. et al. Influencia de diferentes aglutinantes na Digestibilidade
da matéria seca e da proteína bruta, no pacu (Piaractus mesopotamicus)
arraçoado com rações elaboradas com e sem vapor. Acta Scientiarium,
Maringá, v.21,n.2, p.277-282, 1999.
CANTELMO, O.A.; PEZZATO, L.E.; BARROS, M.M. et al. Características físicas de
dietas para peixes confeccionadas com diferentes aglutinantes. Acta Scientiarum,
Maringá, v. 24, n. 4, p. 949-955, 2002.
DE LA NOIIE, J & CHOUBERT, G. Digestibility in rainbow trout: comparison of the
direct and indirect methods of measurement. Prog. Fish Cult., 48: 190-195, 1986.
DIEMER, O.; BOSCOLO, W.R.; SIGNOR, A.A. et al. Níveis de fósforo total na
alimentação de juvenis de jundiá criados em tanques-rede. Pesquisa Agropecuária
Tropical, Goiânia, v.41, n.4, p.559-563, 2011.
GILLIS, M.B.; EDWARDS Jr., H.M.; YOUNG, R.J. Studies on the availability of
calcium ortho-phosphates to chickens and turkeys.J. Nutr., v.78, p.155-161, 1962.
GUIMARÃES, I.G.; PEZZATO, L.E.; BARROS, M.M. et al. Nutrient digestibility of
cereal grain products and by-products in extruded diets for Nile tilapia. J. World
Aquac. Soc., v. 39, n.6, 781-789, 2008.
HAJEN, W.E. et al. Digestibility of various feedstuffs by post-juvenile chinook salmon
(Onchorhynchus tshawytscha) in sea water. 1. Validation of technique.
Aquaculture, Amsterdam, v. 112, p. 321-332, 1993.
HUA, K.; BUREAU, D.P. Quantification of differences in digestibility of phosphorus
among cyprinids, cichlids, and salmonids through a mathematical modelling
approach. Aquaculture, Amsterdam, v.308, p.152-158, 2010.
INABA, D. et al. Digestibility of dietary components in fishes. 1 - Digestibility of
dietary proteins and starch in rainbow trout. Bull. Japan. Soc. Sci. Fish., Hakodate,
v. 28, n. 3, p. 367-371, 1962.
MOURIÑO & STÉFANI. Avaliação de métodos de coleta de fezes para determinação
da digestibilidade protéica em rã-touro (Ranacatesbeiana). Ciência Rural, Santa
Maria, v.36, n.3, p.954-958, maio-junho 2006.

35
NOSE, T. Recents advances in the study of fish digestion in Japan. In: SYMPOSIUM
ON FEEDING TROUT AND SALMON CULTURE, SC II–7., 1966, Belgrade.
Proceedings... Belgrade: EIFAC, 1966. p.17.
PAVANELLI, G.C.; EIRAS, J.C.; TAKEMOTO, R.M. Doenças de peixes: profilaxia,
diagnóstico e tratamento. Maringá :Nupelia, 1998, 268p.
PERCIVAL, S.B.; LEE, P.S.; CARTER, C.G. Validation of a technique for determining
apparent digestibility in large (up to 5 kg) Atlantic salmon Salmo salar L. in
seacages. Aquaculture 201 (3-4), 315–327, 2001.
PEZZATO, L.E.; MIRANDA, E.C.; QUINTERO-PINTO, L.G. et al. Avaliação de dois
métodos de determinação do coeficiente de digestibilidade aparente com a tilápia do
Nilo (Oreochromis niloticusL.). Acta scientiarum Animal Science v. 24, n. 4, p.
965-971, 2002.
POTRICH, F.R.; SIGNOR, A.A.; DIETERICH, T.G. et al. Estabilidade e lixiviação de
nutrientes com rações de diferentes níveis protéicos. Cascavel, v.4, n.3, p.77-
87,2011. Disponível em:
http://www.fag.edu.br/graduacao/agronomia/csvolume43/09.pdf Acessado: 24 de
setembro 2012.
ROUBACH, R.; GOMES, L.C. O uso de anestésicos durante o manejo de peixes.
Publicado em: Panorama da Aquicultura (2001), 11 (66):37-40.
SILVA, I.A.M.; PEREIRA – FILHO, M.; OLIVEIRA – PEREIRA, M.I. Frutos e
sementes consumidos pelo Tambaqui, Colossoma macrompum (Cuvier, 1818)
incorporados em rações. Digestibilidade e velocidade de trânsito pelo trato
gastrointestinal. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.32, n.6, p. 1815-1824,
2003ª (Supl.2).
SILVA, J.A.M. et al. Digestibility of seeds consumed by tambaqui (Colossoma
macropomum Cuvier, 1818): an experimental approach. In: VAL, A.L.; ALMEIDA
VAL, V.M.F. (ed). Biology of tropical fishes. Manaus: INPA, 1999. Cap.11, p.137-
148.
SILVA, J.A.M.; PEREIRA-FILHO, M.; OLIVEIRA-PEREIRA, M.I. Seasonal variation
of nutrients and energy in tambaqui’s (Colossoma macropomum CUVIER, 1818)
natural food. Revista Brasileira de Biologia, v.60, n.4, p.599-605, 2000.
SPYRIDAKIS, P.; METAILLER, R.; GABAUDAN, J. et al. Studies on nutrient
digestibility in European sea bass (Dicentrarchus labrax). 1. Methodological
aspects concerning faeces collection. Aquaculture, v.77, p.61-70, 1989.
STOREBAKKEN, T. et al. The apparent digestibility of diets containing fish meal,
soybeanmeal or bacterial meal fed to Atlantic salmon (Salmo solar): evaluation of
different faecal collection methods. Aquaculture, Amsterdam, v. 169, p. 195-210,
1998.
SUGIURA, S.H.; FERRARIS, R.P. Contributions of different NaPi cotransporter
isoforms to dietary regulation of Ptransport in the pyloric caeca and intestine of
rainbow trout.The Journal of Experimental Biology, Cambridge, v.207, p.2055-
2064, 2004.
SULLIVAN, T.W.; DOUGLAS, J.H.; GONZALEZ, N.J. et al. Correlation of biological
value of feed phosphates with their solubility in water, dilute hydrogen chloride,
dilute citric acid, and neutral ammonium citrate. Poult. Sci., v.71, p.2065-2074,
1992.
WATANABE, T.; TAKEUCHI, T.; SATOH, S.; KIRON, V. Digestible crude protein
contents in various feedstuffs determined with four fresh water fish species.
Fisheres Science v.62 n.2, p.278-282, 1996.

36
WINDELL, J.T. et al. Effect of fish size, temperature, and amount digestibility of a
pelletet diet by rainbow trout (Salmo gairdneri). Trans. Am. Fish. Soc., Bethesda, v.
107, n.4, p. 613-616, 1978.
WINDELL, J.T.; FOLTZ, J.W.; SAROKAN, J.A. Methods of fecal collection and
nutrient leaching in digestibility studies. ProgressiveFishCulturist 49, 51–55,
1978.

37
Anexo I
Figura I. Sistema Guelph: (Fonte: CHO, C.Y., COWEY, C.B., WATANABE, T.,
1985.Methodological approaches to research and development. In: Cho, C.Y., Cowey,
C.B., Watanabe, T. (Eds.), Finfish Nutrition in Asia. IDRC, Ottawa, Canada, pp. 10–80.
Figura II. Coleta mecânica: (Fonte: CHOUBERT, G., DE LA NOUE Jr., J.,Luquet, P.,
1982. Digestibility in fish: improved device for the automatic collection of feces.
Aquaculture 29, 185–189.)

38
Anexo II
Figura I. Aquário de alimentação (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura II. Animais experimentais (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura III. Incubadoras adaptadas para coleta de fezes por decantação (Fonte: Arquivo
Pessoal).
Figura IV. Coleta noturna de conteúdo fecal (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura V. Recipiente coletor de fezes acoplado a incubadora (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura VI. Identificação e armazenamento das amostras fecais (Fonte: Arquivo
Pessoal).
I II III
IV V VI
VII VIII IV

39
Figura VII. Trato digestório do tambaqui todo removido (Fonte: Arquivo Pessoal).
Figura VIII. Corte longitudinal do trato digestório até o cecos pilóricos (Fonte: Hugo
Vinicius Pereira).
Figura IX. Remoção das fezes de dentro do trato digestório com pincel (Fonte: Hugo
Vinicius Pereira).

7
Anexo III
Normas para preparação de trabalhos científicos para
publicação na Revista Brasileira de Zootecnia
Estrutura do artigo (artigo completo)
O artigo deve ser dividido em
seções com título centralizado, em
negrito, na seguinte ordem: Abstract,
Introduction, Material and Methods,
Results and Discussion, Conclusions,
Acknowledgments (opcional) e
References.
Não são aceitos subtítulos. Os
parágrafos devem iniciar a 1,0 cm da
margem esquerda.
Formatação de texto
O texto deve ser digitado em fonte
Times New Roman 12, espaço duplo
(exceto Abstract e Tabelas, que devem ser
elaborados em espaço 1,5), margens
superior, inferior, esquerda e direita de
2,5; 2,5; 3,5; e 2,5 cm, respectivamente.
O manuscrito pode conter até 25
páginas. As linhas devem ser numeradas
da seguinte forma: Menu ARQUIVO/
CONFIGURARPÁGINA/LAYOUT/NÚ
MEROS DE LINHA.../ NUMERAR
LINHAS (numeração contínua) e a
paginação deve ser contínua, em
algarismos arábicos, centralizada no
rodapé.
O arquivo deverá ser enviado
utilizando a extensão.doc. Não enviar
arquivos nos formatos pdf, docx, zip ou
rar.
Manuscritos com número de páginas
superior a 25 (acatando-se o máximo de
30 páginas) poderão ser submetidos
acompanhados de carta encaminhada ao
Editor-chefe contendo justificativa para o
número de páginas excedentes. Em caso
de aceite da justificativa, a tramitação
ocorrerá normalmente e, uma vez
aprovado o manuscrito, os autores deverão
arcar com o custo adicional de publicação
por páginas excedentes. Caso não haja
concordância com a justificativa por parte
do Editor-chefe, o manuscrito será
reencaminhado aos autores para
adequação às normas, a qual deverá ser
realizada no prazo máximo de 30 dias. Em
caso do não-recebimento da versão neste
prazo, proceder-se-á ao cancelamento da
tramitação (não haverá devolução da taxa
de tramitação).
Título
Deve ser preciso, sucinto e
informativo, com 20 palavras no máximo.
Digitá-lo em negrito e centralizado,
segundo o exemplo: Valor nutritivo da
cana-de-açúcar para bovinos. Deve
apresentar chamada de rodapé “1”
somente quando a pesquisa foi financiada.
Não citar “parte da tese...”
Autores
A RBZ permite até oito autores. A
primeira letra de cada nome/sobrenome
deve ser maiúscula (Ex.: Anacleto José
Benevenutto). Não listá-los apenas com as
iniciais e o último sobrenome (Ex.: A.J.
Benevenutto).
Digitar os nomes dos autores
separados por vírgula, centralizado e em
negrito, com chamadas de rodapé

7
numeradas e em sobrescrito, indicando
apenas a instituição à qual estavam
vinculados à época de realização da
pesquisa (instituição de origem), e não a
atual. Não citar vínculo empregatício,
profissão e titulação dos autores. Informar
o endereço eletrônico somente do
responsável pelo artigo.
Abstract
Deve conter no máximo 1.800
caracteres com espaços. As informações
do abstract devem ser precisas. Abstracts
extensos serão devolvidos para adequação
às normas.
Deve sumarizar objetivos, material e
métodos, resultados e conclusões. Não
deve conter introdução nem referências
bibliográficas.
O texto deve ser justificado e
digitado em parágrafo único e espaço 1,5,
começando por ABSTRACT, iniciado a
1,0 cm da margem esquerda.
Key Words
Apresentar até seis (6) Key Words
imediatamente após o abstract, em ordem
alfabética. Devem ser elaboradas de modo
que o trabalho seja rapidamente resgatado
nas pesquisas bibliográficas. Não podem
ser retiradas do título do artigo. Digitá-las
em letras minúsculas, com alinhamento
justificado e separadas por vírgulas. Não
devem conter ponto-final.
Introduction
Deve conter no máximo 2.500
caracteres com espaços, resumindo a
contextualização breve do assunto, as
justificativas para a realização da pesquisa
e os objetivos do trabalho. Evitar
discussão da literatura na introdução. A
comparação de hipóteses e resultados
deve ser feita na discussão.
Trabalhos com introdução extensa
serão devolvidos para adequação às
normas.
Material and Methods
Se for pertinente, descrever no
início da seção que o trabalho foi
conduzido de acordo com as normas éticas
e aprovado pela Comissão de Ética e
Biossegurança da instituição.
Descrição clara e com referência
específica original para todos os
procedimentos biológicos, analíticos e
estatísticos. Todas as modificações de
procedimentos devem ser explicadas.
Results and Discussion
É facultada ao autor a feitura desta
seção combinando-se os resultados com a
discussão ou em separado, redigindo duas
seções, com separação de resultados e
discussão.
Dados suficientes, todos com algum
índice de variação, devem ser
apresentados para permitir ao leitor a
interpretação dos resultados do
experimento. Na seção discussão deve-se
interpretar clara e concisamente os
resultados e integrá-los aos resultados de
literatura para proporcionar ao leitor uma
base ampla na qual possa aceitar ou
rejeitar as hipóteses testadas.
Evitar parágrafos soltos, citações
pouco relacionadas ao assunto e
cotejamentos extensos.

8
Conclusions
Devem ser redigidas em parágrafo
único e conter no máximo 1.000
caracteres com espaço.
Resuma claramente, sem
abreviações ou citações, as inferências
feitas com base nos resultados obtidos
pela pesquisa. O importante é buscar
entender as generalizações que governam
os fenômenos naturais, e não
particularidades destes fenômenos.
As conclusões são apresentadas
usando o presente do indicativo.
Acknowledgments
Esta seção é opcional. Deve iniciar
logo após as Conclusões.
Abreviaturas, símbolos e unidades
Abreviaturas, símbolos e unidades
devem ser listados conforme indicado na
página da RBZ, link “Instruções aos
autores”, “Abreviaturas”.
Deve-se evitar o uso de abreviações
não consagradas, como por exemplo: “o
T3 foi maior que o T4, que não diferiu do
T5 e do T6”. Este tipo de redação é muito
cômoda para o autor, mas é de difícil
compreensão para o leitor.
Os autores devem consultar as
diretrizes estabelecidas regularmente pela
RBZ quanto ao uso de unidades.
Estrutura do artigo (comunicação e
nota técnica)
Devem apresentar antes do título a
indicação da natureza do manuscrito
(Short Communication ou Technical
Note) centralizada e em negrito.
As estruturas de comunicações e
notas técnicas seguirão as diretrizes
definidas para os artigos completos,
limitando-se, contudo, a 14 páginas de
tamanho máximo.
As taxas de tramitação e de
publicação aplicadas a comunicações e
notas técnicas serão as mesmas destinadas
a artigos completos, considerando-se,
porém, o limite de 4 páginas no formato
final. A partir deste, proceder-se-á à
cobrança de taxa de publicação por página
adicional.
Tabelas e Figuras
É imprescindível que todas as
tabelas sejam digitadas segundo menu do
Microsoft® Word “Inserir Tabela”, em
células distintas (não serão aceitas tabelas
com valores separados pelo recurso
ENTER ou coladas como figura). Tabelas
e figuras enviadas fora de normas serão
devolvidas para adequação.
Devem ser numeradas
sequencialmente em algarismos arábicos e
apresentadas logo após a chamada no
texto.
O título das tabelas e figuras deve
ser curto e informativo, evitando a
descrição das variáveis constantes no
corpo da tabela.
Nos gráficos, as designações das
variáveis dos eixos X e Y devem ter
iniciais maiúsculas e unidades entre
parênteses.
Figuras não originais devem conter,
após o título, a fonte de onde foram
extraídas, que deve ser referenciada.
As unidades, a fonte (Times New
Roman) e o corpo das letras em todas as
figuras devem ser padronizados.
Os pontos das curvas devem ser
representados por marcadores

9
contrastantes, como círculo, quadrado,
triângulo ou losango (cheios ou vazios).
As curvas devem ser identificadas
na própria figura, evitando o excesso de
informações que comprometa o
entendimento do gráfico.
As figuras devem ser gravadas nos
programas Microsoft®Excel ou Corel
Draw®(extensão CDR), para possibilitar a
edição e possíveis correções.
Usar linhas com no mínimo 3/4
ponto de espessura.
As figuras deverão ser
exclusivamente monocromáticas.
Não usar negrito nas figuras.
Os números decimais apresentados
no interior das tabelas e figuras dos
manuscritos em inglês devem conter
ponto, e não vírgula.
As fórmulas matemáticas e
equações devem ser digitadas no
Microsoft Equation e inseridas no texto
como objeto.
Citações no texto
As citações de autores no texto são
em letras minúsculas, seguidas do ano de
publicação. Quando houver dois autores,
usar & (e comercial) e, no caso de três ou
mais autores, citar apenas o sobrenome do
primeiro, seguido de et al.
Comunicação pessoal (ABNT-NBR
10520).
Somente podem ser utilizadas caso
sejam estritamente necessárias ao
desenvolvimento ou entendimento do
trabalho. Contudo, não fazem parte da
lista de referências, por isso são colocadas
apenas em nota de rodapé. Coloca-se o
sobrenome do autor seguido da expressão
“comunicação pessoal”, a data da
comunicação, o nome, estado e país da
instituição à qual o autor é vinculado.
Referências
Baseia-se na Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT (NBR
6023).
As referências devem ser redigidas
em página separada e ordenadas
alfabeticamente pelo(s) sobrenome(s)
do(s) autor (s).
Digitá-las em espaço simples,
alinhamento justificado e recuo até a
terceira letra a partir da segunda linha da
referência. Para formatá-las, siga as
seguintes instruções: No menu
FORMATAR, escolha a opção
PARÁGRAFO... RECUO ESPECIAL,
opção DESLOCAMENTO... 0,6 cm.
Em obras com dois e três autores,
mencionam-se os autores separados por
ponto-e-vírgula e, naquelas com mais de
três autores, os três primeiros seguidos de
et al. As iniciais dos autores não podem
conter espaços. O termo et al. não deve ser
italizado nem precedido de vírgula.
Indica(m)-se o(s) autor (s) com
entrada pelo último sobrenome seguido
do(s) prenome(s) abreviado (s), exceto
para nomes de origem espanhola, em que
entram os dois últimos sobrenomes.
O recurso tipográfico utilizado para
destacar o elemento título é negrito.
No caso de homônimos de cidades,
acrescenta-se o nome do estado (ex.:
Viçosa, MG; Viçosa, AL; Viçosa, RJ).
Obras de responsabilidade de uma
entidade coletiva
A entidade é tida como autora e
deve ser escrita por extenso, acompanhada
por sua respectiva abreviatura. No texto, é

10
citada somente a abreviatura
correspondente.
Quando a editora é a mesma
instituição responsável pela autoria e já
tiver sido mencionada, não deverá ser
citada novamente.
ASSOCIATION OF OFFICIAL
ANALYTICAL CHEMISTRY -
AOAC. Official methods of
analysis. 16.ed. Arlington: AOAC
International, 1995. 1025p.
Livros e capítulos de livro
Os elementos essenciais são:
autor(es), título e subtítulo (se houver),
seguidos da expressão “In:”, e da
referência completa como um todo. No
final da referência, deve-se informar a
paginação.
Quando a editora não é identificada,
deve-se indicara expressão sinenomine,
abreviada, entre colchetes [s.n.].
Quando editor e local não puderem
ser indicados na publicação, utilizam-se
ambas as expressões, abreviadas, e entre
colchetes [S.I.: s.n.].
LINDHAL, I.L. Nutrición y alimentación
de las cabras. In: CHURCH, D.C.
(Ed.) Fisiologia digestiva y
nutrición delos ruminantes. 3.ed.
Zaragoza: Acríbia, 1974. p.425-434.
NEWMANN, A.L.; SNAPP, R.R. Beef
cattle. 7.ed. New York: John Wiley,
1997. 883p.
Teses e Dissertações
Recomenda-se não citar teses e
dissertações. Deve-se procurar referenciar
sempre os artigos publicados na íntegra
em periódicos indexados.
Excepcionalmente, se necessário citar
teses e dissertações, indicar os seguintes
elementos: autor, título, ano, página, nível
e área do programa de pós-graduação,
universidade e local.
CASTRO, F.B. Avaliação do processo de
digestão do bagaço de cana-de-
açúcar auto-hidrolisado em
bovinos. 1989. 123f. Dissertação
(Mestrado em Zootecnia) - Escola
Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”/Universidade de São
Paulo, Piracicaba.
SOUZA, X.R. Características de
carcaça, qualidade de carne e
composição lipídica de frangos de
corte criados em sistemas de
produção caipira e convencional.
2004. 334f. Tese (Doutorado em
Zootecnia) – Universidade Federal
de Lavras, Lavras.
Boletins e relatórios
BOWMAN,V.A. Palatability of animal,
vegetable and blended fats by
equine. (S.L.): Virgínia Polytechnic
Institute and State University, 1979.
p.133-141 (Research division report,
175).
Artigos
O nome do periódico deve ser
escrito por extenso. Com vistas à
padronização deste tipo de referência, não
é necessário citar o local; somente
volume, intervalo de páginas e ano.
MENEZES, L.F.G.; RESTLE, J.;
BRONDANI, I.L. et al. Distribuição
de gorduras internas e de descarte e
componentes externos do corpo de
novilhos de gerações avançadas do
cruzamento rotativo entre as raças

11
Charolês e Nelore. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.38,
p.338-345, 2009.
Citações de artigos aprovados para
publicação deverão ser realizadas
preferencialmente acompanhadas do
respectivo DOI.
FUKUSHIMA, R.S.; KERLEY, M.S. Use
of lignin extracted from different
plant sources as standards in the
spectrophotometric acetyl bromide
lignin method. Journal of
Agriculture and Food Chemistry,
2011. doi: 10.1021/jf104826n
Congressos, reuniões, seminários etc
Citar o mínimo de trabalhos
publicados em forma de resumo,
procurando sempre referenciar os artigos
publicados na íntegra em periódicos
indexados.
CASACCIA, J.L.; PIRES, C.C.; RESTLE,
J. Confinamento de bovinos inteiros
ou castrados de diferentes grupos
genéticos. In: REUNIÃO ANUAL
DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ZOOTECNIA, 30., 1993, Rio de
Janeiro. Anais...Rio de Janeiro:
Sociedade Brasileira de Zootecnia,
1993. p.468.
EUCLIDES, V.P.B.; MACEDO, M.C.M.;
OLIVEIRA, M.P. Avaliação de
cultivares de Panicum maximum em
pastejo. In: REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ZOOTECNIA, 36., 1999, Porto
Alegre. Anais... São Paulo:
Sociedade Brasileira de
Zootecnia/Gmosis, [1999]. (CD-
ROM).
Artigo e/ou matéria em meios
eletrônicos
Na citação de material bibliográfico
obtido via internet, o autor deve procurar
sempre usar artigos assinados, sendo
também sua função decidir quais fontes
têm realmente credibilidade e
confiabilidade.
Quando se tratar de obras
consultadas on-line, são essenciais as
informações sobre o endereço eletrônico,
apresentado entre os sinais <>, precedido
da expressão “Availableat:” e a data de
acesso do documento, precedida da
expressão “Accessedon:”.
NGUYEN, T.H.N.; NGUYEN, V.H.;
NGUYEN, T.N. et al. [2003]. Effect
of drenching with cooking oil on
performance of local yellow cattle
fed rice straw and cassava foliage.
Livestock Research for Rural
Development, v.15, n.7, 2003.
Available at:
<http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd15
/7/nhan157.htm> Accessed on: Jul.
28, 2005.
REBOLLAR, P.G.; BLAS, C.
[2002].Digestión de la soja integral
em rumiantes. Available at:
<http://www.ussoymeal.org/rumina
nt_s.pdf.> Accessed on: Oct. 12,
2002.
SILVA, R.N.; OLIVEIRA, R. [1996]. Os
limites pedagógicos do paradigma
da qualidade total na educação. In:
CONGRESSO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996,
Recife. Anais eletrônicos...Recife:
Universidade Federal do

12
Pernanbuco, 1996. Available at:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/a
nais.htm> Accessed on: Jan. 21,
1997.
Citações de softwares estatísticos
A RBZ não recomenda a citação
bibliográfica de softwares aplicados a
análises estatísticas. A utilização de
programas deve ser informada no texto
(Material e Métodos) incluindo o
procedimento específico e o nome do
software com sua versão e/ou ano de
lançamento.
“... os procedimentos estatísticos
foram conduzidos utilizando-se o PROC
MIXED do SAS (StatisticalAnalysis
System, versão 9.2.)”