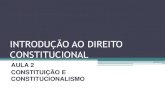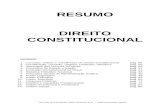Direito Constitucional
description
Transcript of Direito Constitucional
-
POLCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
CENTRO DE FORMAO E APERFEIOAMENTO DE PRAAS DIVISO DE ENSINO SEO TCNICA DE ENSINO
CURSO DE FORMAO DE SOLDADOS/2014
APOSTILA DA DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL
Facilitadores: Carga-horria: 30 horas/aula
ARACAJU/SE, 23 DE SETEMBRO DE 2014
-
SUMARIO
1. DIREITO CONSTITUCIONAL ............................................................................................................. 1
1.1 CONCEITO ........................................................................................................................................ 1
1.2 OBJETO ............................................................................................................................................. 1
1.3 CONTEUDO CIENTIFICO ................................................................................................................. 1
1.4 NATUREZA JURIDICA...................................................................................................................... 2
1.5 CLASSIFICAO DA CONSTITUIO DE 1988 ............................................................................ 2
1.5.1 CLASSIFICAES GERAIS .......................................................................................................... 2
1.5.2 A CLASSIFICAO DA CONSTITUIO DE 1988 ..................................................................... 5
1.6 FUNDAMENTOS ............................................................................................................................... 5
1.7 OBJETIVOS FUNDAMENTAIS ......................................................................................................... 7
1.8 SUPREMACIA DA CONSTITUIO FEDERAL .............................................................................. 7
1.9 PODER CONSTITUINTE ................................................................................................................... 7
1.9.1 CONCEITO E FINALIDADE ........................................................................................................... 7
1.9.2 TITULARIDADE DO PODER CONSTITUINTE .............................................................................. 8
1.9.3 ESPCIES DE PODER CONSTITUINTE ....................................................................................... 8
1.9.4 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE................................................................................11
2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS APLICADOS A ATIVIDADE POLICIAL ....................................20
2.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS DIMENSES .....................................................................20
2.2 FUNDAMENTOS DO ESTADO BRASILEIRO ...............................................................................22
4.2.1 Soberania .....................................................................................................................................22
4.2.2 Cidadania .....................................................................................................................................22
4.2.3 Dignidade da pessoa humana ...................................................................................................22
4.2.4 Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa ......................................................................22
4.2.5 Pluralismo poltico ......................................................................................................................22
2.3 DIREITOS, GARANTIAS E PRINCPIOS FUNDAMENTAIS EM ESPCIE ..................................23
2.3.1 Direito vida ................................................................................................................................23
Obs: A prtica da tortura .....................................................................................................................23
2.3.2 Direito liberdade ou s liberdades .........................................................................................24
Obs 1: Liberdade de pensamento ......................................................................................................24
Obs 2: Vedao do anonimato ............................................................................................................25
Obs 3: Liberdade de manifestao de pensamento .........................................................................25
Obs 4: Liberdade de crena e de culto ..............................................................................................25
Obs 5: Liberdade de locomoo .........................................................................................................26
Obs 6: Liberdades de expresso coletiva .........................................................................................26
Obs 7: Liberdade de ao profissional ..............................................................................................27
2.3.3 Direito de igualdade (princpio da isonomia ou da igualdade) ..............................................28
Obs 1: distino em razo da idade ..................................................................................................29
-
Obs 2: Distines em razo de raa, cor, etnia, religio e procedncia nacional ........................29
2.3.4 Direito segurana .....................................................................................................................30
Obs1 : Inviolabilidade do domiclio ....................................................................................................32
Obs 2: Hipteses de flagrante delito. .................................................................................................33
Obs 3: Mandado judicial. .....................................................................................................................33
Obs 4: Nulidade da prova. ...................................................................................................................33
Obs. 5: Dia e noite. ...............................................................................................................................34
Obs 6: Inviolabilidade das comunicaes pessoais ........................................................................34
Obs 7: Gravao feita por interlocutor da conversa telefnica ......................................................35
Obs 8: Gravao ambiental .................................................................................................................35
2.3.5 Segurana em matria jurdica ..................................................................................................36
Obs 1: Garantias jurisdicionais ..........................................................................................................36
a) Princpio da inafastabilidade ou do controle do Poder Judicirio (inciso XXXV) ...................... 36
b) Proibio dos tribunais de exceo (inciso XXXVII) ................................................................. 36
c) Julgamento pelo Tribunal do Jri em crimes dolosos contra a vida (inciso XXXVIII) ............... 36
d) Princpio do juiz natural ou do juiz competente (inciso LIII) ...................................................... 37
Obs 2: Garantias materiais ..................................................................................................................37
a) Princpios da anterioridade e da reserva da lei penal (inciso XXXIX) ...................................... 37
b) Princpio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (inciso XL) .......................................... 37
c) Princpio da personalizao da pena (inciso XLV) .................................................................... 37
d) Princpio da individualizao da pena (inciso XLVI). ................................................................ 37
e) Proibio de determinadas penas (inciso XLVII). ..................................................................... 38
f) Princpios relativos execuo da pena privativa de liberdade ................................................ 38
g) Proibio da priso civil por dvidas, salvo no caso de devedor de penso alimentcia (inciso
LXVII) ............................................................................................................................................. 38
Obs 3: Garantias processuais ............................................................................................................39
a) Princpio do devido processo legal (inciso LIV) ........................................................................ 39
b) Princpios do contraditrio e da ampla defesa (inciso LV) ........................................................ 39
c) Proibio de prova ilcita (inciso LVI) ........................................................................................ 40
d) Princpio da presuno de inocncia ou da presuno de no culpabilidade (inciso LVII). ..... 40
f) Garantias da legalidade e da comunicabilidade das prises (incisos LXI a LXVI) .................... 40
g) Princpio da celeridade processual (inciso LXXVIII) ................................................................. 41
2.4 REMDIOS OU GARANTIAS CONSTITUCIONAIS .......................................................................42
4.4.1 Habeas Corpus (art. 5, LXVIII) ......................................................................................... 42
4.4.2 Habeas Data (ART. 5, LXXII) ........................................................................................... 43
4.4.3 Mandado de Segurana (ART. 5, LXIX) ............................................................................. 45
2.4.4 Direito de Petio (ART. 5, XXXIV, A).............................................................................. 46
4.4.5 Direito de Certido (ART. 5, XXXIV, B) ............................................................................ 46
-
4.4.6 Mandado de Injuno (ART. 5, LXXI) ................................................................................. 47
4.4.7 Ao Popular (ART. 5, LXXIII) ............................................................................................ 48
2.5 PRERROGATIVAS E GARANTIAS ................................................................................................49
2.5.1 CHEFES DO EXECUTIVO ...........................................................................................................49
2.5.2 PARLAMENTARES ......................................................................................................................50
4.5.3 MEMBROS DO PODER JUDICIRIO .........................................................................................52
2.5.4 MEMBROS DO MINISTRIO PBLICO ......................................................................................53
2.5.5 ADVOGADOS E DEFENSORES PBLICOS ..............................................................................54
2.5.5.1 ADVOGADOS ............................................................................................................................54
2.5.5.2 DEFENSORES PBLICOS .......................................................................................................55
3. NACIONALIDADE E DIREITOS POLITICOS ...................................................................................56
3.1 INTRODUO .................................................................................................................................56
3.2 AQUISIO DE NACIONALIDADE ................................................................................................56
3.2.1 Nacionalidade originaria (primaria ou atribuda) .....................................................................56
3.2.2 Nacionalidade adquirida (secundaria, derivada, ou de eleio) ............................................57
3.3 DIFERENA ENTRE BRASILEIROS NATO E NATURALIZADOS ..............................................58
3.4 PERDA DA NACIONALIDADE .......................................................................................................61
4. DEFESA DO ESTADO E INSTITUIES DEMOCRTICAS ..........................................................61
4.1 ESTADO DE DEFESA ................................................................................................................ 62
4.2 ESTADO DE SITIO ..................................................................................................................... 65
4.3 FORAS ARMADAS ................................................................................................................... 68
5. SEGURANA PBLICA ............................................................................................................... 71
5.1. SISTEMA DE SEGURANA PBLICA ..................................................................................... 71
5.1.1. POLCIA FEDERAL ................................................................................................................. 71
5.1.2. POLCIAS RODOVIRIA E FERROVIRIA FEDERAL ......................................................... 72
5.1.3. POLCIAS CIVIS ..................................................................................................................... 72
5.1.4. POLCIAS MILITARES (SUBTTULO 5.2.1) ........................................................................... 72
5.1.5. CORPO DE BOMBEIROS MILITARES .................................................................................. 73
5.1.6. GUARDAS MUNICIPAIS ......................................................................................................... 73
5.1.7. AGENTES DE TRNSITO ...................................................................................................... 73
5.1.7. FORA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA (FNSP) ..................................................... 74
5.2 MILITARES DOS ESTADOS: DIREITOS, PRERROGATIVAS E DEVERES. ........................... 74
5.2.1. POLCIAS MILITARES ............................................................................................................ 74
5.2.2. DIREITOS................................................................................................................................ 75
5.2.3 PRERROGATIVAS .................................................................................................................. 77
5.2.4 DEVERES ................................................................................................................................ 78
5.3 OS MILITARES ESTADUAIS NA CONSTITUIO DE SERGIPE ............................................ 79
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .............................................................................................. 81
-
1
1. DIREITO CONSTITUCIONAL
1.1 CONCEITO
O direito constitucional pode ser definido como: o ramo interno do direito
pblico que tem por objeto o estudo sistematizado das normas supremas, originarias
e estruturantes do Estado.
Pode-se definir ainda definir o direito constitucional de duas formas distintas:
Sinteticamente, como o estudo da teoria das Constituies e da Constituio
do Estado brasileiro, em particular.
Analtica, como o conjunto de princpios e normas que regulam a prpria
existncia do Estado moderno, na sua estrutura e no seu funcionamento, o modo de
exerccio e os limites de sua soberania, seus fins e interesses fundamentais, e do
Estado brasileiro, em particular.
1.2 OBJETO
O direito constitucional tem por objeto o estudo das normas fundamentais de
organizao do Estado que tratam, entre outros, dos seguintes temas: estrutura de
seus rgos; distribuio de competncias; aquisio, exerccio e transmisso da
autoridade; e direitos e garantias fundamentais.
1.3 CONTEUDO CIENTIFICO
De acordo com seu objeto de estudo, o direito constitucional pode ser dividido
por em trs disciplinas:
I) direito constitucional positivo: tem por objeto a esclio, sistematizao e
crtica das normas constitucionais vigentes em um determinado Estado;
II) direito constitucional comparado: tem por intento o estudo comparativo
e crtico das normas constitucionais positivas, vigentes ou no, de diversos Estados;
III) direito constitucional geral: compreende a sistematizao e
classificao de conceitos, princpios e instituies de diversos ordenamentos
jurdicos visando identificao dos pontos comuns, isto , das caractersticas
essenciais semelhantes de um determinado grupo de constituies.
-
2
1.4 NATUREZA JURIDICA
O direito constitucional deve ser classificado como um ramo interno do direito
pblico. Por ser a Constituio o fundamento de validade de todas as normas do
ordenamento jurdico, o direito constitucional se diferencia dos demais ramos no
apenas em funo de seu objeto e de suas tarefas, mas tambm em razo de suas
peculiaridades, tais como o grau hierrquico, a classe de suas normas, as condies
de sua validade e a capacidade para se impor perante a realidade social.
1.5 CLASSIFICAO DA CONSTITUIO DE 1988 1.5.1 CLASSIFICAES GERAIS
Podemos dependendo do ponto de vista, obter varias classificaes, dentre
elas temos:
a) quanto a forma:
Constituies escritas: so formadas por um conjunto de normas de direito
positivo constante de um s cdigo (codificada) ou de diversas leis (no codificada).
Constituies no escritas: tambm conhecidas como costumeiras ou
consuetudinrias, so aquelas cujas normas se originam, sobretudo, dos
precedentes judiciais, costumes, das tradies e convenes.
b) quanto a sistemtica:
Constituies codificadas: so as constituies cujas normas se encontram
inteiramente contidas em um s texto, formando um nico corpo de lei com
princpios e regras sistematicamente ordenados e articulados em ttulos, captulos e
sees.
Constituies no codificadas: so as constituies escritas formadas por
normas esparsas ou fragmentadas em vrios textos.
c) quanto a origem:
Constituio outorgada: procede de um ato unilateral da vontade poltica do
governante
Obs: As constituies outorgadas submetidas a plebiscito ou referendo na
tentativa de aparentarem legitimidade so denominadas de constituies cesaristas.
-
3
Constituies promulgadas: so constituies elaboradas por um rgo
constituinte composto de representantes do povo, eleitos para o fim especfico de
elaborar a Constituio (Assembleias Constituintes.
d) quanto ao modo de elaborao
Constituies histricas: sao desenvolvidas vagarosamente por meio do
tempo, na medida em que os usos e os costumes vao se incorporando a vida
estatal, como ocorreu com a Constituio inglesa.
Constituies dogmticas: derivam dos trabalhos de um rgo constituinte
sistematizador das ideias e princpios fundamentais da teoria poltica e do direito
dominante naquele momento.
e) quanto ao contedo
Constituio material: composta por regras e princpios que tm como
objeto a estruturao Estado, dos direitos fundamentais e a organizao dos
poderes.
Constituio formal: o conjunto de normas jurdicas nascidas por um processo
mais rduo e mais solene que o ordinrio, com o propsito de tomar mais difcil a
sua alterao.
f) quanto a estabilidade
Constituio flexvel: so aquelas que se cria ou modifica da mesma
autoridade responsvel pela criao das leis ordinrias e que permitem a
modificao de suas normas por um processo idntico ao de qualquer outra lei.
Constituio semirrgida: so as que contm uma parte rgida e outra flexvel,
como a Constituio imperial brasileira de 1824
Constituies rgidas: exclusivamente modificadas mediante procedimentos
mais solenes e complexos que o processo legislativo ordinrio.
Constituio super-rgida: alguns autores nos trazem este outro tipo, que seria
uma Constituio rgida que contm pontos imutveis (clusulas ptreas), como
ocorre com a Constituio brasileira de 1988 (CF, art. 60, 4.).
-
4
g)quanto a extenso
Constituies concisas: tambm conhecidas como bsicas, so aquelas que
contem apenas princpios gerais ou que proclamam regras bsicas de organizao e
funcionamento do sistema estatal.
Constituies prolixas: contm matrias que, por sua natureza so alheias ao
direito constitucional.
h) quanto a funo
Constituio garantia: Alm de princpios materiais estruturantes como o
princpio do Estado de direito, o princpio democrtico, o princpio republicano e o
princpio pluralista, esta espcie de Constituio estabelece to somente uma
liberdade-negativa ou liberdade-impedimento oposta autoridade estatal, com a
finalidade precpua de assegurar certos direitos.
A Constituio programtica: se diferencia por conter normas definidoras de
tarefas e programas de ao a serem concretizados pelos poderes pblicos.
i) quanto a dogmtica
Constituies ortodoxas: so as que abraam apenas uma ideologia poltica
informadora de suas concepes, afastando o pluralismo poltico.
Constituies eclticas: so aquelas que procuram conformar ideologias
opostas.
j) quanto a finalidade
Constituio provisria ou revolucionaria: esta pr-Constituio tem duas
finalidades:
I) definir o regime de elaborao e aprovao da Constituio formal; e
II) estruturar o poder poltico no interregno constitucional, eliminando os restos
do antigo regime.
Constituio definitiva: como pretende ser uma Constituio, ou seja, produto
final do processo constituinte.
-
5
1.5.2 A CLASSIFICAO DA CONSTITUIO DE 1988
Considerando as espcies acima estudadas, a atual Constituio brasileira
pode ser classificada como: Escrita, codificada, democrtica, dogmtica, rgida,
formal, prolixa, dirigente, ecltica, definitiva.
1.6 FUNDAMENTOS
Quando se fala em fundamentos, devemos compreender como os valores
estruturantes de um Estado, destinadas a estabelecer as bases sociais, polticas,
administrativas e jurdicas.
Na constituio de 1988, em seu artigo 1, temos as informaes que do a
razo da essncia e mantimento do Estado Brasileiro.
Art. 1 A Repblica Federativa do Brasil, formada pela unio indissolvel dos Estados e Municpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrtico de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo poltico. Pargrafo nico. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituio.
a) soberania
Definida como um poder poltico supremo e independente.
Supremo, por no estar limitado por nenhum outro na ordem interna.
Independente, por no ter de acatar, na ordem internacional, regras que no
sejam voluntariamente aceitas e por estar em igualdade com os outros Estados.
b) cidadania
Incide na participao poltica do individuo nos interesses do Estado e ate
mesmo em outras reas de negcio publico.
c) dignidade da pessoa humana
o valor constitucional sumo que ir informar a criao, a interpretao e a
aplicao de toda a ordem normativa constitucional, sobretudo, o sistema de direitos
fundamentais.
-
6
Uma das decorrncias da consagrao da dignidade humana no texto
constitucional o reconhecimento de que a pessoa no meramente um espelho da
ordem jurdica, mas, ao contrrio, deve formar o seu objetivo supremo, sendo que na
relao, entre o indivduo e o Estado deve haver sempre uma altivez a favor do ser
humano e de sua personalidade.
O dever de respeito impede a realizao de atividades prejudiciais
dignidade ensejando a obrigao de absteno.
O dever de proteo exige uma ao positiva dos domnios pblicos na
defesa da dignidade contra qualquer espcie de violao, inclusive por parte de
terceiros.
O dever de promoo impe ao Estado uma atuao no sentido de
proporcionar os meios indispensveis a uma vida digna.
d) valor social do trabalho e da livre iniciativa
Impede a concesso de privilgios econmicos condenveis, por ser o
trabalho imprescindvel promoo da dignidade da pessoa humana. A partir do
momento em que contribui para progresso da sociedade qual pertence, o
indivduo se sente til e respeitado.
A liberdade de iniciativa est consagrada como princpio informativo e
fundante da ordem econmica (CF, art. 170), sendo constitucionalmente
assegurado a todos o livre exerccio de qualquer atividade econmica,
independentemente de autorizao de rgos pblicos, salvo nos casos previstos
em lei (CF, art. 170, pargrafo nico).
e) pluralismo poltico
Decorre do princpio democrtico, que impe a opo por uma sociedade
plural na qual a diversidade e as liberdades devem ser amplamente respeitadas.
Se traduz no pluralismo social, poltico (CF, art. 1.), partidrio (CF, art. 17),
religioso (CF, art. 19), econmico (CF, art. 170), de ideias e de instituies de ensino
(CF, art. 206, III), cultural (CF, arts. 215 e 216) e dos meios de informao (CF, art.
220).
-
7
1.7 OBJETIVOS FUNDAMENTAIS
Visam promoo e concretizao dos fundamentos da Repblica Federativa
do Brasil.
Diferentemente dos fundamentos (CF, art. 1.), que so valores estruturantes
do Estado brasileiro, os objetivos fundamentais consistem em algo exterior a ser
perseguido.
Estes objetivos esto aplicados em princpios que estabelecem os fins
precpuos para os quais os poderes pblicos devem empreender todos os esforos
necessrios para que sejam alcanados.
Art. 3 Constituem objetivos fundamentais da Repblica Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidria; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalizao e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raa, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminao.
1.8 SUPREMACIA DA CONSTITUIO FEDERAL
A supremacia do direito constitucional um pressuposto da funo
desempenhada pela Constituio como ordem jurdica fundamental.
Todos os poderes pblicos, encontram-se vinculados a Constituio, razo
pela qual a validade de qualquer de seus atos dependera da compatibilidade com
ela.
1.9 PODER CONSTITUINTE 1.9.1 CONCEITO E FINALIDADE
O Poder Constituinte a manifestao soberana da suprema vontade poltica
de um povo, social e juridicamente organizado.
A doutrina aponta a contemporaneidade da ideia de Poder Constituinte com a
do surgimento de Constituies escritas, visando limitao do poder estatal e a
preservao dos direitos e garantias individuais.
-
8
1.9.2 TITULARIDADE DO PODER CONSTITUINTE
O titular do Poder Constituinte, segundo o abade Emmanuel Sieys (1), um
dos precursores dessa doutrina, a nao, pois a titularidade do Poder liga-se
idia de soberania do Estado, uma vez que mediante o exerccio do poder
constituinte originrio se estabelecer sua organizao fundamental pela
Constituio, que sempre superior aos poderes constitudos, de maneira que toda
manifestao dos poderes constitudos somente alcana plena validade se se
sujeitar Carta Magna.
Modernamente, porm, predominante que a titularidade do poder
constituinte pertence ao povo, pois o Estado decorre da soberania popular, cujo
conceito mais abrangente do que o de nao. Assim, a vontade constituinte a
vontade do povo, expressa por meio de seus representantes. Celso de Mello,
corroborando essa perspectiva, ensina que as Assemblias Constituintes "no
titularizam o poder constituinte. So apenas rgos aos quais se atribui, por
delegao popular, o exerccio dessa magna prerrogativa (1). Necessrio
transcrevermos a observao de Manoel Gonalves Ferreira Filho, de que "o povo
pode ser reconhecido como o titular do Poder Constituinte mas no jamais quem o
exerce. ele um titular passivo, ao qual se imputa uma vontade constituinte sempre
manifestada por uma elite". Assim, distingue-se a titularidade e o exerccio do Poder
Constituinte, sendo o titular o povo e o exercente aquele que, em nome do povo, cria
o Estado, editando a nova Constituio.
1.9.3 ESPCIES DE PODER CONSTITUINTE
O Poder Constituinte classifica-se em Poder Constituinte originrio ou de 1.
grau e Poder Constituinte derivado, constitudo ou de 2. grau.
a) PODER CONSTITUINTE ORIGINRIO
a.1 Conceito
O Poder Constituinte originrio estabelece a Constituio de um novo Estado,
organizando-o e criando os poderes destinados a reger os interesses de uma
-
9
comunidade. Tanto haver Poder Constituinte no surgimento de uma primeira
Constituio, quanto na elaborao de qualquer Constituio posterior.
A idia da existncia de um Poder Constituinte o suporte lgico de uma
Constituio superior ao restante do ordenamento jurdico e que, em regra, no
poder ser modificada pelos poderes constitudos. , pois, esse Poder Constituinte,
distinto, anterior e fonte da autoridade dos poderes constitudos, com eles no se
confundindo.
a.2 Formas de expresso do poder constituinte originrio
Inexiste forma prefixada pela qual se manifesta o poder constituinte originrio,
uma vez que apresenta as caractersticas de incondicionado e ilimitado. Pela anlise
histrica da constituio dos diversos pases, porm, h possibilidade de apontar
duas bsicas formas de expresso do poder constituinte originrio: Assemblia
Nacional Constituinte e Movimento Revolucionrio (outorga).
Tradicionalmente, a primeira Constituio de um novo pas, que conquiste em
sua liberdade poltica, ser fruto da primeira forma de expresso: o movimento
revolucionrio. Entretanto, as demais constituies desse mesmo pas adotaro a
segunda hiptese, ou seja, as assemblias nacionais constituintes.
Assim, so duas as formas bsicas de expresso do Poder Constituinte:
outorga e assemblia nacional constituinte/conveno.
A outorga o estabelecimento da Constituio por declarao unilateral do
agente revolucionrio, que autolimita seu poder. (Exemplos: Constituies de 1824,
1937 e Ato Institucional n. 1, de 9-4-1964.)
A assemblia nacional constituinte, tambm denominada conveno, nasce
da deliberao da representao popular, devidamente convocada pelo agente
revolucionrio, para estabelecer o texto organizatrio e limitativo de Poder.
(Exemplo: Constituies de 1891, 1934, 1946, 1967 e 1988.)
a.3 Caractersticas do poder constituinte originrio
O Poder Constituinte caracteriza-se por ser inicial, ilimitado, autnomo e
incondicionado.
O Poder Constituinte inicial, pois sua obra - a Constituio - a base da
ordem jurdica.
-
10
O Poder Constituinte ilimitado e autnomo, pois no est de modo algum
limitado pelo direito anterior, no tendo que respeitar os limites postos pelo direito
positivo antecessor.
O Poder Constituinte tambm incondicionado, pois no est sujeito a
qualquer forma prefixada para manifestar sua vontade; no tem ela que seguir
qualquer procedimento determinado para realizar sua obra de constitucionalizao.
b) PODER CONSTITUINTE DERIVADO
b.1 Conceito e caractersticas
O Poder Constituinte derivado est inserido na prpria Constituio, pois
decorre de uma regra jurdica de autenticidade constitucional, portanto, conhece
limitaes constitucionais expressas e implcitas e passvel de controle de
constitucionalidade.
Apresenta as caractersticas de derivado, subordinado e condicionado.
derivado porque retira sua fora do Poder Constituinte originrio; subordinado
porque se encontra limitado pelas normas expressas e implcitas do texto
constitucional, s quais no poder contrariar, sob pena de inconstitucionalidade; e,
por fim, condicionado porque seu exerccio deve seguir as regras previamente
estabelecidas no texto da Constituio Federal.
b.2 Espcies de poder constituinte derivado
O Poder Constituinte derivado subdivide-se em poder constituinte reformador
e decorrente.
O Poder Constituinte derivado reformador, denominado por parte da doutrina
de competncia reformadora, consiste na possibilidade de alterar-se o texto
constitucional, respeitando-se a regulamentao especial prevista na prpria
Constituio Federal e ser exercitado por determinados rgos com carter
representativo. No Brasil, pelo Congresso Nacional. Logicamente, s estar
presente nas Constituies rgidas e ser estudado mais adiante no capitulo sobre
emendas constitucionais.
O Poder Constituinte derivado decorrente, por sua vez, consiste na
possibilidade que os Estados-membros tm, em virtude de sua autonomia poltico-
administrativa, de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituies
-
11
estaduais, sempre respeitando as regras limitativas estabelecidas pela Constituio
Federal.
1.9.4 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
1.9.1 CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
Base Legal: Art. 102 da CRFB/88, Lei n. 9868/99 e Lei 9882/99.
O Controle Concentrado possui outros nomes: controle em tese, controle
por via de ao e controle abstrato. O controle chamado de concentrado porque
realizado por um nico rgo. Na esfera federal, pelo Supremo Tribunal Federal.
Na esfera estadual, pelos Tribunais de Justia. conhecido como controle em tese
e controle abstrato porque no existe um caso concreto para o juiz julgar. O que
existe um ataque direto lei, no caso das ADINs ou a tentativa de confirmar a sua
constitucionalidade no caso da ADC ou ADCON. Neste tipo de controle no h caso
concreto, pois o que se pretende a anlise da prpria lei. (se ou no
constitucional). Finalmente, conhecido como controle por via de ao porque
para buscar analisar a constitucionalidade de uma lei preciso requerer por meio de
uma ao.
Todas as espcies de ao do controle concentrado sero descritas abaixo.
O Controle Concentrado e feito por diversas aes:
1) Ao de Inconstitucionalidade Genrica (Adin genrica ou ADI)
2) Ao Direta de Inconstitucionalidade Intervertiva (Adin Interventiva)
3) Ao Declaratria de Constitucionalidade (Adcon ou ADC)
4) Ao Direta de Inconstitucionalidade por Omisso (Adin por omisso)
5) Argio de Descumprimento de Preceito Fundamental
1) Ao de Inconstitucionalidade Genrica (Adin genrica)
Base Legal: Lei n. 9868/99 e Art 102, I da CRFB/88
Objetivo: declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo FEDERAL,
ESTADUAL OU DISTRITAL (somente quando o Distrito Federal exercer a
competncia legislativa de Estado membro).
DICA: O Distrito Federal um ente federativo sui generis, porque ele no
estado e tambm no municpio. O Distrito Federal possui governador, como se
estado fosse, mas regido por lei orgnica, como se municpio fosse. A Constituio
-
12
Federal prev competncia legislativa dupla para o Distrito Federal: ele legisla na
competncia de estado membro e legisla na competncia de municpio. Assim,
como s cabe Adin de lei federal e estadual, S CABE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DISTRITAL SE O DISTRITO FEDERAL
EDITOU O ATO LEGISLATIVO NA COMPETNCIA DE ESTADO MEMBRO DA
FEDERAO, ISTO , SE AQUELE ATO NORMATIVO DA COMPETNCIA DO
ESTADO. SE O DISTRITO FEDERAL EDITOU A LEI NA COMPETNCIA DE
MUNICPIO, A LEI DISTRITAL NO PODE SER OBJETO DE ADIN.
Legitimidade Ativa para Adin Genrica (quem pode propor): Os legitimados
ativos esto previstos no art.103 da Constituio Federal. So eles:
1) Presidente da Repblica;
2) Mesa do Senado Federal;
3) Mesa da Cmara dos Deputados;
4) Mesa da Assemblia Legislativa ou da Cmara Legislativa do Distrito
Federal,;
5) Procurador Geral da Repblica;
6) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
7) Partido Poltico com representao no Congresso Nacional;
8) Confederao Sindical;
9) Entidade de Classe de mbito Nacional.
A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal criou uma diferena entre os
legitimados: para o STF, existem os legitimados universais e os legitimados neutros.
Os legitimados ativos universais so assim nomeados porque podem propor
uma Ao Direta de Inconstitucionalidade sobre qualquer assunto, eis que a prpria
natureza do cargo ou a atribuio do rgo j justifica a propositura da ao. So
eles: o Presidente da Repblica, o Procurador Geral da Repblica, as Mesas da
Cmara dos Deputados e do Senado Federal, os Partidos Polticos com
representao no Congresso Nacional e o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Os legitimados ativos especiais no tm a mesma prerrogativa. Em razo da
natureza do cargo ou da atribuio, devem provar PERTINNCIA TEMTIVA, ou
seja, devem comprovar o legtimo interesse que possuem na discusso do tema,
para que possam ver a Ao Direta de Inconstitucionalidade apreciada pela Corte
-
13
Maior. So eles: o Governador de Estado, a Mesa da Assemblia Legislativa do
Estado, a Confederao Sindical e a Entidade de classe de mbito nacional.
Procedimento na ADIN Genrica
Ao receber a ao, o Ministro Relator requisitar informaes autoridade
responsvel pela edio da lei ou do ato normativo questionado na ADIN Genrica.
As informaes tm prazo de 30 dias para chegar. Muito embora seja um
direito da autoridade que editou o ato normativo prestar informaes, ela no tem a
obrigao de faz-lo. Portanto, a ADIN prosseguir com ou sem informaes, desde
que respeitado o prazo de 30 dias para aguard-las.
Manifestao do Advogado-Geral da Unio (A.G.U.): o legtimo defensor
do Princpio de Presuno Relativa das leis infraconstitucionais. Ele tem a misso de
defender a norma impugnada, da ser chamado de defensor legis. Ele dever
tentar provar que a presuno de constitucionalidade absoluta (iure et de iure),
buscando que a ADIN seja julgada IMPROCEDENTE.
Manifestao do Procurador Geral da Repblica (P.G.R.): Sua funo
diferente. Alm de ser um dos legitimados para propor a ADIN, ele tem funo de
custos legis, ou seja, sua funo de fiscal da lei. ele o responsvel por emitir
parecer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei impugnada. Este
parecer no vincula os Ministros do STF. Ele apenas opina.
Julgamento da ADIN: O julgamento feito em Plenrio, em respeito ao
artigo 97 da CRFB/88. O quorum mnimo para instalao da sesso de 8 ministros.
A deciso tomada por maioria absoluta.
Amicus curiae (rgo que possui representatividade comprovada para
defender seus interesses): dependendo do caso a L9868/99 passou a permitir que o
relato da Ao Direita de Constitucionalidade considerado a relevncia da matria e
a representatividade do rgo ou entidade, possa admitir a manifestao de tais
rgos para que defendam seu ponto de vista quanto a matria.
Efeitos da declarao da ADIN (Artigo 24 da L9868/99)
Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual, a deciso ter efeito retroativo (ex tunc) e erga omnes, ou seja,
-
14
a deciso vale para todos. Porm, existem duas excees ao efeito retroativo,
excees estas previstas no art. 27 da L9868/99: pode o Supremo decidir por
maioria de 2/3 dos seus membros que a deciso na ADIN s passe a produzir
efeitos e eficcia a partir do transito em julgado ou de outro momento que venha a
ser fixado, porm, tal deciso somente pode ser tomada por razes de segurana
jurdica ou de excepcional interesse social.
Cabe medida liminar na ADIN?
Sim. Quando isto ocorre preciso provar perigo de leso irreparvel, ou seja,
haveria perigo para sociedade caso necessitasse esperar pelo julgamento do
Supremo que s vezes pode ser demorado. O efeito que provoca a liminar a
suspenso do Ato Normativo ou da Lei Impugnada at que o Supremo decida a
questo.
Observaes importantes:
1 Observao: a doutrina e o prprio STF costumam dividir os legitimados
ativos para propor a ADIN (art. 103 CRFB) em relao chamada PERTINNCIA
TEMTICA.
Os Legitimados Ativos Especiais que so a Mesa da Assemblia
Legislativa ou da Cmara Legislativa do Distrito Federal, os Governadores de
Estado ou do Distrito Federal, as Confederaes Sindicais e Entidades de mbito
Nacional.
Tais pessoas ou rgos necessitam comprovar o interesse especfico em
impugnar determinada lei, ou seja, o assunto da ADIN tem que ser pertinente ao
interesse de tais pessoas, em conseqncia, por exemplo, o Governador do Estado
do Rio de Janeiro no pode pleitear a inconstitucionalidade de uma Lei do
Amazonas, pois tal lei nenhum efeito tem em relao ao Estado do Rio.
Ao contrrio dos Legitimados Ativos Especiais, existem os chamados
Legitimados Ativos Universais, que so o Presidente da Repblica, a Mesa do
Senado Federal e da Cmara dos Deputados, o Procurador Geral da Repblica,
Partido Poltico com representao no Congresso e Conselho Federal da OAB. Para
estes o Supremo presume de forma absoluta a pertinncia temtica, ou seja, ao
-
15
contrrio dos Legitimados Universais, tais pessoas ou rgos no precisam
demonstrar interesse.
2. Observao: alm de o Controle Difuso ter validade somente entre as
partes do processo desde que o Senado no suspenda a execuo da lei para
todos, cabe ressaltar que os efeitos da deciso no Controle Difuso so ex tunc
(retroagem).
Quando o Senado suspende a eficcia, os efeitos passam a ser erga omnes e
ex nunc (no retroagem).
2) Ao Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (ADIN
Interventiva)
Base Legal: Artigo 36, III, 3. e art. 34, VII da CRFB/88.
A Ao Direta de Inconstitucionalidade Interventiva possui este nome porque
tem dupla finalidade.
A primeira delas uma finalidade jurdica, isto porque se o STF, se assim
decidir, declarar a sua inconstitucionalidade.
A segunda finalidade poltica, isto por que caso a Declarao de
Inconstitucionalidade no baste para a retomada da ordem jurdica, ocorrer
decretao da interveno federal.
Trata-se, portanto, de uma espcie de interveno que depende de requisio
de Tribunal; por isso classificada com interveno provocada.
rgo Competente para Julgamento: Supremo Tribunal Federal
Quem possui legitimidade Ativa para ajuiz-la?
Somente uma pessoa: O PGR (Procurador Geral da Repblica, conforme
estabelece o artigo 36, III da CRFB/88).
-
16
Hiptese: Quando um Estado-Membro viola os Princpios Constitucionais
sensveis previstos no artigo 34, VII da CRFB/88.
Procedimento: Uma vez que o STF declare a Inconstitucionalidade da Lei
Estadual, o Supremo publicar a deciso aps o seu trnsito em julgado, feito isso, o
Supremo comunicar a deciso a autoridade interessada (aquela que editou a lei)
bem como ao Presidente da Repblica para que providencie as medidas
constitucionais.
Caso o Decreto do Presidente d suspenso da Execuo do Ato Impugnado
bastar para a retomada da normalidade da Ordem Jurdica, nestes termos, ser
expedido o Decreto, porm, se tal medida no bastar, o Presidente ento tomar a
medida excepcional de decretao da interveno federal no Estado-Membro,
baseado no artigo 34, VII da CRFB/88. Se assim proceder estar realizando a
atividade poltica da ADIN Interventiva.
Cabe lembrar que a Interveno Federal requer o Controle Poltico pelo
Congresso Nacional, porm, neste caso por tratar de Ordem Judicial, a prpria
CRFB/88 dispensa o Controle Poltico, ou seja, a apreciao da medida pelo
Congresso Nacional, conforme artigo 36, 3.
3) Ao Declaratria de Constitucionalidade (AdCon)
Base Legal: Artigo 103 da CRFB/88.
rgo Competente: Supremo Tribunal Federal
Legitimidade Ativa: Artigo 103 (ATENO: A Emenda Constitucional
45 mudou a redao deste artigo).
Finalidade: A Ao Declaratria de Constitucionalidade tem por
finalidade afastar a insegurana jurdica ou o estado de incerteza sobre a
insconstitucionalidade de Lei ou Ato Normativo Federal.
A Adcon ou ADEC visa transformar a presuno relativa de
constitucionalidade em presuno absoluta.
-
17
Objetivo: Lei ou Ato Normativo Federal.
Pressuposto para o seu ajuizamento: Comprovada a controvrsia
judicial que coloque em risco a presuno relativa de constitucionalidade de Lei
Federal. O STF ir analisar as alegaes a favor e contra a constitucionalidade, bem
como o modo como esto sendo decididas as questes envolvendo a lei.
Procedimento: Previsto na L9868/99 (Mas ateno com as mudanas
constitucionais).
Efeitos: ex tunc e erga omnes.
Observao: imperioso ressaltar que a condio para a propositura para
Ao Declaratria de Constitucionalidade a existncia de controvrsia jurisdicional
sobre a lei, ou seja, os tribunais do pas esto interpretando de forma divergente a
constitucionalidade da lei, gerando insegurana jurdica.
4) Ao Direta de Inconstitucionalidade por Omisso (AIPO) ou (ADIPO)
Base Legal: Lei 9.868/99 e Artigo 103, 2. da CRFB/88.
Objetivo: Reconhecer a omisso do poder responsvel por regulamentar
uma norma constitucional de eficcia limitada e conceder plena eficcia as leis que
carecem de regulamentao.
Neste caso, a inconstitucionalidade se caracteriza pela conduta negativa do
Poder Pblico, ou seja, a inrcia em regulamentar um norma constitucional pendente
de complementao. Esta a chamada Sndrome da Inefetividade, pois a
Constituio determina que o Poder Pblico emita um comando normativo e este
fica inerte.
Legitimidade para ajuizar a ADIN por Omisso: Todos aqueles arrolados
no art. 103 da CRFB/88.
-
18
Procedimento: o mesmo da ADIN Genrica, salvo para o fato da ausncia
de obrigatoriedade da participao (OITIVA) do Advogado-Geral da Unio, pois no
h lei ou ato normativo a ser defendido. Conforme lei atualizadora de 2009, pode o
Relator intimar o AGU para se manifestar no prazo de 15 dias.
MUDANA RECENTE (2009) Em caso de relevncia e urgncia da matria,
o Tribunal, por deciso da maioria absoluta dos seus membros, poder conceder
medida cautelar que pode consistir na suspenso da aplicao da lei ou do ato
normativo questionado, no caso de omisso parcial, bem como na suspenso de
processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra
providncia a ser fixada pelo Tribunal.
Deciso: Declarando a Inconstitucionalidade por Omisso, o STF dar
cincia ao Poder ou rgo Competente para:
rgo Administrativo: Adoo de Providncias necessrias em 30 dias ou
em prazo razovel a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista
as circunstncias especficas do caso e o interesse pblico envolvido. A fixao de
prazo permite a responsabilizao do Poder Pblico no futuro.
Poder Legislativo: Cincia ao rgo para adoo das providncias
necessrias, sem prazo pr-estabelecido. Declarada a Inconstitucionalidade por
Omisso e estando ciente o rgo responsvel por editar o regulamento, os efeitos
so ex tunc e erga omnes possibilitando a responsabilizao do Estado por perdas e
danos.
5) Argio de Descumprimento de Preceito Fundamental art. 102,
1. CRFB L9882/99
rgo Competente: STF
Legitimidade Ativa: Todos os arrolados no artigo 103 da CRFB/88.
-
19
Finalidade: Evitar ou Reparar leso a Preceito Fundamental resultante de
Ato do Poder Pblico, bem como solucionar controvrsia constitucional a respeito de
Lei ou Ato Normativo Federal, Estadual ou Municipal, INCLUDOS os anteriores
Constituio Federal.
O que so os Preceitos Fundamentais (controvrsia)
Para alguns autores so as regras e princpios que expressam valores
constitucionais que asseguram a continuidade e a estabilidade do ordenamento
jurdico democrtico.
Ex.:
1) Princpios Fundamentais Republicano
(Artigo 1 o 4) Federativo
Presidencialista
Democrtico
Separao de poderes
2) Direitos Fundamentais Individuais
(Artigo 5) Sociais
de Nacionalidade
Polticos
3) Princpios da Administrao Pblica Legalidade
(Artigo 1 o 4) Impessoalidade
Moralidade
Publicidade
Eficincia
-
20
4) Limitaes Materiais Explcitas ao Poder Reformador (clusulas
ptreas, artigo 60, IV).
Requisitos da Petio Inicial
Preceito Fundamental que se considera Violado
Ato Estatal Questionado
Pedido com Especificaes
Demonstrao de Controvrsia Judicial Relevante sobre a
aplicao do Preceito Fundamental.
ATENO: A ADPF orientada pelo Princpio da Subsidiariedade, ou seja,
somente possvel ajuizar este tipo de ao se no existir outro meio judicial
EFICAZ para evitar ou sanar a leso a um Preceito Fundamental.
2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS APLICADOS A ATIVIDADE POLICIAL
2.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS DIMENSES
O Ttulo II da Constituio brasileira de 1988 dedicado aos direitos e
garantias fundamentais.
Observa-se que, dentro da sistemtica adotada pela Constituio brasileira, o
termo direitos fundamentais gnero, abrangendo as seguintes espcies: direitos
individuais, coletivos, sociais, nacionais e polticos.
Direitos fundamentais so os considerados indispensveis pessoa humana,
necessrios para assegurar a todos uma existncia digna, livre e igual, ou seja,
devendo ser, por isso, reconhecidos e incorporados ao direito positivo. No basta ao
Estado reconhecer direitos formalmente, devendo este, por isso, buscar concretiz-
los, incorpor-los no dia a dia dos cidados e de seus agentes.
A doutrina aponta a existncia de trs geraes de direitos fundamentais.
Utiliza-se o termo geraes porque, em momentos histricos distintos, surgiu a
tutela de novos direitos. Observa-se que no existe contradio alguma entre eles.
Todos so tratados como igualmente fundamentais. Interessa ao indivduo e
sociedade a proteo de todos os interesses considerados indispensveis pessoa
humana.
-
21
As trs geraes ou dimenses de direitos fundamentais so as seguintes:
a) direitos individuais;
b) direitos sociais;
c) direitos de fraternidade.
Como do conhecimento de todos, o iderio poltico dos revolucionrios
franceses de 1789 era resumido em uma grande palavra de ordem: liberdade,
igualdade e fraternidade. Cada gerao de direitos representa a conquista pela
humanidade de um desses grandes postulados.
A primeira gerao, dos direitos individuais e polticos, corresponde ao ideal
da liberdade; a segunda gerao, dos direitos sociais, econmicos e culturais,
atende ao princpio da igualdade; e a terceira gerao, dos direitos de grupos de
pessoas coletivamente consideradas, corresponde ao postulado da fraternidade.
A primeira gerao corresponde aos direitos de liberdade, abrangendo
direitos individuais e polticos, dentro do modelo clssico de Constituio. So limites
impostos atuao do Estado, resguardando direitos considerados indispensveis a
cada pessoa humana. Significam uma prestao negativa, um no fazer do Estado,
em prol do cidado. Exemplos de direitos individuais: liberdade de locomoo,
inviolabilidade de domiclio e de correspondncia etc.
A segunda gerao corresponde aos direitos de igualdade, abrangendo os
direitos sociais e econmicos. So direitos de contedo econmico e social que
visam melhorar as condies de vida e de trabalho da populao. Significam uma
prestao positiva, um fazer do Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem
social e econmica. Exemplos de direitos sociais: salrio mnimo, aposentadoria,
previdncia social, dcimo terceiro salrio, frias remuneradas etc.
A terceira gerao corresponde aos direitos de fraternidade ou de
solidariedade. Ao lado dos tradicionais interesses individuais e sociais, o Estado
passou a proteger outras modalidades de direito. So novos direitos, decorrentes de
uma sociedade de massas, surgida em razo dos processos de industrializao e
urbanizao, em que os conflitos sociais no mais eram adequadamente resolvidos
dentro da antiga tutela jurdica voltada somente para a proteo de direitos
individuais. Exemplos de direitos de fraternidade: ao desenvolvimento, paz, ao
meio ambiente, sobre o patrimnio comum da humanidade, o direito de
comunicao, proteo ao consumidor etc.
-
22
2.2 FUNDAMENTOS DO ESTADO BRASILEIRO
A Constituio, logo em seu art. 1, aponta os cinco fundamentos da
organizao do Estado brasileiro. Eles devem ser interpretados como os principais
valores na organizao da ordem social e jurdica brasileira. So eles:
4.2.1 Soberania Constitui um dos atributos do prprio Estado, pois no existe Estado sem
soberania. Significa a supremacia do Estado brasileiro na ordem poltica interna e a
independncia na ordem poltica externa.
4.2.2 Cidadania O termo cidadania foi empregado em sentido amplo, abrangendo no s a
titularidade de direitos polticos, mas tambm civis. Alcana tanto o exerccio do
direito de votar e ser votado como o efetivo exerccio dos diversos direitos previstos
na Constituio, tais como educao, sade e trabalho.
4.2.3 Dignidade da pessoa humana O valor dignidade da pessoa humana deve ser entendido como o absoluto
respeito aos direitos fundamentais de todo ser humano, assegurando-se condies
dignas de existncia para todos. O ser humano considerado pelo Estado brasileiro
como um fim em si mesmo, jamais como meio para atingir outros objetivos.
4.2.4 Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa O trabalho e a livre iniciativa foram identificados como fundamentos da ordem
econmica estabelecida no Brasil, ambos considerados indispensveis para o
adequado desenvolvimento do Estado brasileiro. Esses dois fatores revelam o modo
de produo capitalista vigente. A Constituio pretende estabelecer um regime de
harmonia entre capital e trabalho.
4.2.5 Pluralismo poltico O pluralismo poltico significa a livre formao de correntes polticas no Pas,
permitindo a representao das diversas camadas da opinio pblica em diferentes
segmentos. Esse dispositivo constitucional veda a adoo de leis infraconstitucionais
-
23
que estabeleam um regime de partido nico ou um sistema de bipartidarismo
forado ou que impeam uma corrente poltica de se manifestar no Pas.
2.3 DIREITOS, GARANTIAS E PRINCPIOS FUNDAMENTAIS EM ESPCIE
No ordenamento jurdico pode ser feita uma distino entre normas
declaratrias, que estabelecem direitos, e normas assecuratrias, as garantias, que
asseguram o exerccio desses direitos. Exemplo: o direito liberdade de locomoo,
presente no art. 5, XV, uma norma declaratria, enquanto o direito ao habeas
corpus, fixado no art. 5, LXVIII, constitui uma garantia.
Apesar disso, convm ressaltar que as garantias de direito fundamental no
se confundem com os remdios constitucionais. Pois aquelas so de contedo mais
abrangente, incluindo todas as disposies assecuratrias de direitos previstas na
Constituio.
So considerados bsicos os expressamente previstos no caput do art. 5 da
Constituio Federal. So cinco: vida, liberdade, igualdade, segurana e
propriedade. H quem sustente que todos os demais direitos individuais so
decorrncias desses direitos individuais bsicos.
2.3.1 Direito vida O direito vida o principal direito individual, o bem jurdico de maior
relevncia tutelado pela ordem constitucional, pois o exerccio dos demais direitos
depende de sua existncia. Seria absolutamente intil tutelar a liberdade, a
igualdade e o patrimnio de uma pessoa sem que fosse assegurada a sua vida.
Do direito vida decorre uma srie de outros direitos, como o direito
integridade fsica e moral, a proibio da pena de morte e da venda de rgos, bem
como a punio da violao destes direitos como homicdio, eutansia, aborto e
tortura.
Obs: A prtica da tortura A preocupao com a integridade fsica, decorrente do direito vida,
transcende em diversos dispositivos constitucionais. Considerando a prtica
corriqueira da tortura em presos comuns e polticos durante os anos do regime
militar, a Constituio de 1988, em diversos incisos do art. 5, deixou patente seu
repdio a essa forma de investigao.
-
24
No inciso III estabeleceu que ningum ser submetido a tortura. No inciso
XLIX assegura aos presos o respeito integridade fsica e moral. No inciso XLIII
considera inafianvel e insuscetvel de graa ou anistia a prtica da tortura. Esse
dispositivo foi regulamentado pela Lei n. 9.455/97.
A tortura, nos termos de nossa legislao penal, deve ser entendida como a
imposio de qualquer sofrimento fsico ou mental, mediante violncia ou grave
ameaa, com a finalidade de obter informaes ou confisso, para provocar
qualquer ao ou omisso de natureza criminosa, em razo de discriminao racial
ou religiosa, bem como forma de aplicao de castigo pessoal ou medida de carter
preventivo a indivduos submetidos guarda do Estado ou de outra pessoa.
2.3.2 Direito liberdade ou s liberdades
Liberdade a faculdade que uma pessoa possui de fazer ou no fazer
alguma coisa. Envolve sempre um direito de escolher entre duas ou mais
alternativas, de acordo com sua prpria vontade.
O direito de liberdade no absoluto, pois a ningum dada a faculdade de
fazer tudo o que bem entender. Essa concepo de liberdade levaria sujeio dos
mais fracos pelos mais fortes. Para que uma pessoa seja livre indispensvel que
os demais respeitem a sua liberdade.
Em termos jurdicos, o direito de fazer ou no fazer alguma coisa, seno em
virtude da lei. Um indivduo livre para fazer tudo o que a lei no probe.
Considerando o princpio da legalidade (art. 5, II), apenas as leis podem limitar a
liberdade individual.
Obs 1: Liberdade de pensamento O pensamento pertence ao prprio indivduo, uma questo de foro ntimo. A
tutela constitucional surge no momento em que ele exteriorizado com a sua
manifestao. Se o pensamento, em si, absolutamente livre, sua manifestao j
no pode ser feita de forma descontrolada, pois o abuso desse direito passvel de
punio.
Essa a razo pela qual a Constituio, em seu art. 5, IV, estabelece que
livre a manifestao do pensamento, sendo vedado o anonimato.
-
25
Obs 2: Vedao do anonimato Se a Constituio assegura a liberdade de manifestao de pensamento, as
pessoas so obrigadas a assumir a responsabilidade do que exteriorizam. Ningum
pode fugir da responsabilidade do pensamento exteriorizado, escondendo-se,
covardemente, sob a forma do anonimato, pois a manifestao de pensamento deve
ser exercido de maneira responsvel, no se tolerando o exerccio abusivo desse
direito em detrimento da honra das demais pessoas.
Obs 3: Liberdade de manifestao de pensamento O constituinte de 1988, com a redemocratizao do Pas, evidenciou sua
preocupao em assegurar ampla liberdade de manifestao de pensamento, o que
fez em diversos dispositivos constitucionais.
O art. 5, IV, estabelece que livre a manifestao do pensamento. O inciso
IX desse mesmo artigo reitera, de forma mais especfica, que livre a expresso da
atividade intelectual, artstica, cientfica e de comunicao, independentemente de
censura ou licena.
Essa liberdade deve ser exercida de forma responsvel, assegurando a
Constituio, em caso de abuso, direito de resposta, alm de indenizao moral e
material pessoa ofendida.
Obs 4: Liberdade de crena e de culto A liberdade de crena de foro ntimo, em questes de ordem religiosa.
importante salientar que inclui o direito de professar ou no uma religio, de
acreditar ou no na existncia de um ou diversos deuses. O prprio atesmo deve
ser assegurado dentro da liberdade de crena. A liberdade de culto a
exteriorizao daquela.
Se a Constituio assegura ampla liberdade de crena, a de culto deve ser
exteriorizada na forma da lei, como estabelece o art. 5, VI, da Constituio.
A liberdade de culto inclui o direito de honrar as divindades preferidas,
celebrar as cerimnias exigidas pelos rituais, a construo de templos e o direito de
recolher contribuies dos fiis.
A Constituio de 1824 estabelecia a Catlica Apostlica Romana como a
religio do Imprio, permitindo apenas o culto domstico para as outras crenas.
Essa discriminao foi abolida com a proclamao da Repblica.
-
26
Como no nosso pas o sistema de relacionamento entre a Igreja e o Estado
caracterizado pela Separao, ou seja, vigora o regime de absoluta distino entre o
Estado e todas as Igrejas, a CRFB/88 a Constituio Federal, em seu art. 19, veda
Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municpios estabelecerem cultos
religiosos ou igrejas, subvencion-los, como tambm, embaraar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relaes de
dependncia ou aliana, ressalvada, na forma da lei, a colaborao de interesse
pblico.
Obs 5: Liberdade de locomoo
A liberdade de locomoo consiste no direito de ir e vir. Para outros, no direito
de ir, vir e ficar. O direito de permanecer no local em que se encontra est includo
no de ir e vir.
A Constituio Federal, no art. 5, XV, estabelece que livre a locomoo no
territrio nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
A Constituio prev como garantia da liberdade de locomoo a ao de
habeas corpus (CF, art. 5, LXVIII).
Obs 6: Liberdades de expresso coletiva As liberdades de expresso coletiva so modalidades de direitos individuais,
abrangendo o direito ou a liberdade de reunio e o direito ou a liberdade de
associao (CF, art. 5, XVI e XVII a XXI).
So considerados direitos individuais, pois pertencem ao indivduo, e de
expresso coletiva, porque pressupem uma pluralidade de pessoas para que
possam ser exercidos.
A liberdade de reunio deve ser entendida como o agrupamento de pessoas,
organizado, de carter transitrio, com uma determinada finalidade. Em locais
abertos ao pblico, assegurada expressamente no art. 5, XVI, da atual
Constituio, desde que observados determinados requisitos: a) reunio pacfica,
sem armas; b) fins lcitos; c) aviso prvio autoridade competente; e d) realizao
em locais abertos ao pblico.
-
27
A liberdade de reunio em locais fechados garantida pelo texto
constitucional de forma implcita, podendo ser exercida sem a exigncia de prvio
aviso autoridade competente.
O aviso prvio no se confunde com a exigncia de autorizao do Poder
Pblico. Sua finalidade evitar a frustrao de outra reunio previamente convocada
para o mesmo local.
A liberdade de reunio regulamentada pela Lei n. 1.207/50 e por algumas
leis eleitorais, sendo a sua violao punida como abuso de autoridade (Lei n.
4.898/65, art. 3, h).
J a liberdade de associao deve ser entendida como o agrupamento de
pessoas, organizado e permanente, para fins lcitos. Distingue-se do direito de
reunio por seu carter de permanncia e abrange o direito de associar-se a outras
pessoas para a formao de uma entidade, o de aderir a uma associao j
formada, o de desligar-se da associao, bem como o de auto-dissoluo das
associaes.
A atual Constituio, no art. 5, XVII a XXI, assegura ampla liberdade de
associao para fins lcitos. Associaes podem ser criadas independente de
autorizao, proibida qualquer interferncia do Estado em seu funcionamento interno
e somente podem ser dissolvidas por deciso judicial transitada em julgado.
Foi conferida pela Constituio legitimidade para as associaes na defesa
judicial e extrajudicial de seus filiados. Elas atuam como substituto processual,
postulando, em nome prprio, direitos de seus filiados. Para tanto, basta que as
entidades estejam regularmente funcionando e possuam clusula especfica em seu
estatuto, independente de autorizao em assemblia-geral (situao
regulamentada pela Lei n. 1.134/50, recepcionada pela ordem constitucional
vigente).
Obs 7: Liberdade de ao profissional A liberdade de ao profissional consiste na faculdade de escolha de trabalho
que se pretende exercer (CF, art. 5, XIII). o direito de cada indivduo exercer
qualquer atividade profissional, de acordo com as suas preferncias e
possibilidades.
Mas, para o exerccio de determinados trabalhos, ofcios ou profisses, a
Constituio estabelece que podem ser feitas certas exigncias pela legislao
-
28
ordinria. Para o exerccio da profisso de advogado, por exemplo, o indivduo
precisa ser formado em uma faculdade de direito e ter sido aprovado no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil.
2.3.3 Direito de igualdade (princpio da isonomia ou da igualdade) O direito de igualdade consiste em afirmar que todos so iguais perante a lei,
sem distino de qualquer natureza (CF, art. 5, caput). Ento, no se admite
discriminao de qualquer natureza em relao aos seres humanos.
Esse princpio vem repetido em diversos dispositivos constitucionais,
realando a preocupao do constituinte com a questo da busca da igualdade em
nosso pas. O prembulo j traz a igualdade como um dos valores supremos do
Estado brasileiro. O art. 3 estabelece entre as metas do Brasil a erradicao da
pobreza e da marginalizao, a reduo das desigualdades sociais e regionais e a
promoo do bem de todos, sem preconceitos de origem, raa, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminao.
O fundamento do direito de igualdade encontra-se no princpio de que todos
devem ser tratados de forma igual perante a lei (igualdade formal).
Igualdade tambm consiste em tratar igualmente os iguais, com os mesmos
direitos e obrigaes, e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade
(igualdade material). Diante disso, percebe-se que nem todo tratamento desigual
inconstitucional, somente o tratamento desigual que aumenta a desigualdade
naturalmente j existente.
So hipteses vlidas de tratamento diferenciado as que no ofendem o
princpio constitucional da igualdade, quando a prpria Constituio estabelece um
tratamento desigual (Exemplo: aposentadoria com menor idade e menos tempo de
contribuio para mulheres (arts. 40, III, e 201, 7) e a existncia de um
pressuposto lgico e racional que justifique a diferenciao efetuada, em
consonncia com os valores tutelados pela Constituio (Exemplo: Lei Maria da
Penha).
Como fora dito anteriormente, h duas espcies de igualdade: formal e
material.
Na formal, dentro da concepo clssica do Estado Liberal, todos so iguais
perante a lei. J na material, denominada tambm de efetiva, real, concreta ou
situada, busca-se a igualdade de fato na vida econmica e social. Ento, resta claro
-
29
que no basta a igualdade formal. O Estado deve buscar que todos efetivamente
possam gozar dos mesmos direitos e obrigaes.
Alm disso, so destinatrios do princpio da igualdade tanto o legislador
como os aplicadores da lei. A igualdade na lei voltada para o legislador, vedando-
se a elaborao de dispositivos que estabeleam desigualdades entre as pessoas,
privilegiando ou perseguindo algumas. A igualdade perante a lei voltada para os
operadores do direito, que no podero utilizar critrios discriminatrios na aplicao
da lei, estabelecendo tratamento desigual para pessoas que se encontrem nas
mesmas condies.
Obs 1: distino em razo da idade A Constituio veda que a idade seja utilizada como fator de discriminao na
admisso a qualquer emprego, tanto na esfera privada como na pblica (arts. 7,
XXX, e 39, 3). Com fundamento nesse dispositivo constitucional, o Supremo
Tribunal Federal no tem admitido restries quanto idade para o ingresso em
carreiras burocrticas, mas Suprema Corte de nosso pas admite, em casos
excepcionais, a fixao de limite de idade em editais para o ingresso em carreiras
pblicas se a exigncia decorrer das atribuies do prprio cargo.
indispensvel que exista um pressuposto lgico e racional que justifique o
tratamento diferenciado, como o ingresso na Polcia Militar, Corpo de Bombeiros ou
nas Foras Armadas, profisses que exigem do candidato perfeita aptido fsica.
Obs 2: Distines em razo de raa, cor, etnia, religio e procedncia nacional Embora sem qualquer rigor cientfico, sustentava-se que a espcie humana
poderia ser classificada em trs raas: branca, negra e amarela. Trata-se de
terminologia superada, pois as semelhanas fsicas e genticas entre todos os seres
humanos so patentes e qualquer distino tem contedo poltico-social, gerando
discriminao e preconceito.
A cor corresponde simplesmente maior ou menor pigmentao da pele.
Etnia corresponde a um agrupamento de pessoas unidas pela mesma lngua, cultura
e conscincia. A religio a f professada por qualquer pessoa. E a procedncia
nacional a origem, o Estado ou a regio da qual o indivduo provm. Qualquer
discriminao com fundamento nesses critrios odiosa e merece ser severamente
reprimida.
-
30
A Constituio elevou a prtica de racismo a crime inafianvel e
imprescritvel, sujeito pena de recluso, nos termos da lei (art. 5, XLII). a Lei n.
7.716/89 que define os crimes resultantes de discriminao ou preconceito de raa,
cor, etnia, religio ou procedncia nacional (art. 1).
2.3.4 Direito segurana Segurana a tranquilidade do exerccio dos direitos fundamentais. No
basta ao Estado criar e reconhecer direitos ao indivduo; tem o dever de zelar por
eles, assegurando a todos o exerccio, com a devida tranquilidade, do direito a vida,
integridade fsica, liberdade, propriedade etc.
Os direitos relativos segurana do indivduo abrangem os direitos subjetivos
em geral e os relativos segurana pessoal. Dentre os subjetivos em geral,
encontramos o direito legalidade e segurana das relaes jurdicas. Os direitos
relativos segurana pessoal incluem o respeito liberdade pessoal, a
inviolabilidade da intimidade, do domiclio e das comunicaes pessoais e a
segurana em matria jurdica.
O princpio da legalidade vem estampado no inciso II do art. 5: ningum ser
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei. Trata-se
da base fundamental do Estado de Direito, a submisso de todos ao imprio da lei
(esta como produto da vontade geral
Fazendo a leitura em sentido inverso, pelo princpio da legalidade, um
indivduo pode fazer tudo o que a lei no probe ou no determina (autonomia da
vontade). J para a Administrao Pblica, conforme a cabea do art. 37 da
CRFB/88, o princpio da legalidade tem sentido mais restrito: o Poder Pblico s
pode fazer o que a lei autoriza (Supremacia do Interesse pblico).
A Segurana das relaes jurdicas o conjunto das condies que permitem
s pessoas o conhecimento antecipado das conseqncias jurdicas de seus atos.
Uma ordem jurdica pressupe a existncia de relaes estveis. Para assegurar a
segurana das relaes jurdicas, o princpio fundamental o da irretroatividade das
leis. Uma pessoa no pode ser surpreendida por conseqncias jurdicas
desfavorveis de leis elaboradas aps a realizao de sua conduta, mas, atendendo
ao interesse social, uma lei nova pode retroagir, desde que no prejudique situaes
jurdicas j consolidadas.
-
31
A segurana em matria pessoal abrange diversos direitos e garantias em
relao ao ser humano isoladamente considerado: inviolabilidade da intimidade, do
domiclio e das comunicaes pessoais, bem como diversas garantias em matria
penal e processual.
Em seu art. 5, X, a Constituio estabelece que so inviolveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizao
pelo dano material ou moral decorrente de sua violao. O direito privacidade,
dentro da sistemtica estabelecida pela Constituio, trata de uma denominao
genrica, que compreende a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.
Intimidade a qualidade do que ntimo, ou seja, interior a cada ser humano.
o direito de estar s, de no ser perturbado em sua vida particular.
A vida privada o relacionamento de uma pessoa com seus familiares e
amigos, o oposto da vida pblica, isto , a que se vive no recesso do lar e em locais
fechados. o direito de levar sua vida pessoal sem a intromisso de terceiros, como
agentes do Estado, vizinhos, jornalistas, curiosos etc.
A intimidade e a vida privada so considerados crculos concntricos da
esfera de reserva da vida pessoal, sendo a intimidade ainda mais restrita, por se
referir ao prprio indivduo, bem como ao que possui de mais prximo, como seus
segredos, seu dirio, seus desejos, seus relacionamentos sexuais. J a esfera da
vida privada abrange o relacionamento do indivduo com outras pessoas, como
familiares, amigos e scios.
Todas as pessoas tm assegurado o direito de ver respeitada a sua
convivncia familiar e com os amigos. Esse direito assegurado tambm para
pessoas de vida pblica, como polticos, artistas e esportistas, em suas atividades
estritamente particulares. Em razo da tutela da privacidade, probem-se a
investigao e a divulgao de atos particulares, como escuta telefnica, invases
fotogrficas ou cinematogrficas.
A honra um atributo pessoal. Compreende a auto-estima e a reputao de
uma pessoa, ou seja, a considerao que ela tem de si mesma (honra subjetiva),
bem como a de que goza no meio social (honra objetiva).
-
32
A legislao penal tutela a honra, estabelecendo os crimes de calnia,
difamao e injria em diversos estatutos legais (CP, arts. 138, 139 e 140 e Cdigo
Eleitoral, Lei n. 4.737/65, arts. 324, 325 e 326).
O direito imagem tem dupla acepo. A imagem-retrato a representao
grfica, fotogrfica, televisionada ou cinematogrfica de uma pessoa. o direito de
no ter sua representao reproduzida por qualquer meio de comunicao sem a
devida autorizao. Observa-se, ento, que pessoas de vida pblica, como polticos,
no podem reclamar da reproduo de suas imagens quando no exerccio de
atividades pblicas. A imagem-atributo a forma pela qual uma pessoa vista no
meio social em que vive. Tanto a pessoa fsica como a jurdica podem ser atingidas
em sua imagem-atributo, cabendo indenizao tanto por danos materiais como
morais (Smula 227 do STJ: A pessoa jurdica pode sofrer dano moral).
Obs1 : Inviolabilidade do domiclio A Constituio Federal, em seu art. 5, XI, estabelece que a casa asilo
inviolvel do indivduo, ningum nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinao judicial.
Percebe-se, com a leitura do dispositivo constitucional citado, A inviolabilidade
do domiclio no absoluta, pois a prpria Carta Magna ressalva hipteses em que
possvel o ingresso na casa de uma pessoa sem o seu consentimento. A qualquer
hora do dia ou da noite isso possvel, independente da exibio de mandado
judicial, nas seguintes hipteses: a) com o consentimento dos moradores; b)
flagrante delito; c) em caso de desastres, como incndio, inundao etc.; e d)
para prestar socorro.
Fora dessas hipteses, s possvel o ingresso na residncia de uma pessoa
durante o dia, com a exibio de mandado judicial.
A definio legal de casa encontra-se nos arts. 150, 4, do Cdigo Penal,
que dispe sobre o crime de violao de domiclio, e 246 do Cdigo de Processo
Penal.
De acordo com a nossa legislao infraconstitucional, o termo compreende
qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitao coletiva e
compartimento no aberto ao pblico onde algum exera sua profisso ou
atividade.
-
33
Dessa forma, est tutelado dentro do conceito jurdico de casa qualquer
lugar onde algum viva ou trabalhe, incluindo o barraco da favela, o quarto de
penso e o armazm no aberto ao pblico onde seja exercida atividade
profissional.
O Supremo Tribunal Federal j teve oportunidade de se manifestar no sentido
de que o conceito de casa estende-se ao escritrio comercial da empresa.
Obs 2: Hipteses de flagrante delito. O Cdigo de Processo Penal, em seu art. 302, estabelece as hipteses em
que algum pode ser preso em flagrante pela prtica de uma infrao penal.
Tratando-se de crime permanente, como o do sequestro e de diversas modalidades
de trfico de drogas, em que o momento consumativo se prolonga no tempo, no se
exige a exibio de mandado judicial para o ingresso na casa, podendo a priso
ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite.
Obs 3: Mandado judicial. Mesmo com autorizao judicial, o ingresso no perodo noturno depende de
consentimento do morador. Durante o dia, com a exibio do mandado judicial, a
busca pode ser realizada mesmo com a discordncia do morador, arrombando-se a
porta se houver necessidade.
Em decorrncia dessa garantia constitucional, se uma pessoa procurada pela
justia estiver escondida em uma casa, a polcia no poder efetuar a priso no
perodo noturno, a no ser que o morador aquiesa, devendo aguardar o amanhecer
para naquela ingressar.
Obs 4: Nulidade da prova. Uma prova obtida sem a exibio de mandado judicial de busca e apreenso
domiciliar, fora das hipteses especialmente previstas no texto constitucional, por
agentes do Estado, ou at mesmo por pessoa estranha aos quadros oficiais, nula
de pleno direito, no podendo produzir qualquer efeito jurdico. H ainda a
possibilidade de se determinar o desentranhamento das provas obtidas de forma
ilegal, de modo a evitar que a evidncia assim obtida possa de alguma forma influir
no convencimento do julgador (Informativo STF, n. 32).
-
34
Obs. 5: Dia e noite. Para se tornar efetiva a garantia constitucional do direito de inviolabilidade de
domiclio preciso fixar os perodos do dia e da noite.
Alguns doutrinadores entendem que o dia estende-se das 6 s 18 horas
(critrio cronolgico). Outros entendem que deve ser adotado um critrio fsico-
astronmico, como o intervalo de tempo entre a aurora e o crepsculo.
Obs 6: Inviolabilidade das comunicaes pessoais A Constituio, em seu art. 5, XII, estabelece que inviolvel o sigilo da
correspondncia e das comunicaes telegrficas, de dados e das comunicaes
telefnicas, salvo, no ltimo caso, por ordem judicial, nas hipteses e na forma que a
lei estabelecer para fins de investigao criminal ou instruo processual penal.
O indivduo precisa ter segurana de que todas as suas comunicaes
pessoais, tanto as feitas por cartas como as realizadas por telegramas ou
telefonemas, no sero interceptadas por outras pessoas.
A inviolabilidade das comunicaes pessoais envolve dplice tutela, da
liberdade de manifestao de pensamento e do segredo como expresso do direito
intimidade das pessoas.
As violaes de correspondncia e de comunicao telegrfica so crimes
previstos no Cdigo Penal (art. 151 e pargrafos) e na Lei n. 6.538/78, que dispe
sobre os servios postais.
Somente em se tratando da inviolabilidade de comunicao telefnica, o texto
constitucional admite a quebra do sigilo para fins de investigao criminal ou
instruo processual penal.
Cabe salientar que na vigncia de estado de defesa ou de stio podero ser
estabelecidas restries inviolabilidade de correspondncia (CF, arts. 136, I, b, e
139, III).
A interceptao telefnica admitida de forma excepcional pelo art. 5, XII, da
Constituio. Esse dispositivo constitucional regulamentado pela Lei n. 9.296/96. A
interceptao telefnica depende de autorizao judicial e somente pode ser
permitida nas hipteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigao
criminal ou instruo processual penal. S pode ser deferida para apurao de
crimes punidos com recluso, quando houver indcios razoveis de autoria ou
participao e a prova no puder ser feita por outros meios disponveis.
-
35
O Supremo Tribunal Federal entende que os elementos informativos de uma
investigao criminal, ou as provas colhidas no bojo de instruo processual penal,
desde que obtidos mediante interceptao telefnica devidamente autorizada por
juiz competente, podem ser compartilhados para fins de instruir procedimento
administrativo disciplinar (Inq. 2.725, Informativo STF, n. 512).
Obs 7: Gravao feita por interlocutor da conversa telefnica Quando a gravao da conversa telefnica feita por um dos interlocutores,
ou com sua autorizao, mesmo sem cincia do outro, no se considera que houve
interceptao telefnica, sendo considerada vlida como prova a gravao
produzida, ainda mais quando utilizada como meio de defesa ou se a pessoa
vtima de crime.
Na interceptao telefnica ilcita a gravao deve ser feita por terceiro, de
forma clandestina, sem conhecimento de nenhum dos interlocutores. Dessa forma,
considerada vlida a gravao realizada por uma pessoa que vem sendo ameaada
de morte pelo telefone.
Observa-se que o juiz, nos termos da legislao penal vigente, no poderia
sequer autorizar a interceptao telefnica, pois o crime de ameaa punido apenas
com deteno (CP, art. 147).
Somente em se tratando de crimes mais graves, como seqestro ou extorso,
em razo de serem punidos com recluso, a interceptao poderia ser autorizada
judicialmente.
Nesses delitos, se a conversa telefnica for gravada por um dos
interlocutores, ou por um terceiro de forma consentida, mesmo sem autorizao
judicial, a prova ser considerada vlida.
Obs 8: Gravao ambiental Gravao ambiental a captao, por meio de fita magntica ou por qualquer
outro meio eletrnico ou tico, de conversa ou imagem entre presentes. Discute-se
sua validade quando feita sem o conhecimento de um dos interlocutores. O STF j
admitiu sua validade quando a pessoa era vtima de concusso. A ilicitude da prova
estaria excluda pela circunstncia excludente da criminalidade denominada legtima
defesa.
-
36
2.3.5 Segurana em matria jurdica Quando se regulamenta a atividade jurisdicional do Estado, principalmente na
rea punitiva, devem-se preservar direitos fundamentais do ser humano, como a
vida, a liberdade e a propriedade.
Diversas garantias jurisdicionais, processuais e de direito material so
asseguradas pelo texto constitucional com essa finalidade, pois restries a direitos
fundamentais s so admitidas com a observncia de todas as garantias
constitucionais e legais.
Obs 1: Garantias jurisdicionais
a) Princpio da inafastabilidade ou do controle do Poder Judicirio (inciso XXXV) A lei no excluir da apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa a
direito. Esse princpio garante a todos o acesso ao Poder Judicirio.
Tal princpio uma decorrncia do monoplio da atividade jurisdicional pelo
Estado. Trata-se do direito ao processo, atividade de distribuio da justia
exercida pelo Poder Judicirio.
b) Proibio dos tribunais de exceo (inciso XXXVII) A Constituio veda os tribunais de exceo, criados especialmente para
julgar determinados crimes ou pessoas, em casos concretos. Exemplo de tribunal de
exceo o de Nuremberg, constitudo especialmente para julgar os lderes nazistas
aps a 2 Guerra Mundial por crimes contra a humanidade.
Os tribunais de exceo no se confundem com as justias especializadas e
o foro privilegiado. Aquelas foram institudas pela prpria Constituio para o
julgamento de determinadas espcies de crimes, com o respeito ao princpio da
anterioridade prtica do fato. O foro privilegiado concedido em razo do cargo
que a pessoa exerce e no por critrios de ordem pessoal. No exercendo mais o
cargo, o indivduo perde o direito ao foro privilegiado.
c) Julgamento pelo Tribunal do Jri em crimes dolosos contra a vida (inciso XXXVIII) A atual Constituio manteve o Tribunal do Jri, assegurada a competncia
de julgamento pela prtica de crimes previstos no Cdigo Penal no Captulo Dos
crimes contra a vida, na modalidade dolosa, onde esto presentes as seguintes
infraes penais: homicdio, infanticdio, participao em suicdio e aborto. Iro a
julgamento tambm os crimes conexos a eles.
-
37
d) Princpio do juiz natural ou do juiz competente (inciso LIII) Ningum ser processado nem sentenciado seno pela autoridade
competente.
De acordo com o princpio do juiz natural, as regras de competncia devem
estar preestabelecidas pelo ordenamento jurdico.
Ningum pode ser processado ou julgado por uma autoridade especialmente
designada para o caso.
Esse dispositivo tem por finalidade assegurar o julgamento por um juiz
independente e imparcial.
Somente a Constituio