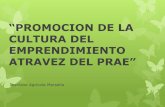DISERTACAO+LONDOÑO,+2010
-
Upload
sensivelleite -
Category
Documents
-
view
156 -
download
2
Transcript of DISERTACAO+LONDOÑO,+2010
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CINCIAS BIOLGICAS
DEPARTAMENTO DE BOTNICA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM BIOLOGIA VEGETAL
LABORATRIO DE ETNOBOTNICA E BOTNICA APLICADA
ETNOBOTNICA DE PLANTAS MEDICINAIS USADAS PELA COMUNIDADE INDGENA
PANKARARU, PERNAMBUCO, BRASIL
Paola Andrea Londoo Castaeda
Dissertao apresentada ao Programa de Ps- Graduao em
Biologia Vegetal, da Universidade Federal de Pernambuco, como
parte dos requisitos para obteno do titulo de Mestre em
Biologia Vegetal.
Orientadora: Dra. Laise de H. C. Andrade-UFPE
Co-orientador: Dr. Antnio Fernando Moraes
de Oliveira - UFPE
RECIFE
2010
-
PAOLA ANDREA LONDOO CASTAEDA
Etnobotnica de plantas medicinais usadas pela comunidade indgena Pankararu, Pernambuco,
Brasil
Banca examinadora:
Profa. Dra. Laise de Holanda Cavalcanti Andrade
(Orientadora)
Prof: Dr. Ulysses Paulino de Albuquerque
(1 membro)
Profa. Dra Valdeline Atanasio da Silva
(2 membro)
Recife
2010
-
A minha me, fonte de amor infinito, ao meu pai, luz na eternidade.
DEDICO.
-
..Nuestra flora indgena y silvestre, que comprende las malas hierbas esta compuesta por plantas ingeniosas y complicadas que narran la maravillosa historia de los ms heroicos esfuerzos del alma de la
flor
-
Maurice Maeterlinck
AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar agradeo a Deus, que me colocou no caminho certo com as pessoas justas.
Agradeo especialmente comunidade Pankararu, por sua confiana e acolhimento, s lideranas
que possibilitaram a oportunidade de me aproximar a sua cultura, s famlias indgenas que me
receberam e geraram mgicos momentos que inevitavelmente inspiraram a elaborao deste manuscrito;
imensa gratido para Tia Lia, Vasco, Luciene, Tiago, Argenor, Z Lucia e Solange, entre muitos outros
Pankararu, pela amizade e importante participao no desenvolvimento deste trabalho; a todos os
curandeiros, rezadeiros e parteiras que fundamentaram este estudo e partilharam generosamente seu saber
tradicional.
professora Laise de Holanda Cavalcanti Andrade, pelos ensinamentos e principlamente pela
sempre calma e enriquecedora orientao, pela compreenso, respeito e dedicao durante a experincia
do mestrado e pelos ricos momentos de discusso. Ao professor Antnio Fernando Morais de Oliveira
(UFPE) e biloga Ieda Ferreira (UFRPE), pela cumplicidade e compromisso durante a realizao de
algumas atividades da pesquisa. Ao Programa de Ps-Graduao em Biologia Vegetal da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), pela oportunidade de crescimento acadmico pessoal e por gerar o
espao propcio para construir novas amizades. FACEPE, pela bolsa concedida durante a totalidade do
mestrado; Dra. Rita de Cssia Pereira, Iane Rego, Keyla Miranda, e equipe do Instituto Agronmico de
Pernambuco, IPA, pela colaborao na identificao das espcies; especialmente ao Bilogo Joo Paulo
Amazonas, tcnico do Herbrio Geraldo Mariz (UFPE), pela dedicao no manejo e cuidado das plantas
depositadas no herbrio, assim como a Olivia Cano, por seu valioso auxilio na identificao das espcies.
Agradeo a Hildebrando Silva e Manass Bispo, pela simpatia durante a realizao das questes
burocrticas.
Ao professor Renato Athias que me apresentou frente s lideranas Pankararu favorecendo minha
aceitao na comunidade, suas apreciaes e recomendaes iniciais representaram um ponto de vista
que diversificou a abordagem da etnobotnica neste estudo. Aos meus amigos Priscilla, Marcus,
Marciel e Katarina, pela disposio incondicional, e colaborao em momentos chaves durante a
elaborao da dissertao. Aos colegas de aula e festa, Raquel, Keyla, Tiago, Ivo e Aretusa, pelos
momentos de alegria e diverso. A Regina pela criatividade e adequada comunicao, fundamental para a
obteno da arte que acompanha este trabalho. antroploga Claudia Mura, pelo carinho e troca de
percepes e impresses na aproximao ao entendimento dos processos de cura entre os Pankararu.
Meu mais profundo agradecimento a Nonata, ao compadre Frana e seu filho Lucas, por me
acolherem no seu lar, por oferecerem sua amizade e representarem minha famlia em Recife: seu apoio
foi fundamental durante a fase final do mestrado. A minha famlia do sangue, que sempre acompanhou de
perto cada fase do mestrado, principalmente a minha me que com sua sabedoria inspirou meu
-
crescimento e formao pessoal; a meu pai, pelo seu amor incondicional, pelo seu orgulho desbordado e
confiana em mim, por ter respeitado e apoiado sempre minhas escolhas; a minhas irms Claudia e
Jazmin, pela presena, doura e fortaleza a cada momento da minha vida e a minha sobrinha Maria Luna,
pela alegria inspiradora. Finalmente a Carlos Jos e Lucho, pela oportuna colaborao no desenho da
cartilha sobre a flora medicinal.
Muitas outras pessoas de alguma ou outra maneira fizeram parte desta experincia; a todos estes
meu mais sincero sentimento de gratido, sem dvida um pouco de mim agora pertence a este lugar do
planeta e um pouco do Recife levo comigo para sempre.
A todos,
Muito obrigada!!
-
SUMARIO
1. Introduo ........................................................................................................................................... 1
2. Fundamentao terica ....................................................................................................................... 4
3. Referncias bibliogrficas ................................................................................................................... 8
4. Captulo 1 A etnobotnica do sistema de cura dos ndios Pankararu, Pernambuco, Brasil
.................................................................................................................................................................... 13
Resumo ...................................................................................................................................................... 14
Abstract ........................................................................................................................................... .......... 16
1. Introduo .............................................................................................................................................. 17
2. Material e Mtodos ............................................................................................................................... 18
2.1. Caracterizao da rea de estudo e da comunidade estudada ........................................................... 18
2.2. Coleta de dados................................................................................................................................... 20
2.3. Anlise dos dados .............................................................................................................. 23
3. Resultados e discusso............................................................................................................ 23
3.1. O sistema de cura Pankararu, cincia e espiritualidade ......................................................... 22
3.2. A flora medicinal nas prticas de cura Pankararu ................................................................. 27
3.3. Consenso entre os informantes sobre o conhecimento medicinal ........................................ 48
3.4. Padres de uso e conservao ........................................................................................................... 52
Agradecimentos .................................. 55
5. Referncias bibliogrficas ............................... 57
7. Listas de figuras e tabelas ................................................................................................................... 62
5. Captulo 2 Plantas medicinais de uso feminino na comunidade indgena Pankararu, nordeste do
Brasil.......................................................................................................................................................... 64
Resumo .................................................................................................................................................... 65
Abstract..................................................................................................................................................... 66
1. Introduo ............................................................................................................................................. 67
2. Materiais e Mtodos.............................................................................................................................. 70
2.1. Descrio da rea de estudo e fisionomia vegetacional..................................................................... 70
2.2. Coleta de dados etnobotnicos............................................................................................................ 72
3. Resultados e discusso........................................................................................................... 73
3.1 Especialistas do sistema de cura e sade feminina ................................................................ 73
3.2 As plantas medicinais de uso feminino e seus padres de uso ............................................ 76
-
3.3. Indicaes teraputicas para a mulher e seu recm nascido .............................................. 84
3.5 Percepo tradicional sobre toxicidade de plantas medicinais .......................... 91
4. Concluses ....... ................................................................................................................................. 92
Agradecimentos ...................................................................................................................................... 93
5. Referncias bibliogrficas.................................................................................................................... 93
6. Captulo 3 - Flora medicinal das tribos indgenas Pankararu, Fulni-, Xucuru, Tapeba e Arariboia,
nordeste do Brasil .................................................................................................................. 101
Resumo .................................................................................................................................................. 102
Abstract .................................................................................................................................................. 103
1. Introduo .......................................................................................................................................... 104
2. Material e Mtodos ............................................................................................................................ 106
3. Resultados e Discusso ..................................................................................................................... 108
4. Concluses ......................................................................................................................................... 123
Agradecimentos ...................................................................................................................................... 123
5. Referncias bibliogrficas ................................................................................................................... 124
6. Listas de figuras e tabelas ................................................................................................................... 133
7. Capitulo 4 - Avaliao preliminar da atividade genotxica e mutagnica de plantas medicinais usadas
pelos ndios Pankararu, Pernambuco Brasil ......................................................................................... 134
Resumo ................................................................................................................................................. 135
Abstract ................................................................................................................................................... 134
1. Introduo .......................................................................................................................................... 136
2. Materiais e mtodos ........................................................................................................................... 137
3. Resultados ......................................................................................................................................... 138
4. Discusso ............................................................................................................................................ 138
5. Concluses ......................................................................................................................................... 141
Agradecimentos ...................................................................................................................................... 141
6. Referncias bibliogrficas .................................................................................................................. 142.
8. Resumo ............................................................................................................................................. 145
9. Abstract ............................................................................................................................................ 146
-
1. INTRODUO
A evoluo do homem junto natureza gerou o desenvolvimento de um rico e dinmico
conhecimento sobre os usos potenciais dos recursos vegetais; povos ancestrais do mundo inteiro
conservaram este saber acumulado durante milnios sendo permeados e transformados pelo intercmbio
cultural durante o processo de globalizao e aculturao a escala local (Voeks 2006).
Elisabetsky & Castillo (1990) descrevem a etnobotnica como a principal fonte de informao sobre
o uso emprico das plantas que contribui para a compreenso e descrio das relaes entre ambiente e
cultura. Prance (1991) complementa, argumentando que esta linha de conhecimento estuda as diferentes
dimenses da relao do homem com as plantas, expressadas no conhecimento ecolgico tradicional,
abordando de maneira mltipla a maneira como o homem percebe, classifica e utiliza as plantas.
Em escala global os estudos relacionados a plantas medicinais tm atingido evidente destaque dentre
as diferentes reas de conhecimento da etnobotnica (Craker 2007; Hamilton et al. 2003). A importncia
do uso da biodiversidade vegetal na medicina tem sido historicamente demonstrada; nos Estados Unidos
da Amrica do Norte, por exemplo, entre 19591980, cerca de 25% das drogas farmacuticas prescritas
tinham princpios ativos derivados de extratos de plantas superiores. At aquela data, 120 medicamentos
usados na medicina ocidental eram derivados de plantas e mantiveram aplicao medicinal semelhante
originalmente indicada por curandeiros tradicionais (Farnsworth et al. 1985).
Neste contexto, Voeks & Leony (2004) argumentam que nas regies tropicais o uso medicinal dos
recursos vegetais tem recebido maior ateno por parte de pesquisadores da etnobotnica, devido ao
grande interesse nos estudos de bioprospeco enfocados descoberta de compostos para novas drogas.
Albuquerque & Hanazaki
(2006) argumentam que cincias como a etnobotnica e etnofarmacologia tm demonstrado sua eficcia
como ferramentas na busca de substncias naturais de ao teraputica. Cox (1994) conclui de maneira
similar que o mtodo etnobotnico o meio mais rpido e eficiente de determinao de espcies vegetais
de interesse para estudos mais aprofundados.
A etnobotnica apenas o primeiro passo na descoberta de novos medicamentos; estudos sobre
os constituintes qumicos responsveis pela ao teraputica com a correspondente caracterizao
fitoqumica e cromatogrfica, anlises farmacolgicas e informaes sobre efeitos colaterais e txicos,
precisam ser realizados com o propsito de avaliar a eficcia e segurana das plantas de uso na medicina
tradicional (Di Stasi 2005).
Na rea farmacutica, as plantas e os extratos vegetais so de grande relevncia, tendo em vista a
utilizao das substncias ativas como prottipos para o desenvolvimento de fitofrmacos e como fonte
de matrias-primas farmacuticas e para a elaborao de medicamentos base de extratos vegetais
(Schenkel et al. 2001). Neste contexto, no Brasil, foi estabelecida em 1995 uma legislao (Portaria
-
6/SVS de 31/1/1995), que define o fitoterpico como um medicamento com componentes ativos
exclusivamente de origem vegetal, o qual precisa da comprovao da sua eficcia, assim como da
segurana e qualidade; tambm foram estabelecidos prazos para a realizao de estudos de eficcia e
toxicidade dos produtos j comercializados. De maneira complementar, foi estabelecida no Ministrio da
Sade e na Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) uma diviso direcionada para a
regulamentao no desenvolvimento de fitoterpicos, com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos
comercializados. A nvel local o uso dos recursos vegetais para o cuidado da sade nas comunidades
tradicionais carece mais ainda de segurana na ingesto de plantas medicinais, sendo o conhecimento
emprico a nica ferramenta disponvel neste sentido.
Por outro lado, apesar da forte dependncia das comunidades tradicionais da diversidade biolgica
para a sua prpria sobrevivncia e suas prticas culturais, nas ltimas dcadas, o processo de aculturao
social e econmica tem ocasionado a perda das prticas ancestrais que envolvem o conhecimento
tradicional de uso e aproveitamento dos recursos naturais (Gross et al. 1979); conseqentemente, muitas
comunidades rurais esto substituindo o emprego dos recursos vegetais locais por medicamentos
sintticos. Esta situao ainda mais agravante em pases assistencialistas, onde as polticas nacionais de
insero do sistema biomdico em comunidades aborgenes podem minar o interesse dos indgenas pelas
prticas tradicionais de cura; contudo, a eroso do conhecimento botnico tradicional e a forte presso
sobre os ecossistemas com a acelerada destruio dos bosques constituem uma dupla ameaa
conservao dos recursos vegetais com potenciais teraputicos. Neste sentido, Voeks (2007) afirma que
em pases como Samoa, Kenia, e a regio nordeste do Brasil a deflorestao em larga escala diminui a
possibilidade de acesso s espcies medicinais.
Exceto em umas poucas ocasies, as prticas tradicionais de manejo dos recursos naturais no
representam fortes ameaas aos recursos genticos. Diegues (1996) explica neste sentido que, para as
culturas nativas, suas tradies encontram-se carregadas de elementos da natureza que apresentam grande
interesse social e cultural, o que implica a manuteno destes recursos no contexto natural; afirma
tambm que geralmente recursos vegetais so usados com fins de subsistncia, sem implicar
comercializao e sim garantindo sua conservao. Devido perda gradativa da biodiversidade e ao
acelerado processo de aculturao, os estudos etnobotnicos sobre o conhecimento local dos recursos
naturais tm atingido grande importncia na conservao da vegetao nativa; sendo assim, os estudos
que caracterizam as prticas tradicionais sustentveis de uso e manejo da flora fornecem subsdios que
devem ser considerados para definir estratgias e aes para a conservao e a recuperao dos recursos
vegetais (Gazzaneo et al. 2005).
Nos ltimos anos, estudos etnobotnicos tm fornecido valiosas contribuies para o manejo e
conservao dos recursos naturais; por isto que cada vez mais autores abordam hipteses ecolgicas
com implicaes na conservao, atravs de estudos etnodirigidos. Uma importante referncia nesta
-
dimenso da etnobotnica so os estudos realizados por Posey (1987) sobre os Kayap, que
desenvolveram um elaborado sistema de manejo sustentvel das florestas onde subsistem.
Na regio nordeste do Brasil, poucos estudos tm sido desenvolvidos, em parte pelo pouco interesse
que tm despertado as tribos indgenas nordestinas (Arruti 1996) e pela suscetibilidade e receio das
comunidades nativas frente realizao de estudos que abordem o conhecimento tradicional para os
processos de cura (Albuquerque 2001).Considerando a degradao dos ambientes naturais concatenada
com a perda do saber ancestral sobre o uso medicinal das plantas, este estudo visa contribuir para o
resgate e valorizao deste conhecimento, implicando a conservao dos recursos vegetais. Neste sentido,
so apresentadas informaes sobre plantas de uso teraputico pela comunidade indgena Pankararu,
assentada em ambiente de Caatinga, com especial ateno para as espcies nativas, fornecendo subsdios
para o aproveitamento de algumas espcies de maior importncia para a comunidade.
2. FUNDAMENTAO TERICA
O Brasil mundialmente considerado como um dos pases com maior diversidade gentica
vegetal e conta com mais de 55.000 espcies catalogadas, de um total estimado entre 350.000 e 550.000
para as regies tropicais (Guerra & Nodari 2001). Os estudos realizados por Shaman Pharmaceuticals
destacam que das 500 mil espcies da flora tropical a maioria no foi ainda descrita pelos cientistas;
indicam, ainda, que um grande nmero de espcies foram examinadas muito superficialmente para a sua
aplicao farmacolgica e mdica, e que menos de 1% dessas espcies tem sido amplamente investigadas
quanto ao uso potencial como novos agentes teraputicos (King et al. 1996). No final do Sculo XX,
Gottlieb et al. (1996) comentavam que a maioria das plantas descritas com usos medicinais no Brasil
eram desconhecidas quimicamente pela cincia. Nos tempos atuais, ainda existe um enorme vazio no
conhecimento dos princpios ativos e da atividade biolgica das espcies nativas, assim como uma grande
carncia de estudos bsicos de toxicidade que forneam insumos para o melhoramento e uso adequado e
seguro destes recursos vegetais na preparao de fitoterpicos (Elisabetsky et al. 2001).
H cerca de uma dcada, Elisabetsky & Castillo (1990) afirmaram que o conhecimento das
populaes humanas sobre o uso medicinal uma fonte bsica de informaes para a descoberta de
espcies promissoras. Atualmente, a Organizao Mundial da Sade considera fundamental a realizao
de estudos experimentais sobre os princpios ativos das plantas com potenciais teraputicos. Assim, so
necessrios estudos que efetuem levantamentos sobre a flora medicinal nas diferentes regies brasileiras,
permitindo que algumas plantas sejam estudadas, validadas e posteriormente adotadas nos programas de
ateno primria a sade, com diversos benefcios, tanto sociais como econmicos (Matos 1997).
Os primeiros estudos etnobotnicos se dedicavam a documentar o potencial de uso da flora local,
empregando uma abordagem essencialmente descritiva, com o objetivo de registrar e catalogar plantas
teis (Oliveira et al. 2009). Atualmente, diversos aspectos tm sido abordados no desenvolvimento desta
cincia interdisciplinar, implicando aspectos epistemolgicos e metodolgicos das cincias naturais e
-
sociais (Hamilton et al. 2003); um destes aparece atravs de interessantes sinergias que tem-se
desenvolvido entre cincias como a etnobotnica e etnofarmacologia, no processo de validao dos
recursos fitoterpicos (Albuquerque & Hanazaki 2006). No contexto acadmico, a implementao de
programas como Farmcias Vivas, desenvolvido no estado do Cear, regio nordeste do Brasil, sob a
coordenao do Dr. Francisco Jos de Abreu Matos, evidencia a possibilidade de aproveitamento das
plantas de uso local atravs da elaborao de fitoterpicos com atividade biolgica cientificamente
comprovada, que podem ser oferecidos a menores custos para comunidades economicamente limitadas
(Matos 1997).
Como apontado anteriormente, alm do estudo dos efeitos farmacolgicos dos extratos vegetais,
as plantas com potencial teraputico precisam tambm ser estudadas quanto presena de substncias
com efeitos txicos, uma vez que espcies vegetais usadas popularmente para o tratamento da sade
fazem parte de um conhecimento que obtido pela tradio oral. Deve-se lembrar, ainda, a crena
popular de que remdios a base de plantas por serem naturais no fazem mal. Neste sentido, Gadano et al.
(2006), em pesquisa realizada na Nigria, demonstraram que, apesar das diversas vantagens das espcies
validadas cientificamente, comumente estas plantas possuem componentes potencialmente txicos,
mutagnicos, cancergenos e teratognicos desconhecidos pelos usurios. No Brasil, os ndices do
Ministrio da Sade apontam a ocorrncia de cerca de 2.000 casos por ano de intoxicaes com plantas,
95% deles com humanos. Algumas das espcies responsveis pelos casos de intoxicao so
Dieffenbachia pica (Lodd.) Scott., Jatropha curcas L., Jatropha gossypifolia L., Ricinus communis L.
(MINISTRIO DA SAUDE, 2010).
Estudos realizados com comunidades tradicionais no Nordeste do Brasil revelam plantas com
toxicologia conhecida mas que so de uso freqente para o tratamento da sade; entre a flora medicinal
empregada tradicionalmente pela tribo indgena Tapeba, no estado do Cear, se encontram espcies com
efeitos txicos, teratognicos e abortivos, tais como: Acanthospermum hispidum DC., Cajanus cajan (L.)
Mill. Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum (L.) A. Gray e Phyllanthus amarus Schum. et
Thonn. (Morais et al. 2005). Albuquerque et al. (2007) reportaram a venda comum de Luffa operculata
L., Ruta graveolens L., Chenopodium ambrosioides L., Symphytum officinale L. e espcies do gnero
Jatropha como medicinais, embora possuam efeitos nocivos cientificamente comprovados; segundo estes
autores, casos de intoxicaes so devidos ao uso inadequado das plantas ou ao seu emprego como
abortivas.
Estudos etnobotnicos realizados nas regies tropicais tm avaliado a utilizao de recursos
fitoterpicos com o propsito de apontar propostas para seu uso sustentvel. Na Regio Nordeste do
Brasil Melo et al. (2008), Oliveira et al. (2007) e Silva & Andrade (2005), entre outros, tm fornecido
importantes informaes sobre os padres de uso de espcies brasileiras. Quando avaliada a perda dos
recursos naturais e do conhecimento tradicional em relao origem dos recursos vegetais de importncia
nas comunidades tradicionais, Amorozo (2001) afirma que alteraes antrpicas nos ecossistemas
-
naturais determinam mudanas nos padres de uso local, ocasionando a diminuio na disponibilidade de
espcies nativas e espontneas; a esse respeito, Voeks & Leony (2004) encontraram numa comunidade
rural brasileira que a perda do conhecimento sobre plantas medicinais apresenta correlao direta com o
processo de modernizao, quando relacionadas variveis como idade, sexo, grau de analfabetismo e
baixo nvel de educao formal; no entanto, a influncia extra-cultural nas comunidades tradicionais
brasileiras continua sendo um tema controverso, j que diversos fatores podem determinar o emprego de
espcies introduzidas na medicina tradicional, podendo ou no refletir na degradao ambiental. Segundo
Voeks (2004), a alta proporo de espcies de plantas cosmopolitas nas listas de plantas medicinais pode
ser interpretada como o resultado do processo dinmico de enriquecimento da flora medicinal ao redor do
mundo, resultando num repertrio diversificado disposio das comunidades para os cuidados da sade.
Todavia, entre comunidades indgenas o processo de aculturao ainda mais intenso e merece maior
interesse por parte de cientistas das etnocincias.
Entre os pesquisadores que tm efetuado estudos sobre o conhecimento botnico tradicional e o
uso e conservao de plantas e animais nos diferentes ecossistemas do Brasil, se destacam para a regio
nordeste as pesquisas desenvolvidas por Albuquerque et al. (2008), Silva & Andrade (1998) e Silva et al.
(2005, 2006), os quais tm documentado aspectos sobre as prticas de uso e aproveitamento dos recursos
naturais pelas comunidades indgenas Fulni- e Xucuru, no ecossistema de Caatinga e nos ambientes de
Brejo de Altitude, em reas do interior do estado de Pernambuco.
Por outro lado, como apontado anteriormente, apesar da maioria dos medicamentos modernos ter
se desenvolvido a partir de plantas usadas tradicionalmente, pouco se conhece sobre a origem destas
informaes, principalmente em relao descoberta de frmacos, e sua relao com o conhecimento dos
povos indgenas nas florestas tropicais. Durante longo tempo, incontveis abusos tm sido feitos s
comunidades indgenas e de afro-descendentes, tanto por cientistas como por instituies de investigao
e empresas farmacuticas, ao ignorar os direitos de proteo do conhecimento tradicional das
comunidades que tm uma histria de uso e aproveitamento destes recursos naturais; alm disso, existem
escassas menes ao respeito dos benefcios equitativos gerados pelas pesquisas etnobotnicas em
retribuio aos povos abordados. Elisabetsky (2003), no seu estudo sobre direitos de propriedade
intelectual e distribuio de benefcios, sugere diversas formas de efetuar aes de reciprocidade frente s
comunidades tradicionais. Autores vinculados empresa Shaman Pharmaceuticals, cujo principal
propsito a bioprospeco em regies tropicais para a descoberta de novos produtos farmacuticos
destacam que das 500 mil espcies da flora tropical a maioria no foi ainda descrita pelos cientistas;
indicam, ainda, que um grande nmero de espcies foram examinadas muito superficialmente para a sua
aplicao farmacolgica e mdica, e que menos de 1% dessas espcies tem sido amplamente investigadas
quanto ao uso potencial como novos agentes teraputicos (KING et al., 1996).
Atualmente, se levanta a problemtica mundial sobre a propriedade intelectual comunitria e os
direitos que lhe so implcitos e explcitos. Surge, tambm, o aspecto crucial das patentes, individuais ou
-
comunitrias, temas que os protocolos dos convnios de Diversidade Biolgica do Rio de Janeiro (1992)
e Kyoto (1997) enfrentaram em sua regulamentao e implementao (Forero 2004). Albuquerque &
Hanazaki (2006) descrevem algumas questes ticas das pesquisas etnobotnicas e etnofarmacolgicas no
panorama atual e lembram que o Brasil tem avanado no estabelecimento de polticas nacionais para a
proteo dos recursos genticos, atravs de uma Medida Provisria que regulamenta o acesso ao
conhecimento tradicional associado aos recursos genticos por meio da autorizao de acesso deliberada
pelo Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico (CGEN) do Ministrio do Meio Ambiente. No entanto,
o processo burocrtico que esta medida acarreta limita a realizao de pesquisas nas reas
etnofarmacolgicas, uma vez que as exigncias do CGEN implicam uma quantidade de tempo muitas
vezes indisponvel para os pesquisadores.
Nos Estados Unidos da Amrica do Norte, Marinova & Raven (2006) concluem que a criao de
polticas de proteo propriedade intelectual realmente difcil, devido s caractersticas do
conhecimento tradicional nas diferentes etnias do mundo, sendo este concebido como de carter holstico
e coletivo, e argumentam que as possibilidades atuais de proteo propriedade intelectual so limitadas
ao reconhecimento dos direitos indgenas.
Frente a esta realidade, o fato positivo que hoje as comunidades tradicionais tm maior
esclarecimento sobre o benefcio econmico justo e eqitativo derivado do acesso aos recursos genticos
e ao conhecimento associado a ditos recursos (Forero 2004). Alm das restries legais para a realizao
de estudos que envolvam acesso ao conhecimento tradicional e aos recursos genticos, o respeito ao
conhecimento tradicional dos curandeiros tradicionais e a procura de aes recprocas que beneficiem as
comunidades detentoras do conhecimento tradicional devem ser responsabilidade dos prprios
pesquisadores que registram dito saber.
3. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Albuquerque, U. P. 2001. The use of medicinal plants by the cultural descendants of African people in
Brazil. Acta Farmaceutica Bonaerense 20: 139-144.
Albuquerque, U. P. & Hanazaki, 2006. As pesquisas etnodirigidas na descoberta de novos frmacos de
interesse mdico e farmacutico: fragilidades e perspectivas. Revista Brasileira de Farmacognosia 16:
678-689.
Albuquerque, U. P; Monteiro, J.M.; Ramosa, M. A.; Amorim, E. L. C. 2007. Medicinal and magic
plants from a public market in northeastern Brazil. Journal of Ethnopharmacology 110:7691.
-
Albuquerque, U.P.; Silva, V.A.; Cabral, M. C.; Alencar, N. L. & Andrade, L. H. C. 2008.Comparisons
between the use of medicinal plants in indigenous and rural caatinga (dryland) communities in NE Brazil.
Boletn Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromticas 7:156-170.
Amorozo, M. C. M. 2001. Uso e diversidade de plantas medicinais em Santo Antnio do Leverger, MT,
Brasil. Acta Botanica Braslica 16(2): 189-203.
Arruti, J. M. A. 1996. O Reencantamento do Mundo Trama, histria e arranjos territoriais
Pankararu. Dissertao de mestrado, Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Cox, P. A. & Balick, M. J. 1994. The ethnobotanical approach to drug discovery. Scientific American 6:
82-87.
Craker, L. E. 2007. Medicinal and aromatic plants - Future opportunities. In: Issues in new crops and
new uses. Pp.248-259. In: J. Janick & A. Whipkey (eds.). ASHS Press. Alexandria, V.
Di Stasi, L.C. 2005. An integrated approach to identification and conservation of medicinal plants in the
tropical forest - a Brazilian experience. Plant Genetic Resources 3:199-205.
Diegues, A. C. 1996. O mito moderno da natureza intocada. So Paulo: Hucitec. 169p.
Elisabetsky, E. 2001. Etnofarmacologia como ferramenta na busca de substncias ativas. Pp. 91-104. In:
Simes, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosman, G.; Mello, J.C.P.; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. (eds).
Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3 ed. Porto Alegre: UFSC.
Elisabetsky, E. 2003. Direitos de propriedade intelectual e distribuio equitativa de benefcios no
contexto de inovao tecnolgica. In: Anais do I Simpsio de Etnobiologia e Etnoecologia da regio
Sul: aspectos humanos da biodiversidade. Florianpolis: SBEE, p. 170-174.
Elisabetsky, E. & Castilhos, Z.C. 1990. Plants used as analgesics byAmazonian caboclos as a basis for
selecting plants for investigation. International Journal of Crude Drug Research 28: 309-320.
Farnsworth, N. R.; Akerele, O.; Bingel, A. S., Soerjato, D. D. & Guo, Z.G. 1985. Medicinal plants in
therapy. Bull World Health Organization 63: 965-981.
-
Forero, L.P. 2004. Contribuciones de la Etnobotnica al desarrollo de la investigacin en plantas
medicinales. Pp. 1 -13. In: Libro de resumo do II Seminario Internacional de plantas medicinales y
aromticas y Foro sobre mercado. Palmira, Colombia, .
Gadano, A.; Gurni, A., Lpez, P.; Ferraro, G.; Carballo, M. 2002. In vitro genotoxic evaluation of the
medicinal plant Chenopodium ambrosioides.L. Journal of Ethonopharmacology 81: 11-16.
Gottlieb, O. R.; Kaplan, M. A. C. & Borin, M. R. M. B. 1996. Biodiversidade. Um enfoque qumico-
biolgico. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
Gross, D.R.; Eiten, G.; Flowers, N.M.; Ritter, M.L. & Werner, D.W. 1979. Ecology and acculturation
among native peoples of Central Brazil. Science 206: 1043-1050.
Guerra, M. P. & Nodari, R. O. 2001. Biodiversidade: aspectos biolgicos, geogrficos, legais e ticos. P.
13-26. In: Simes, C. M. O.; Schenlel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J. C. P.; Mentz, L. A.; Petrovick, P. R.
(Orgs.) Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3.ed. Porto Alegre/Florianpolis: Editora da
Universidade UFRGS / Editora da UFSC.
Hamilton, A.C.; Shengji, P.; Kessy, J.; Khan, A.A.; Lagos-Witte, S.; & Shinwari, Z.K. 2003. The
purposes and teaching of applied Ethnobotany. People and Plants working paper 11. WWF,
Godalming, UK.
King, S.R. ; Carlson, T. J. & Moran, K. 1996. Biological diversity, indigenous knowledge, drug
discovery and intellectual property rights: creating reciprocity and maintaining relationships Journal of
Ethnopharmacology 51: 45-57
Marinova, D. & Raven, M. 2006. Indigenous knowledge and intellectual property: a sustainability
agenda. Journal of Economic Surveys 20(4): 587-605.
Matos, F. J. A. 1997. O formulrio fitoterpico do Professor Dias da Rocha. 2 ed. Editora UFC.
Fortaleza, 124p.
Melo, J. G.; Amorim, E. L. C. & Albuquerque, U. P. 2009. Native medicinal plants commercialized in
Brazil priorities for conservation. Environmental Monitoring and Assessment 156:567-580.
-
Ministrio da Sade, Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos. 2009. In: Nascimento
Junhor, J. M.; Torre, K.R.; Alves, R. M. S. (org)
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/plantas_medicinais.pdf. Acesso em 25 abril 2010.
Morais, S. M.; Dantas, J. P.& da Silva, A. R 2005. Plantas medicinais usadas pelos ndios Tapeba do
Cear. Revista Brasileira de Farmacognosia 15(2): 169-177.
Oliveira, F. C.; Albuquerque, U. P.; Fonseca-Kruel, V. S. & Hanazaki, N. 2009. Avanos nas pesquisas
etnobotnicas no Brasil. Acta botanica brasilica 23(2): 590-605.
Phillips, O. & Gentry, A.H. 1993. The useful plants of Tambopata, Peru: I. Statistical hypotheses tests
with a new quantitative technique. Economic Botany 47(1): 15 . 32.
Posey, D. A. 1987. Manejo da floresta secundria, capoeiras, campos e cerrados. In: Ribeiro, D. (org.)
Suma etnolgica brasileira. 2 ed. Petrpolis: Vozes, p.173 185,
Prance, G.T. 1991. What is Ethnobotany today. Journal of Ethnopharmacology 32: 209-216.
Gazzaneo, L.R.; Lucena, R.F. & Albuquerque, U.P. 2005. Knowledge and use of medicinal plants by
local specialists in a region of Atlantic Forest in the state of Pernambuco (Northeastern Brazil). Journal
of Ethnobiology and Ethnomedicine 1(9): 1-8.
Schenkel, E. P.; Gosmann, G. & Petrovick, P. R. 2001. Produtos de origem vegetal e desenvolvimento de
medicamentos. P. 301 332. In: Simes, C. M. O.; Schenkel, E. P.; Gosmann, G.; Mello, J. C. P.; Mentz,
L. A,;. Petrovick, P. R. (Orgs.) Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3.ed. Porto
Alegre/Florianpolis: Editora da Universidade UFRGS / Editora da UFSC.
Silva , A. J. R. & Andrade, L. H. C. 2005. Etnobotnica nordestina: estudo comparativo da relao entre
comunidades e vegetao na Zona do Litoral - Mata do Estado de
Pernambuco, Brasil. Acta Botanica Brasilica 19(1): 45-60.
Silva, V. A. & Andrade, L. H. C. 1998. Etnobotnica Xucuru: plantas medicinais. Revista Brasileira de
Farmcia 79(1/2): 33-36.
Silva, V. A.; Andrade, L. H. C. & Albuquerque, U. P. 2005. Variao intracultural no conhecimento
sobre plantas: o caso dos ndios Fulni-. Pp. 237-262. In: U P. de Albuquerque; C. F. C. B. R. Almeida
-
& J F. A. Marins (Orgs.). Tpicos em conservao, etnobotnica e etnofarmacologia de plantas
medicinais e mgicas. 1 ed. Recife: Livro Rpido.
Silva, V. A.; Andrade, L. H. C. & Albuquerque, U. P. 2006. Revising the Cultural Significance Index:
The Case of the Fulni- in Northeastern Brazil. Field Methods 18(1): 98-108.
Voeks, R. A. 2007. Are women reservoirs of traditional plant knowledge? Gender, ethnobotany and
globalization in northeast Brazil. Journal of Tropical Geography 28: 720.
Voeks, R. A. & Leony, A. 2004. Forgetting the forest: assessing medicinal plant erosion in eastern
Brazil1.Economic Botany 58: 294306.
-
A etnobotnica do sistema de cura dos ndios Pankararu, Pernambuco, Brasil
Paola Andrea Londoo Castaeda1*, Antnio Fernando Morais de Oliveira3 e Laise de Holanda
Cavalcanti Andrade
RESUMO(A etnobotnica do sistema de cura dos ndios Pankararu, Pernambuco, Brasil). Pesquisas
etnobotnicas e etnofarmacolgicas tm contribudo com importantes informaes para o
desenvolvimento de novos medicamentos, conservao de espcies vegetais nativas e valorizao do
saber tradicional. Neste trabalho so abordados aspectos relacionados farmacopia indgena Pankararu,
cujas aldeias distribuem-se nos municpios de Jatob, Petrolndia e Tacaratu, no serto de Pernambuco. A
pesquisa foi realizada junto a 46 especialistas na medicina Pankararu, por meio de entrevistas semi-
estruturadas, com uso de formulrios padronizados, oficinas participativas, permanncia nas aldeias e
visitas s reas de cultivo e de vegetao natural. Foi caracterizada a flora medicinal local e os padres de
uso da mesma, incluindo forma de preparo, emprego, parte da planta utilizada, qualidades teraputicas,
efeitos colaterais e contra-indicaes. Foi calculada a importncia relativa (IR) das espcies vegetais e
avaliado o consenso entre os informantes para cada espcie documentada (FCI). O sistema de cura
Pankararu, caracterizado por fortes elementos xamnicos e religiosos, abrange um rico e vasto
conhecimento sobre as qualidades teraputicas dos recursos vegetais. As indicaes teraputicas
tradicionais foram enquadradas em 19 sistemas corporais. Curandeiros (as), rezadeiros (as) e parteiras
citaram 223 espcies com propriedades teraputicas, das quais 190 foram identificadas e enquadradas em
75 famlias, destacando-se Euphorbiaceae, Asteraceae, Leguminosae e Lamiaceae. A predominncia do
uso da casca, com 38% da amostra total, em relao folha (23%) e raiz (26%), foi atribuda
disponibilidade do recurso tanto na seca como nas chuvas. Todavia, na flora medicinal local destaca-se o
uso de ervas, que correspondem a 42% da amostra, a maioria extica. Dentre as 24 espcies que
apresentaram IR > 1, destacaram-se Myracrodruon urundeuva Allemo, Ximenia americana L.,
Anacardium occidentale L., Hyptis mutabilis Briq., Sideroxylon obtusifolium (Roem. e Schult.) T.D.
Penn., Caesalpinia pyramidalis Tul. e Chenopodium ambrosioides L., com valores que variam entre 1,85
e 1,45. Maior consenso entre os informantes (FCI >0,6) foi encontrado em relao s espcies citadas
para os sistemas reprodutivo e respiratrio, seguidos pelos sistemas digestrio, circulatrio, endcrino,
renal e imunolgico. A flora medicinal local encontra-se constituda tanto por espcies nativas como por
exticas, sendo o grupo das nativas composto principalmente por plantas lenhosas, das quais empregada
-
intensamente a casca. Espcies da medicina tradicional apresentaram contra-indicaes e restries de
uso, em concordncia com a comprovao cientifica da presena de compostos com efeitos txicos. Se
registra o emprego de plantas vasculares raras na medicina tradicional brasileira, como as pteridfitas
Anemia tomentosa (Sw.) Sw.e Selaginella convoluta (Arn) Sprig e as espcies liqunicas Canoparmelia
salacinifera (Hale) Elix & Hale, Parmotrema wrightii Ferraro & Elix (Parmeliaceae) e Heterodermia
galactophylla (Tuck.) Culb. (Physciaceae), indicadas com ao no sistema digestrio, sem relato
etnofarmacolgico prvio na regio tropical.
Palavras-chave- caatinga, conhecimento tradicional, padres de uso, lquen medicinal, plantas txicas.
-
ABSTRACT(The Ethnobotany of Pankararu Indians healing system, Pernambuco, Brazil).
Ethnopharmacological and ethnobotanical studies have contributed with important information for new
medicines development, conservation of native plant species and enhancement of traditional knowledge.
In this work are examined aspects of Pankararu indigenous pharmacopeia, whose villages are distributed
in the municipalities of Jatoba, Petrolndia and Tacaratu in Pernambuco. The survey was conducted
among 46 experts in Pankararu medicine through semi-structured interviews, use of standardized forms,
participatory workshops, stay in the villages and visits to areas of cultivation and natural vegetation. The
local medicinal flora and its use patterns were characterized, including preparation, use, plant part used,
therapeutic qualities, side effects and contraindications. The relative importance (RI) of plant species was
calculated and the consensus among informants for each species documented was assessed (FCI). The
Pankararu healing system, characterized by strong religious and shamanic elements, includes a rich and
vast knowledge about the therapeutic qualities of plant resources. Traditional therapeutic indications were
grouped into 19 body systems. Healers, mourners and midwives cited 223 species with therapeutic
properties, of which 190 were identified and grouped into 75 families; highlighting the Euphorbiaceae,
Asteraceae, Fabaceae and Lamiaceae. The prevalence of bark use with 38% of total sample in relation to
the leaf (23%) and roots (26%) was attributed to resources availability in both dry and in rainy seasons.
However, the use of herbs, most exotic, which represent 42% of sample, is highlighted in the local
medicinal flora. Among the 24 species with RI> 1, Myracrodruon urundeuva Allemo, Ximenia
americana L., Anacardium occidentale L., Hyptis mutabilis Briq., Sideroxylon obtusifolium (Roem. e
Schult.) T.D. Penn., Caesalpinia pyramidalis Tul. and Chenopodium ambrosioides L. stood out with
values ranging between 1.85 and 1.45. Greater consensus among informants (FCI> 0.6) was found for
species cited for reproductive and respiratory systems, followed by the digestive, circulatory, endocrine,
renal and immune. The local medicinal flora is constituted both by native and exotic species, with the
native group mainly composed of native woody plants from which the bark is intensively used. Species of
traditional medicine had contraindications and use restrictions in accordance with the scientific evidence
for the presence of toxic compounds. If is recorded the use of rare vascular plants in Brazilian traditional
medicine, such as the pteridophyta Anemia tomentosa (Sw.) Sw.e Selaginella convoluta (Arn) Sprig e as
espcies liqunicas Canoparmelia salacinifera (Hale) Elix & Hale, Parmotrema wrightii Ferraro & Elix
(Parmeliaceae) and Heterodermia galactophylla (Tuck.) Culb. (Physciaceae) indicated with action in the
digestive system without prior ethnopharmacological account in the tropical region.
Keywords: caatinga, traditional knowledge, use patterns, medicinal lichen, poisonous plants.
-
1. Introduo
Conhecimento tradicional refere-se ao saber acumulado durante anos e transmitido entre geraes,
no decorrer do tempo (Martin 1995). Para algumas comunidades, a fitoterapia tradicional representa o
nico recurso acessvel para o tratamento da sade (Forero 2004); estima-se que nos pases em
desenvolvimento, como os localizados na sia e frica, 80% da populao depende da medicina
tradicional para os cuidados bsicos da sade (Organizao Mundial da Sade 2008).
A etnobotnica tem aumentado cada vez mais o conhecimento cientfico sobre as plantas
utilizadas popularmente como medicinais, despertando o interesse por parte dos pesquisadores pelas
substncias nelas encontradas, visando a produo de novos medicamentos (Posey 1992). Estudos
etnofarmacolgicos fornecem bases cientficas para a validao do conhecimento tradicional sobre o uso
teraputico de espcies vegetais (Di-Stasi et al. 1996) e muitas das espcies indicadas em pesquisas
etnobotnicas foram validadas em laboratrios das reas farmacuticas e biomdicas, quanto a sua
eficcia, propriedades teraputicas e presena de substncias biologicamente ativas. Neste sentido, Di-
Stasi et al. (1996) sinalizam que cada vez mais estas espcies esto sendo amplamente utilizadas como
base natural pela medicina alternativa. Albuquerque (2001) ressalta que as abordagens e implicaes da
etnobotnica, a partir da descoberta de substncias bioativas de origem vegetal, possibilitam pesquisas
visando a aplicao mdica e industrial, incrementando nas ltimas dcadas o interesse pelos compostos
qumicos naturais no mbito cientifico. A etnobotnica aplicada oferece assim benefcios potenciais para
o desenvolvimento direcionado, ao criar oportunidades para a melhoria dos sistemas de sade, reduzindo
o consumo de frmacos que podem ser muito caros nos pases em desenvolvimento (Hamilton et al.
2003).
A aproximao ao conhecimento tradicional tem sido realizada quantitativamente, atravs de
ndices que avaliam a inter-relao das populaes com os recursos naturais (Begossi 1996); conceitos
ecolgicos de diversidade tm sido aplicados nas anlises destinadas a resoluo de problemas ambientais
-
e de desenvolvimento sustentvel (Ribeiro et al. 2002). Alguns autores propem a implementao de
ndices que avaliem a importncia das espcies como recursos teis dentro de uma cultura (Prance et al.
1987; Phillips & Gentry 1993); acredita-se, que atravs destas ferramentas possvel priorizar a seleo
de plantas para futuras pesquisas etnofarmacolgicas. A abordagem qualitativa tem sido realizada por
diferentes reas das cincias com caractersticas interdisciplinares, entre as quais se incluem a
etnobotnica e a antropologia cultural, que tm estudado os sistemas de cura, ritos e prticas xamnicas
relacionadas com o cuidado da sade nas culturas aborgenes. Estes estudos refletem que o conhecimento
botnico tradicional, vinculado ao sistema de cura, manifesta uma forte relao entre o simblico, o
natural e o cultural, exigindo que o etnobilogo ou antroplogo evite preconceitos tpicos da sociedade
qual pertence, com o propsito que possa compreender a cultura da sociedade que observa, os conceitos
metafsicos envolvidos e a interpretao da realidade dos povos nativos. Segundo Martin (1995), nas
tribos indgenas e quilombolas, a distino entre interpretao e realidade se torna ainda mais complicada
quando so considerados nveis mais elevados de abstrao; o referido autor exemplifica esta questo
com a existncia de espritos ou seres e foras mitolgicos, que desempenham um papel importante
dentro da cultura, em relao aos processos de cura. Assim sendo, importante considerar que a
aproximao ao entendimento do processo sade-doena em povos amerndios implica mbitos no
meramente fsicos, uma vez que crenas e ritos operam nos nveis psicolgico e psicobiolgico na cura de
sintomas (Langdon 1974).
Neste estudo foi realizada a abordagem das prticas do sistema de cura Pankararu, a partir de
entrevistas junto aos especialistas da medicina tradicional, empregando tcnicas qualitativas e
quantitativas da etnobotnica com o objetivo de caracterizar e documentar a flora medicinal local.
2. Materiais e mtodos
2.1 Caracterizao da rea de estudo e da comunidade estudada
A comunidade indgena Pankararu ocupa a rea homologada pelo governo como Terra
Pankararu, distribuda numa extenso de 8.100 ha entre a Serra Grande e a Serra da Borborema, prxima
s margens do Rio So Francisco, nos municpios de Petrolndia, Tacaratu e Jatob, demarcada nas
coordenadas geogrficas 0907'16"S e 3815'25"WGr ao norte e 0911'56"S e 3813'52"WGr ao sul (Fig.
1). Localizado em pleno serto pernambucano, o territrio Pankararu limita-se com os estados de Alagoas
e Bahia e ocupado por uma populao de 4.850 habitantes, distribudos em 13 aldeias (Socioambiental
2005). Os Pankararu foram reconhecidos oficialmente pelo Estado brasileiro em 1938 e, como todas as
comunidades indgenas do Brasil, tiveram conflitos fundirios de redistribuio do territrio, tendo
dificuldades na demarcao das suas terras, deixando como conseqncia alteraes profundas na sua
cultura (Athias 2002). A agricultura de subsistncia a principal atividade produtiva na comunidade,
apresentando fortes limitaes quanto disponibilidade de terra e sendo limitada pela forte sazonalidade
-
climtica. As reas frteis permitem o desenvolvimento de uma agricultura diversa onde predomina o
milho, diferentes tipos de feijo, mandioca, cana-de-acar e fruteiras (Socioambiental 2005).
A precipitao mdia anual registrada oscilou entre 266,6-786,5 mm; a pluviosidade apresenta o
tpico padro para a regio semi-rida, com picos pluviomtricos nos meses de maro e abril, sendo
setembro e outubro os meses mais secos, com ausncia de chuvas; a umidade relativa do ar para a regio
tem valores mximos de 76 % e mnimos de 59 % (Embrapa 2009).
A espiritualidade e cosmogonia Pankararu esto fundamentadas na relao do homem com os
encantados, estes ltimos manifestados no mundo dos vivos atravs dos prais1 e o grupo dos penitentes,
ambos mediadores no sistema de cura mgico religioso (Matta 1996). Os primeiros so manifestados
durante o Tor, que como na maioria das tribos nordestinas, o principal rito dentre os Pankararu; esta
dana ritual faz parte da principal celebrao Pankararu na Corrida do umbu, e das outras celebraes
mgico-religiosas que caracterizam esta tradio indgena, destacando-se tambm o Menino no rancho,
outra importante celebrao local. A Corrida do umbu acontece uma vez no ano, ligada ao aparecimento
dos primeiros frutos do umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cm.) e coincide com o perodo da
Quaresma, no calendrio da Igreja Catlica; esta festa realizada durante quatro finais de semana,
iniciando com o flechamento do imbu quando o primeiro umbu maduro aparece, o fruto envolto em
uma folha e colocado numa forquilha a um metro do cho, para ser disparado pelos prais com uma
flecha e marcar assim o inicio do ritual e continuando com outra srie de rituais, como predio e
augrio das prticas agrcolas; este ritual acontece no final da estao seca, antes do perodo do plantio,
cujo sucesso depende das chuvas (Matta 1996). O Menino no rancho uma celebrao realizada como
pagamento de uma promessa fora encantada para cura de uma criana, sempre homem; esta celebrao
no tem data certa e sua realizao depende exclusivamente do pai do menino, que oferecido ao
encantado para sua cura. Este rito percebido dentro da cultura Pankararu como um ato de iniciao para
os meninos (Athias 2002).
Na rea da sade, dados epidemiolgicos do diagnstico elaborado durante a implantao do
Distrito Sanitrio Indgena (DSEI-PE), revelam que 32,5% dos Pankararu procuram com freqncia os
chamados curadores e benzedeiras existentes nas aldeias; alm disso, indicam que 104 das 112 famlias
entrevistadas (92,2%), faziam uso de recursos caseiros para o tratamento de suas doenas, indicando ser
esta a primeira etapa do itinerrio teraputico utilizado pelos Pankararu. Esses recursos so basicamente
fitoterpicos, nicos ou combinados, havendo maior nmero de citaes aos chs de erva-cidreira,
mastruz, ameixa e capim-santo (Athias & Machado 2001).
A comunidade de estudo encontra-se inserida no ecossistema da caatinga no semi-rido Pernambucano,
sendo caracterizada por uma vegetao predominantemente caduciflia, espinhosa, com presena de
caules suculentos e herbceas anuais (Rodal & Sampaio 2002). Na poca de seca destacam-se na
1 Os prais representam os encantados, smbolos fundamentais dentro da religiosidade e sistema de cura Pankararu. So
representados nos ritos tradicionais e incorporados por homens de identidade oculta, que vestem mscaras rituais elaboradas
com croa, Neoglaziovia variegata Arr. Cm.
-
paisagem plantas da famlia das leguminosas pertencentes aos gneros Acacia e Mimosa, e de Cactaceae
tpicas da caatinga, como espcies de Cereus e Pilosocereus. O mosaico vegetacional diversificado,
com formaes diferenciadas da caatinga, como florestas serranas e cerrados originados nos enclaves
midos e submidos que propiciam uma elevadariqueza florstica (Fig 1 a-d) (Andrade-Lima 1973). A
presena destes remanescentes de floresta evidencia maiores concentraes de umidade, no existindo
dados precisos e sistemticos para a rea de estudo. Dados meteorolgicos da estao agrometeorolgica
de Bebedouro, Petrolina, PE, localizada a 400 km da rea de estudo, revelam que a temperatura mdia
mnima e mxima nos ltimos 10 anos foi de 21,1 C e 32,9 C.
2.2 Coleta de dados
Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessria a aprovao do Comit de tica em Pesquisa
CEP, sediado na UFPE, da Comisso Nacional de tica em Pesquisa - CONEP, sediada em Braslia e do
Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico CGEN, Departamento do Patrimnio Gentico, Secretaria
Executiva, Ministrio do Meio Ambiente. Aps a obteno das aprovaes foi necessria a permisso da
FUNAI (baseada em anlise de mrito cientfico pelo CNPq), para o desenvolvimento das atividades de
campo na terra indgena Pankararu.
As informaes etnobotnicas sobre a medicina tradicional Pankararu foram obtidas em 60 dias de
atividades de campo, atravs de entrevistas semi-estruturadas, nas quais foram empregados formulrios
padronizados e registradas notas de campo sobre as indicaes teraputicas da flora local; entrevistas
abertas com funcionrios da FUNASA e junto a vendedores de material vegetal em feiras livres nos
municpios de Jatob e Tacarat, foram realizadas para abordar respectivamente aspectos da sade
indgena e aspectos sobre as prticas de uso e comrcio da flora local, com possveis impactos nas
populaes naturais. A pesquisa foi direcionada para os especialistas da medicina tradicional, por meio da
tcnica bola de neve (Albuquerque et al. 2008a).
A amostra dos especialistas foi constituda por 46 mdicos tradicionais, todos nativos da rea
indgena, com idades entre 29 e 82 anos, em mdia 57 anos, pertencentes ao sistema de cura tradicional.
As entrevistas foram gravadas em formato de udio e registradas nos formulrios adequados e cadernos
de campo (Apndice 1). Grupos focais foram realizados com os especialistas locais, com o objetivo de
gerar discusses sobre percepo tradicional sobre escassez e abundncia dos recursos fitoterpicos,
alternativas de uso sustentvel das espcies da flora medicinal nativa e percepo tradicional sobre
toxicidade das plantas usadas como medicinais.
Visitas s reas de vegetao natural, reas de cultivo e quintais foram realizadas junto a alguns
dos especialistas, para coleta de espcies indicadas por eles. Estas foram identificadas primeiramente com
seus respectivos nomes populares, assim como aspectos fenolgicos e ecolgicos. Taxnomos
especialistas foram consultados para confirmar a identificao dos espcimes, os quais foram includos
-
nos herbrios Geraldo Mariz (UFP), da Universidade Federal de Pernambuco e Drdano de Andrade-
Lima (IPA), do Instituto Agronmico de Pernambuco.
Figura 1. Terra Indgena Pankararu, Pernambuco, nordeste do Brasil. Fonte: FUNAI, 2009, adaptado.
-
a b
c d
Fig. 2 a d. Formaes vegetais nas aldeias Pankararu,Pernambuco, Brasil. A. Caatinga, B. Campo
cerrado, c - d. Brejo de altitude.
Dados do Sistema de Informao de Sade Indgena Pankararu (SIASE) foram obtidos junto
coordenadora local do Posto de Sade da FUNASA na terra indgena, e entrevistas nos mercados e feiras
livres foram realizadas como complemento das informaes etnobotnicas obtidas e percorridos nas reas
de coleta dos recursos fitoterpicos.
2.3 Anlise dos dados
As espcies medicinais foram enquadradas nas categorias de conservao, segundo a Lista oficial
de espcies da Flora Brasileira ameaadas de extino fornecida pelo IBAMA (1992) e IUCN (2001),
destacando-se as espcies nativas do Brasil segundo Lorenzi & Matos (2002) e, classificadas segundo as
prticas de uso e manejo (espcies espontneas, subespontneas; cultivadas e adquiridas em feiras e
mercados locais).
-
Com o propsito de analisar a importncia das espcies indicadas entre os Pankararu, avaliou-se a
versatilidade nos usos atravs do ndice de Importncia Relativa (IR) de Bennett & Prance (2000), onde a
versatilidade das espcies pode ter valor mximo de 2. Para este propsito as indicaes teraputicas e
sintomas dentro do sistema mdico tradicional Pankararu foram agrupados em 19 categorias segundo as
diferentes aes nos sistemas corporais e outras categorias de doenas: sistema circulatrio,
cardiocirculatrio; respiratrio; imunolgico; endcrino; sseo-articular; msculo-esqueltico; digestivo;
renal; ocular; tegumentar; gnito-urinrio; nervoso; gravidez, parto e puerprio; alm destas categorias,
adaptadas da classificao estatstica internacional para doenas e problemas relacionados sade da
Organizao Mundial de Sade (OMS 2000), foram consideradas as indicaes relacionadas com doenas
culturais, sintomas e sinais gerais, e uso mstico-religioso, adaptadas da proposta de Amorozo (2001).
Baseado no ndice proposto por Troter & Logan (1986) foi determinado o fator consenso entre os
informantes acerca das espcies empregadas para as diferentes indicaes teraputicas, visando identificar
em que categorias de doenas os especialistas apresentam maior concordncia nas indicaes
etnobotnicas.
3. Resultados e discusso
3.1 O sistema de cura Pankararu, cincia e espiritualidade
Ao pesquisar sobre a percepo dos cuidados da sade entre os indgenas Pankararu encontrou-se
que apesar da existncia de um servio de atendimento bsico sade oferecido pela Fundao Nacional
de Sade do Ministrio da Sade2 (FUNASA), os informantes consultados afirmaram que os remdios
do mato indicados pelos curandeiros e benzedeiros tradicionais so a primeira opo para o tratamento
de algumas queixas e doenas na comunidade. Este fato tambm pode ser constatado pela manuteno de
espcies medicinais, tanto nativas como exticas, em quintais e roas, prtica comum na maioria dos lares
visitados.
Constatou-se um conhecimento aprofundado e rico nos especialistas do sistema de cura local, o
qual transmitido e conservado por via oral, geralmente herdado atravs do vnculo familiar. A
importncia dos profundos conhecedores da medicina indgena evidenciada na credibilidade e reputao
que apresentam a nvel regional, os quais so procurados por moradores das aldeias indgenas e,
regularmente, por pessoas de povoados vizinhos. O fato do saber medicinal estar conservado e
concentrado em poucas pessoas da tribo estudada, aliado tendncia substituio da medicina
tradicional pela medicina ocidental, origina um evidente risco de que este conhecimento seja esquecido e
sub-valorizado paulatinamente; portanto, como para a maioria dos grupos tnicos no mundo, existe a
necessidade de conservar estes aspectos tradicionais.
Durante o estudo foi possvel reconhecer que a cincia da cura na tribo Pankararu encontra-se
caracterizada por uma continua experincia com o sagrado, com fortes componentes sociais e culturais,
2 A FUNASA oferece ateno emergencial e especializada nos hospitais de Tacarat, Itaparica e Paulo Alfonso.
-
mediados principalmente pela f em Deus, os smbolos da fora encantada3 e os guias de luz
4, num
universo rico em misticismo e religiosidade, o qual pode ser considerado como um sistema de prticas
xamnicas que se manifestam atravs de elementos religiosos durante as prticas de cura; assim, a
eficcia teraputica abrange dimenses da doena a nvel fsico e espiritual.
Entre os especialistas do sistema de cura podem ser diferenciados os curandeiros (as), as parteiras,
benzedeiros (as) ou rezadeiros (as) e pais de prais5; estas categorias podem ser diferenciadas pela funo
e prticas realizadas dentro de cada uma delas. Os curandeiros trabalham mais profundamente com o uso
teraputico dos recursos vegetais direcionados a atuar num sistema corporal definido, seja por via oral ou
de uso externo, dependendo da parte do corpo afetada e do modo de ao da planta; ao recomendar o uso
de algum tipo de vegetal, informam as contra-indicaes durante o tratamento, a dosagem adequada e os
cuidados na alimentao durante o uso de algumas plantas. Comumente seus remdios envolvem a
mistura de diversas espcies, como na preparao de garrafadas e lambedores, que so compostos por
diversas plantas de similares indicaes teraputicas.
Os benzedores ou rezadeiros costumam ser consultados mais freqentemente nos casos de
determinada doena ou mal estar que tenha relao com aspectos mgicos, referidos aqui como doenas
culturais, .....doenas que homem branco de caneta no pode curar, as quais passam por um tratamento
mstico-religioso no qual o benzedor (a) ou rezadeiro (a) reza ou abenoa o paciente; estes aspectos
msticos no sero abordados nesta pesquisa por respeito ao sigilo dos aspectos secretos da tradio
Pankararu.
Os pais de prais eram homens que antigamente cuidavam da sade do povo. Hoje, como
guardies dos prais, mesmo que pratiquem ou no a medicina tradicional, detm importante reputao
moral dentro de sua cultura, sendo igualmente reconhecidos pelo seu dom de cura.
As parteiras detm um conhecimento amplo e relativamente uniforme sobre os remdios naturais
para o cuidado da mulher e seu recm nascido. O parto com assistncia domiciliar auxiliado por elas
apresenta elevada freqncia segundo dados do Sistema de Informao Indgena Pankararu-SIASE. Alm
disso, devido ao maior reconhecimento ao trabalho das parteiras dentre os Pankararu e qualificao da
parteira nos ltimos anos, algumas delas encontram-se vinculadas FUNASA. Estas mulheres preferem
efetuar seu trabalho nestes centros hospitalares e unir seu conhecimento tradicional s ferramentas e
outros benefcios encontrados no atendimento hospitalar. No caso das parteiras Pankararu, pode se
observar uma troca cultural que acontece por meio de apropriaes mtuas entre o saber tradicional e a
medicina oficial, legitimando o saber da comunidade indgena sobre a arte da cura, especificamente no
saber emprico do atendimento ao parto.
Sempre guiados pela sua prpria tradio, com destaque dos encantados como guias e protetores
da comunidade, os curandeiros podem ou no rezar para auxiliar o processo de cura, enquanto os
3 Os encantados so entidades que se manifestam nas prticas de cura; so reverenciados nas festas tradicionais Pankararu e
representam os espritos protetores pertencentes aos heris mticos (Athias 2002). 4 Guias da luz so chamados aos seres desencarnados, os quais se encontram em comunicao com a deidade superior. 5 Pais de prais so homens que zelam os prais, fsica e espiritualmente, cuidando do vestido de croa no seu salo de cura.
-
benzedeiros sempre incluem esta prtica espiritual dentro do seu trabalho. Nas ltimas dcadas, a
importncia dos curandeiros nos pases tropicais tem sido destacada por diversos autores das cincias
sociais e da etnobotnica; de maneira similar no contexto brasileiro, a prtica da reza utilizando um galho
de planta tem sido amplamente indicada pelas comunidades afro-brasileiras, indgenas e urbanas (Pimenta
1998).
a b c
d e f
Fig.3 a-f. Especialistas do sistema de cura tradicional Pankararu: a. Z Lucia dos Santos, curandeiro; b.
Julia Machado, curandeira; c. Fausto Monteiro da Silva, curandeiro; d. Luzinete Aciole do Nascimento,
rezadeira; e. Rosa Maria da Conceio, rezadeira; f. Maria Antonia Avelina, parteira.
Os especialistas Pankararu curandeiros, benzedeiros e parteiras - mantm dentro de suas
vivendas partes secas de plantas de difcil acessibilidade e que podem ser conservadas desidratadas, para
futuro emprego, como o pit (sem identificao), catinga-de-cheiro (sem identificao), marcela (Egletes
viscosa Less.), junco (Cyperus esculentus L.), ameixa (Ximenia americana L.), pau-para-tudo (Kalanchoe
brasiliensis Cam.) e jatob (Hymenaea coubaril L.). De maneira similar, as parteiras conservam entre
-
seus implementos para o parto sementes de gergelim (Sesamum orientale L.) e mostarda (Brassica
integrifolia G. E. Schulz.), que so utilizadas em caso de debilidade da parturiente no momento de dar
luz.
Ao redor do mundo, pesquisas sobre o conhecimento tradicional tm evidenciado que o
conhecimento especializado sobre as qualidades teraputicas das plantas encontra-se associado a pessoas
de idade avanada, evidenciado pela relao direta entre nmero de espcies indicadas e idade dos
informantes (Hernandez et al. 2005). Entre os especialistas Pankararu, todavia, registra-se a presena de
pessoas relativamente novas dedicadas ao servio da cura, pois para eles esta vocao tem relao com o
chamado dos encantados, o qual pode acontecer mesmo sendo a pessoa ainda muito jovem.
Em relao a sexo dos informantes, na tribo Pankararu encontrou-se preponderncia do gnero
feminino, com 60,8% da amostra total dos especialistas; deste percentual, 28 mulheres participam das
prticas de cura, sendo 12 parteiras, 8 curandeiras e 6 rezadeiras, 12 homens participaram como
curandeiros e 8 como rezadeiros.
A elevada riqueza do saber encontrado nas mulheres para diversas comunidades nas regies
tropicais tem sido amplamente demonstrada, apresentando relao com o seu papel nos cuidados da sade
familiar; na regio de estudo, comunidades rurais assentadas no Vale do Rio So Francisco, Pernambuco
e na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, confirmam esta tendncia (Almeida et al. 2006 e Voeks
2004); entre os Fulni-, outra tribo nordestina, a prtica de curanderia restringida s mulheres (Silva et
al. 2005).
3.2 A flora medicinal nas prticas de cura Pankararu
Na tabela 1 se registram um total de 223 etnoespcies que so utilizadas nas prticas de cura
Pankararu, das quais 123 foram coletadas e identificadas at gnero ou espcie; 71 txons foram
identificados em campo ou determinados por comparao com dados da literatura etnobotnica para a
regio; a riqueza na flora medicinal est representada por 115 gneros e 64 famlias (Fig. 4 a-n).
A Tabela 1 exibe a flora medicinal de uso pelos especialistas Pankararu, com suas respectivas
famlias taxonmicas, indicaes teraputicas, partes da planta usadas, hbito, valor de importncia
relativa (IR), manejo e origem das espcies e nmero de voucher. As informaes foram fornecidas por
98% do total de especialistas reconhecidos como tal pela comunidade. A riqueza de espcies indicadas
por eles uma das maiores registradas nas pesquisas etnobotnicas nordestinas, superior ao referido por
Gomez et al. (2007), Albuquerque & Andrade (2002) e Silva et al. (2005), sendo comparvel ao
encontrado por Almeida et al. (2006), que referem 187 txons para o ecossistema da caatinga nos
estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco.
As famlias mais importantes em termos do nmero de espcies foram Leguminosae, abrangendo
21 plantas medicinais: Mimosoideae (7), Caesalpinioideae (5), Papilionoideae (8) e Cercidae (2); seguem
as Asteraceae, com 15 espcies indicadas, Euphorbiaceae (18), Lamiaceae (8), Anacardiaceae e
-
Solanaceae, com 6 txons referidos cada uma. Estas famlias foram igualmente destacadas em pesquisas
etnobotnicas no Brasil, referidas por Silva & Andrade (1998) para os Xucuru, Silva et al. (2005) entre os
Fulni-, ambos em Pernambuco, e Morais et al. (2005) junto aos ndios Tapeba, no estado do Cear.
Diversas tcnicas e formas de aproveitamento das espcies medicinais foram descritas pelos
especialistas Pankararu, evidenciando a grande riqueza deste saber emprico. No entanto, os principais
fitoterpicos indicados correspondem aos citados na maioria das pesquisas sobre flora medicinal
brasileira, sendo de maior destaque o decocto (40%), seguido pela macerao (32%), tcnica referida
popularmente como deixar de molho, a qual pode ser realizada com a casca do tronco, folha ou flor. O
tempo de extrao pode ser s alguns minutos ou a noite inteira, dependendo provavelmente da
concentrao do composto ativo da planta; o uso da extrao em lcool comum, podendo ser preparada
com vinho branco ou cachaa, de acordo com o tratamento e as condies do paciente (idade, sexo,
durante a gravidez etc.). Geralmente estes preparos so usados via oral, podendo tambm ser utilizados
em banhos, lavagem intra-uterina, gargarejo, nebulizaes, uso tpico, emplasto e defumao.
-
Tabela 1. Lista das espcies de uso medicinal na comunidade indgena Pankararu. Manejo; e espontnea, c cultivada, com comprada; Hab Hbito, Her
Herbceo, Arb Arbustivo, Arv Arbreo, Th Trepadeiras herbceas; N Nativa, E Extica.; epf = epfita; outros: lquen e cactos; A Ameaada, PC Prioridade
de conservao.
Txon Nome Comum Indicaes teraputicas Manejo Hab. Parte usada Status
Acanthaceae
Justicia gendarussa Burm. f. Abrecaminho banho, limpeza energtica. c Her folha Justicia pectoralis Jacq. Anador presso alta, febre, analgsico. c Her folha Justicia strobilacea (Nees.) Lindau Beija, Flor-de-beija febre, dor de cabea, sinusite em recm nascido, dor nos olhos, corrimento,
gripe em criana e doena cultural. e Arb folha
Alismataceae Echinodorus sp. Chapu-de-couro derrame (AVC), antiinflamatrio, reumatismo. e Her raiz Liliaceae Allium cepa L. Cebola branca gripe, tose. com Her raiz Allium sativum L. Alho, Alho-roxo febre, reumatismo, resguardo quebrado, tosse, pneumonia; febre, limpeza
energtica. com Her raiz
Amaranthaceae Beta vulgaris L. Beterraba trombose, anemia. com Her raiz Anacardiaceae Anacardium occidentale L. Cajueiro-vermelho cicatrizante, derrame (AVC), antiinflamatrio, leishmaniose, anemia,
trombose, gastrite, vermfugo, febre, analgsico (dor nas costas), fratura, reumatismo, adstringente feminino, antiinflamatrio, depurativo, anti-
sptico e cicatrizante no puerprio, regula o ciclo menstrual, complicaes no puerprio, gripe, antictico, ferida no mamilo, queimaduras e limpeza energtica.
e Arv casca
Mangifera indica L. Manga-espada Complicaes na circulao, antiinflamatria, doena cultural. c,e Arv folha, casca Myracrodruon urundeuva Allemao Aroeira doenas pulmonares, gripe, tosse, pneumonia, antiinflamatria,
cicatrizante, gastrite, diabetes, reumatismo, adstringente feminino, analgsico, anti-sptico, depurativa e cicatrizante no puerprio, regula o ciclo menstrual, menorragia, feridas no mamilo e doena cultural.
e Arv casca
A, PC Schinopsis brasiliensis Engl.* Brana analgsico, dor de cabea, disenteria, hemorrida, indigesto, diabetes,
reumatismo, clica menstrual, dismenorreia, complicaes no puerprio, tosse, gripe, doena cultural.
e Arv casca, raiz
PC Spondias mombin L. Umbu-caja gripe, antibitico e Arv casca, raiz Spondias tuberosa Arr. Cm. Umb, Umbuzeiro diarria, disenteria, indigesto, dilata no parto, emenagoga, menorragia,
segura o feto em risco de perda, doena cultural.
e Arv casca, raiz
Anemiaceae
-
Anemia tomentosa (Sw.)Sw. Croazinho febre, clica menstrual, dismenorreia, doena cultural. e Her folha Annonaceae Annona Marcgravii Mart. Araticum mordida de cobra, doena cultural, antiinflamatrio, febre aps aborto,
cicatrizante, reumatismo, tosse, gripe, dor de cabea, analgsico.
e Arv raiz
Annona squamosa L. Pinha amgdalas inflamadas, dor de dente, expectorante, gripe, tosse, febre,
mordida de cobra, analgsico, dor de cabea. c Arv folha, raiz
Apiaceae Coriandrum sativum L. Coentro clica do bebe, dismenorreia. com Her semente, parte
area Foeniculum vulgare Mill. Endro presso alta, clica infantil, dor de estmago, relaxante, analgsico durante
o puerprio, clica menstrual, menorragia. c Her folha, flor,
semente Pimpinella anisum L. Erva doce clica de bebe. c Her folha Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro disenteria, dor de estmago, emenagoga, abortiva. e Arv casca Arecaceae Cocos nucifera L. Coco-amarelo corrimento, infeco geniturinria c Arv fruto (casca)
Syagrus coronata (Mart.) Becc. Ouricuri dor de cabea, antiinflamatrio, complicaes no puerprio, limpa os
olhos, aflies nos olhos, dor de coluna, clica menstrual, depurativo no puerperio, prstata, regula o ciclo menstrual.
e Arv raiz, fruto
Aristolochiaceae Aristolochia brasiliensis Mart. & Zucc. Jarrinha dor de cabea, antiinflamatrio, analgsico (dor de estmago), regula o
ciclo menstrual, clica menstrual, dismenorreia, cicatrizante, depurativa e cicatrizante no puerperio, complicaes no puerprio, doena cultural, limpeza energtica.
e, c Th folha, raiz
Asclepiadaceae Calotropis procera (Will.) R.Br. Algodo-de-seda clica infantil, analgsico, reumatismo. c Arb ltex Asphodelaceae Sanseviera sp. Espada-de-So-Jorge doena cultural, limpeza energtica. c Her folha Asteraceae Acanthospermum hispidum DC. Federao analgsico, dor de cabea, febre, problemas na viso, complicaes no
puerprio, gripe, gripe infantil, sinusite, tosse, anticptico. e Her raiz, folha
Egletes viscosa Less. Marcela diabetes, complicaes no puerprio, dor de estmago, indigesto, clica
menstrual, depurativo, emenagoga, abortiva, regula o ciclo menstrual.
e Her flor, semente,
folha, raiz Acmella uliginosa (Sw.) Cass. Sarampina sarampo. e Her folha, talo Ageratum conyzoides L. Mentraste cicatrizante, antiinflamatrio, complicaes no puerprio, depurativo no
puerperio, anticptico, analgsico (dor de cabea), gripe, analgsico. e Her folha, talo,
Artemisia sp. Anador c Her folha
-
Bidens bipinnata L. Carrapicho-de-agulha problemas nos pulmes, cicatrizante, aflies da pele, aflies nos olhos, leishmaniose, sangue grosso, clica infantil, sinal nos olhos,
antiinflamatrio, depurativo, emenagoga, abortiva, regula o ciclo menstrual, gripe infantil e doena cultural.
e Her raiz
Conocliniopsis prasiifolia (DC.)R. M. King & H. Rob.
Balaio-do-velho emenagoga, abortiva, limpeza energtica. e Her parte area
Helianthus annuus L. Girassol anemia, derrame (AVC), analgsico (dor nos ossos), doenas mentais. c Her semente Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera Frechero asma, dor nos pulmes, gripe, pneumonia, bronquite, anemia, dor de dente. e Her raiz
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera Quetoco antiinflamatrio, dor de estmago, gastrite, adstringente, cicatrizante
feminino, clica menstrual, contraceptivo, corrimento, depurativo, regula o ciclo menstrual, complicaes no puerprio, emenagoga, menorragia.
e Her folha, talo, raiz
Tagetes minuta L. Cravo-de-defunto tosse, tuberculose, doena cultural. e Her folha Vernonia condensata Barker. Boldo dor de estmago, indigesto, clica, antiinflamatria, analgsico (dor no
corpo, no fgado, na vescula). com, c Arv folha
Wedelia alagoensis Baker Bem-me-quer depurativo no puerperio, menorragia no puerperio. e Her folha Vernonia chalybaea Mart. ex DC. Cravo-de-urubu-(lingua-do-
sapo)
clica menstrual, corrimento, analgsico no puerperio. e Her raiz, planta
inteira NI Pau-de-boto sarampo e Her flor Bignoniaceae Anemopaegma arvenses (Vell.) Stellfeld. Catuaba derrame (AVC), reumatismo, impotncia. e Arv Crescentia cujete L. Caco-de-cuia resguardo quebrado. Arb fruto Tabebuia caraiba (Mart.) Ber. Craibeira gripe, tosse, pneumonia, bronquite, emenagoga, abortiva. e Arv casca,
entrecasca Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC.) Standl Pau-drco antiinflamatrio, gastrite, inflamaes intestinais. e Arv casca
Boraginaceae Heliotropium tiaridioides Cham. Crista-de-galo antiinflamatria, disenteria, dor de estmago, garganta inflamada, infeco
no pulmo, complicaes do recm nascido, , gripe. e Her flor, folha,
parte area Brassicaceae Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Merr Abacaxi gripe. c epf fruto Bromelia antiacantha Bertol. Croat vermfugo, abortiva, coceira na pele. e epf talo, polpa Bromelia laciniosa Mart. Ex. Schult. Macambira doena cultural. e epf folha Neoglaziovia variegata (Arr. Cam.) Mez.) Croa mordida de cobra, dor de coluna, reumatismo, dor nos rins, prstata. e epf raiz, folha Burseraceae
-
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Umburana-de-cambo gripe, tosse, reumatismo, cimbra, dor de estmago, diarria, disenteria, febre, anticptico, limpeza energtica, cosera na pele, doena cultural.
e Arv casca
Cactaceae Cereus jamacaru D.C. Mandacaru regula a presso, complicaes do corao, diabetes, gripe, febre, dor de
coluna, problemas respiratrios, emenagoga, pele resseca com desidratao.
e outro raiz, suco dos ramos
Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. Coroa-de-frade febre, cicatriza feridas, dor de cabea. e outro caule (suco do
caule) Pilosocereus gounellei (Weber) Byl. & Rowl. Xique-xique dor de cabea, resguardo quebrado, regula o ciclo menstrual, dor de
estmago.
e outro raiz
Capparaceae
Capparis jacobinae Moric. ex Eichler Ico-preto sintomas da primeira dentio, complicaes no puerprio, diarria. e casca Capparis yco Mart. Ico-do-mato complicaes no puerprio. Cleome spinosa Jacq. Musamb gripe, coceira, infeco genital. e Her folha, raiz Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Sabugo febre, antiinflamatria. c Arb flor Celastraceae Maytenus rigida Mart. Bom-nome antiinflamatria, sangue fraco, anemia, diabetes, doenas dos rins,
reumatismo, corrimento, dilatao uterina, menorragia, complicaes no
puerprio, diminui a contrao uterina (evita o aborto), cicatrizante.
e Arb casca, raiz
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Mastruz antiinflamatrio, analgsico (dor de pancada), clon inflamado, vermfugo,
reumatismo (dor de coluna, juntas), fraturas, complicaes no puerprio, asma, gripe, tosse, pneumonia, sinusite de recm nascido, , tuberculose, diabetes, febre, cicatrizante, mau olhado.
c Her folha, talo, raiz
Commelinaceae Commelina erecta L. Marianinha mau olhado, alergia nos olhos, alergia no corpo, depurativo no puerperio,
regula o ciclo menstrual, complicaes no puerprio e gripe. e Her folha, raiz
Convolvulaceae Operculina alata (Ham.) Urb. Batata-de-purga trombose, diarria, verme, indigesto, infeco geniturinria. e Th raiz Crassulaceae Kalanchoe brasiliensis Cam. Pau-para-tudo antiinflamatrio, febre, febre depois do parto, anemia, dor de cabea, dor
nas costas, fraturas, analgsico no puerperio, regula o ciclo menstrual, clica menstrual, dismenorreia, emenagoga na menopausa, abortiva, complicaes no puerprio, diminui a contrao uterina (evita o aborto).
e Her casca
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Pensamento analgsico (dor de estmago). c Her folha Cucurbitaceae
-
Citrullus vulgaris Schrad. Melancia febre. c Th semente Cucumis anguria L. Maxixe diabetes. c Th fruto Cucurbita pepo L. Jerimum vermifugo. c Th semente Luffa operculata Cong. Cabacinha corrimento, abortiva. c Th fruto Momordica charantia L. Samelo vermfugo, adstringente, antiinflamatrio, cicatrizante vaginal, emenagoga,
abortiva, coceira na pele. e Th folha, talo
Wilbrandia sp. Batata-de-teiu ou cabea-
de-negro mordida de cobra, analgsico, dor de dente, vermfugo, gastrite, reumatismo, corrimento, emenagoga, abortiva, prstata.
e Th raiz
Cyperaceae Cyperus esculentus L. Junco febre, analgsico, dor de cabea, dor no corpo, congesto nasal, amgdalas
inflamadas, anticptico de feridas, cansao, diarria, limpeza energtica,
doena cultural.
e Her raiz
Erythroxylaceae Erythroxylum vacciniifolium Mart. Catuaba derrame (AVC), reumatismo, impotncia. e Arv Euphorbiaceae Acalipha multicaulis Mull. Arg. Canela-de-nambu descarrega o corpo, doena cultural. Cnidoscolus urens (L.) Arthur Cansanso derrame (AVC), dor no corpo, apendicite, hrnia, dor de estmago,
reumatismo, dor nos rins, corrimento, prstata, asma, gripe, doenas nos olhos, doena cultural.
e Arb folha, talo, raiz, ltex
Cnidoscolus phyllacanthus (Mart.) Pax. e Hoff. Favela indigesto, anti-sptico, dor de estmago, cicatrizao. e Her casca Croton argyrophylloides Mull. Arg. Sacatinga, Marmeleiro-
branco
e Arb
Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro dor no corpo, sangue grosso, anemia, gripe, analgsico (pancada),
colesterol alto, pneumonia. e Arb casca, folha
Croton micans (Swartz.) Mull. Arg. Sacatinga febre alta, dor de estmago, analgsico (dor de coluna), clica menstrual,
dismenorreia, anti-sptico, resguardo quebrado, disenteria. e casca
Croton pulegioides Baill. Velandinho febre, epilepsia, reumatismo, clica menstrual, gripe, pneumonia,
trombose, doena cultural, limpeza energtica. e Her folha, parte
area Croton rhaminifolius Willd* Velande dor de cabea, trombose, dor de coluna, amebas, febre, epilepsia, sinusite,
alergia na pele, cicatrizante, reumatismo, limpeza espiritual. e Her folha, ltex
PC Croton sp. Pau-de-cheiro,-Catinga-de-
cheiro expectorante, gripe, febre, dor de cabea, doena cultural, indigesto, dor de estmago, febre, antisptico, dor nos olhos, reumatismo, disenteria.
e Arv casca, raiz
Ditaxis malpighiacea (Ule) Pax & K. Hoffm. Pau-de-moc catarata. e Arb casca