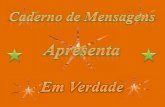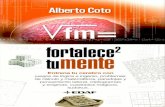DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL · 3 AGRADECIMENTOS A DEUS que me fortalece e me...
Transcript of DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL · 3 AGRADECIMENTOS A DEUS que me fortalece e me...
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO “A VEZ DO MESTRE”
O ADMINISTRADOR ESCOLAR E A CRECHES E RESPECTIVAS ESTRUTURAS DE FUNCIONAMENTO
POR: ELZA DA SILVA DE OLVIERA
PROF. MS. ANTONIO FERNANDO VIEIRA NEY
ORIENTADORA: PROFª. LÚCIA SANTANA DA SILVA CARBONE
Vila Boa - GO
2011
DOCU
MENTO
PRO
TEGID
O PEL
A LE
I DE D
IREIT
O AUTO
RAL
2
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO “A VEZ DO MESTRE”
O ADMINISTRADOR ESCOLAR E A CRECHES
E RESPECTIVAS ESTRUTURAS DE FUNCIONAMENTO
Apresentação de monografia à Universidade
Candido Mendes como requisito parcial para
obtenção do grau de especialista em Administração
Escolar.
Por: ELZA DA SILVA DE OLIVEIRA
3
AGRADECIMENTOS
A DEUS que me fortalece e me
ampara, aos professores do Curso de
Pós - graduação, em especial ao Prof.
Ms. Antonio Fernando Vieira Ney e a
Professora Orientadora Lúcia Santana
da Silva Carbone e a todos que
contribuíram para esta vitória.
4
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho aos meus filhos
em especial à Eva Isabella, filhinha
linda que DEUS colocou na minha
vida, para me guiar e me tornar um ser
humano a cada dia melhor.
5
RESUMO
Trata-se de um trabalho monográfico de pós graduação lato sensu de
Administração Escolar, da Universidade Cândido Mendes com sede no Rio de
Janiero – RJ, onde é abordado com tema o administrador escolar e as creches
e suas respectivas estruturas de funcionamento, com ênfase em:
Administração escolar acerca de seus conceitos; educação infantil, histórico
das creches em âmbito mundial e no Brasil; legislação educacional, onde é
dado enfoque aos direitos de nossos pequenos e futuros cidadãos e cidadãs, e
mencionando a importância do espaço e estrutura físico; os direitos disposto na
legislação educacional brasileira. Esta obra conta com três capítulos;
Administração escolar, História das Creches e Educação Infantil que ao final é
falado dos dispositivos legais da educação brasileira.
Palavras Chaves: Administração /administrador Escolar; creches; estruturas de funcionamento
6
METODOLOGIA
Para atingir os objetivos da presente pesquisa cientifica, o estudo foi
desenvolvido através da modalidade qualitativa; assim, foi elaborada uma
reformulação dos conceitos acerca a administração escolar, utilizando-se uma
pesquisa bibliográfica pertinente ao assunto com leitura de livros, periódicos,
pesquisa na rede mundial de computadores.
7
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO....................................................................................... 08
CAPÍTULO I – ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR.............................................. 10
1.1 – Conceito de Administração Escolar................................... 14
1.2 - A Teoria da Administração e demandas............................. 14
CAPÍTULO II – HISTORIA DAS CRECHES .............................................. 16 2.1 – História da Creche no Brasil.............................................. 18
CAPÍTULO II - EDUCAÇÃO INFANTIL 24
3.1 – Aspectos Históricos da Educação Infantil No Brasil........... 24
3.2 – A Estrutura e a Organização da Educação Infantil e
Legislação Educacional............................................................... 25
3.3 – Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil........................................................................................ 31
3.3 - A Gestão Democrática e o Diretor Escolar........................
35
CONCLUSÃO................................................................................................ 40
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 42
8
INTRODUÇÃO
O Administrador Escolar e a Creches e respectivas Estruturas de
Funcionamento; com a pretensão de auxiliar e entender o trabalho do
administrador a frente de processo de organização e funcionamento de uma
creche, levado em conta a legislação brasileira, os critérios para um bom
atendimento e respeitando os direitos fundamentais das crianças de 0 a 5
anos, o administrador escolar deve fazer com que todos respeitem os critérios
de funcionamento da estrutura interna que conta com o apoio de vários
profissionais responsáveis em dar continuidade as rotinas pedagógicas
voltadas especialmente as necessidades das crianças.
Apresentar a creche na atualidade desde a organização e
funcionamento, relações com os familiares da clientela, mostrando a
importância do real papel e responsabilidade de um administrador de
creche/pré-escola deve assumir perante a sociedade. Conceituar a creche
escolar/pré-escola apresentado o histórico até a atualidade. Analisar as
principais competências do currículo apropriado à educação infantil/creche.
O administrador escolar de creche deve ter habilidades, conhecer toda
a sua estrutura, incluindo o que prevê toda a legislação brasileira em garantia
ao acesso a uma creche que ofereça padrões mínimos de qualidade para o
atendimento da educação infantil, além de conhecer todos os fatos históricos
relacionados ao surgimento da creches no Brasil.
Este trabalho cientifico esta dividido em capítulos: onde no capitulo I,
de inicio veremos a Administração Escolar; a administração de fato e atividade
de governo essencial a todo o esforço humano, mas, porém coletivo, seja em
qual for à instituição ou empresa, exército, hospitais, igreja e mais, isso são
algumas da idéias de Martins contidas neste capitulo, e no mesmo também
teremos a oportunidade de expor as idéias de Saviani, Chiavenato, Gandin e
outros. Capitulo II: A História das Creches; inicia-se com as idéias de
Abromowicz, fala-se das primeiras creches no mundo, Rosa Alcântara & Lopes,
9
nos relata da primeira creche em Paris, as idéias de Pestalozzi e Rousseau,
como nos explicara Montenegro, que as são espaços substitutos da família, é
notado que esta instituição foi pensada para atender crianças pobres, filhas de
mulheres trabalhadoras. O atendimento à criança pequena surge diante do
contexto de liberação da mulher para o mercado de trabalho. É exposto
também como surgiu a primeira creche no Brasil, e ao final o Terceiro Capitulo;
a educação infantil e a legislação Brasileira é abordado alguns dos dispositivos
legais que reafirmem os direitos e deveres com a educação infantil no Brasil,
com as idéias de Kuhlmann, e citados diversos artigos e parágrafos no que
condizem sobre a Educação Infantil, será mencionando a importância estrutura
e organização da educação infantil, seu oferecimento partiu de iniciativas
privadas e só passa a ser assegurado como dever do Estado com a
Constituição Federal de 1988, tornando-se um direito de toda a criança
pequena, caso opte a família, uma ação complementar a esta e não a sua
substituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394/96 traz uma
nova proposta para esse atendimento, quando define a creche como espaço
de cuidados e educação.
10
CAPÍTULO I
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Quando nos referimos à administração, esta deve estar vinculada a um
contexto, não só de ordem política, mas também econômica e social. Assim
sendo podemos dizer que:
A administração é uma atividade generalizada e essencial a todo
esforço humano coletivo, seja na empresa industrial, na empresa
de serviços, no exército, nos hospitais, na igreja, etc. O homem
cada vez mais necessita cooperar com outros homens, para atingir
seus objetivos, neste sentido, a administração é basicamente a
coordenação de atividades grupais..” (Martins, 1999, p 24)
Assim compreendemos que, a administração deve ser entendida e
analisada dentro de um contexto, onde as relações econômicas e
principalmente as relações humanas, devem ser o ponto principal da discussão
sobre educação no ambiente escolar.
No entanto, ao longo da história da educação, a prática administrativa
escolar foi realizada de forma centralizada, detentora de poder, estimulando a
competição, a intimidação e a segregação no ambiente escolar.
Hoje, o que vemos na prática na escola pública estadual é uma
tentativa de descentralização e uma maior preocupação com a manutenção de
uma unidade grupal forte.
Dentro desta concepção, a Administração Escolar deve estar voltada
para a coletividade; onde o papel do administrador deve ser o de facilitador, e
articulador das idéias do grupo, alinhavando-as, questionando, inferindo,
traduzindo posições e sintetizando uma política de ação com o objetivo de
coordenar o processo educativo. Podemos dizer então, como ilustra o texto
que:
11
Segundo SAVIANI a gestão escolar deve ser caracterizada por um processo democrático, articulada com a comunidade local, com os seguintes objetivos:
• Descrever e analisar as práticas administrativas em uma escola
que tem relação articulada com a comunidade;
• Identificar, ante as determinações do Sistema Oficial de Ensino, a
postura adotada por uma escola que acata a participação da comunidade em
seu processo de gestão;
• Verificar as contribuições que a relação escola-comunidade
oferece à gestão do processo educacional.
• Identificar os compromissos que uma postura democrática com a
participação comunitária exige do diretor;
• Identificar os resultados qualitativos e quantitativos apresentados
no ensino, produzidos pela gestão democrática de uma unidade escolar;
• Identificar, através de um estudo micro, as contribuições
concretas ao desenvolvimento de uma administração escolar democrática.
• A necessidade de promover a articulação entre a escola e a
comunidade a que serve é fundamental. O entendimento de que a escola não é
um órgão isolado do contexto global de que faz parte, deve estar presente no
processo de organização de modo que as ações a serem desenvolvidas
estejam voltadas às necessidades comunitárias.
Na concepção de CHIAVENATO (1999) a administração é
caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação consciente e
esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação do processo
pedagógico, participação responsável de todos nas decisões necessárias. Por
isso, o diretor é cada vez mais obrigado a levar em consideração a evolução da
idéia de democracia, que conduz o conjunto de professores e a comunidade
local, à maior participação, à maior implicação nas tomadas de decisão. Logo,
os antigos fundamentos de administração educacional, embora importantes,
são insuficientes para reorientar os novos caminhos da educação.
12
Hoje é fundamental uma participação mais coletiva, mais abrangente,
a longo prazo, para ajudar no desenvolvimento da qualidade do ensino.
Decisões isoladas são meros paliativos que demandam trabalho e despesas
sem muita eficiência.
A administração escolar nas escolas públicas vem sofrendo diversas
mudanças. Conhecer a comunidade e traçar o seu perfil sócio-econômico,
cultural educacional, como forma de determinar sua pauta de valores, para que
conste no plano da escola, no plano de aula e no modo de administrar a escola
são tarefas indispensáveis ao administrador escolar. A partir desta
reciprocidade, via educação, escola pode oferecer atividades educacionais e
culturais voltadas à realidade do meio, para alunos e comunidade. Esse
modelo capacita o administrador a estabelecer a aproximação e a integração
escola-comunidade, culminando em uma gestão participativa.
O sistema educacional se organiza segundo linhas estruturais da
sociedade, por essa sociedade é determinada tipo de escola que temos. Não é
a escola que determina o tipo de sociedade e sim a sociedade que determina o
tipo de escola.
Para isso se faz necessário o conhecimento do tipo de sociedade em
que a escola existe. Qualquer esforço sem aprofundamento suficiente sobre os
problemas da sociedade, não surtirá os efeitos desejados de ver essa mesma
sociedade transformada, podendo a escola inclusive estar a serviço da
reprodução do tipo de sociedade que deveria estar sendo transformada.
Não é possível fazer uma proposta educacional consistente em referi-la a um projeto social; assim para alcançar em educação será necessária uma proposta social, melhor dizendo, será necessário incluir nelas um cunho social. (GANDIN, 2001, p.8)
A atividade escolar está impregnada de ponta a ponta aspecto político. A
escola tem se configurado como um espaço em interesses contraditórios entre
13
as classes tem se evidenciado na disputa pela apropriação do conhecimento.
Há de se ver no fracasso escolar uma reação da classe mais pobre ao tipo de
modelo educacional que a mesma tem se submetido e do outro lado,
interesses da classe dominante que sempre estarão a serviço do modelo
capitalista.
Precisamos contribuir para criar a escola que é aventurada, que marcha, que não tem medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. (PAULO FREIRE,1998,P.31)
Para exercer sua função, os administradores das escolas públicas vêm
buscando uma integração maior com toda comunidade que faz parte da escola.
E para que este tipo de gestão funcione, todos os problemas e sugestões
devem ser conhecidos. As necessidades de uma determinada comunidade que
precisam ser identificados. Sem conhecimento dos problemas de uma
determinada comunidade não há como traçar metas e objetivos e sem os
objetivos a serem alcançadas não há como planejar as ações, e se não há
ações a escolas não poderá contribuir para a transformação da sociedade.
Conhecer a sociedade na qual a escola faz parte é de grande
importância, assim também como é importante o papel a ser desenvolvido pela
escola nesta sociedade.
Na prática educativa não há lugar para a naturalidade. Ou a escola se
posiciona frente aos problemas enfrentados pela sociedade ou ela estará
comprometida com a continuidade e reprodução deles.
A escola assim como os sindicatos, os partidos, as comunidades de
base, é também um espaço social. Nela devem ser discutida os problemas
sociais e atuar como instrumento de mudanças. A escola não pode se eximir
dessa responsabilidade. Confinar a escola a aspectos técnicos da prática
docente e na formulação de métodos de transmissão de conhecimento e a
problemática da aprendizagem é nega-lhe seu papel principal que é de
14
formação do cidadão crítico que inclusive a de agente de transformação dessa
sociedade.
1.1 - Conceito da Administração Escolar
O ato de administrar envolve qualquer tipo de trabalho que seja
realizado por duas ou mais pessoas. A administração no modo geral é
praticada não só entre aqueles que possuam formação acadêmica específica,
como também é possível encontrar em diversas organizações administradores
que não são formados e contam somente com a prática (Chiavenato,2000).
Busca-se o alcance de determinados objetivos com eficiência e
eficácia. De acordo com Chiavenato (2000), a eficiência está relacionada com
os meios para se alcançar um objetivo e a eficácia preocupa-se com os
resultados, organização, sem a administração, as organizações jamais teria
condições de existirem e crescerem. Nos tempos atuais, a sociedade típica dos
países desenvolvidos é uma sociedade pluralista de organizações, na qual a
maior parte das obrigações sociais (como a produção de bens e serviços) é
confiada às organizações que são administradas por dirigentes para se tornar
mais eficientes e eficazes.
1.2 - A Teoria da Administração e demandas
A Teoria Geral da Administração busca desenvolver a capacidade de
pensar, de definir situações organizacionais complexas, de diagnosticar e de
propor soluções. Na medida em que o administrador sobe para os níveis mais
elevados da organização, diminui a necessidade de habilidades técnicas,
enquanto aumenta a necessidade de habilidade conceitual. Nos níveis mais
altos os executivos precisam gradativamente de habilidades conceituais para
decidir sobre os destinos de sua organização. A teoria da administração evoluiu
e assumiu um caráter mais humano, na condução dos destinos de um
empreendimento.
15
A tarefa administrativa nas próximas décadas será desafiadora, pois
deverá ser atingida por grandes transformações, implicando em grandes
mudanças como:
a) O crescimento das organizações educacionais.
O crescimento é uma decorrência inevitável do êxito organizacional,
mas aumenta a complexidade, por que o fator que prepondera e o ser humano
que desde do nascimento há se a necessidade de receber educação; a
legislação impõe cuidados educacionais a partir de zero ano de idade.
b) O fenômeno da concorrência
Na medida em que aumentam a população há a necessidade de
aumentar os números de profissionais e a qualidade do ensino, crescem
também os riscos educacionais nas instituições de educação particulares e
públicas; a constante atualização e inúmeros métodos pedagógicos
educacionais: (Pedagogia Waldorf, Maria Montessori,
Construtivismo/estruturalismo de Jean Piaget, Pragmatismo, Construtivismo
pós-piagetiano e o Ensino tradicional). Uma educação que sempre esta em
constantes atualizações, atendendo os requisitos globais.
c) Inovação tecnológica
Com a chegada das novas tecnologias educacional a inclusão de
computadores e computadores portáteis, isso introduz novos processos e
instrumentos que causam impactos sobre a estrutura e o comportamento do
corpo docente e discente da escola.
16
CAPÍTULO II
HISTÓRIA DAS CRECHES
Creche, Escola Maternal, Sala de Asilo, Escola de Tricotar, Jardim da Infância, Pré-Primário, Pré-Escola, Educação Infantil foram alguns nomes dados, ao longo da história das instituições de educação de crianças pequenas (ABROMOWICZ 1999).
A nomenclatura e a concepção norteadora da prática educacional dessas
instituições mantêm relação direta com a concepção de infância vigente
na época e com a classe social a qual se destinava a instituição. O que cada
momento histórico constrói, reserva e atribui como "função" e período da
infância impõem tarefas a essas instituições educativas. Isto significa dizer que
ser criança e vivenciar uma infância nem sempre foram as mesmas coisas. E
que educação infantil também teve vários significados no decorrer da História.
(ABROMOWICZ, 1999, p. 10).
O seu advento foram entre os séculos XVIII e XIX, as primeiras
instituições de educação de crianças pequenas. Segundo Rosa; Alcântara &
Lopes (2002), a primeira escola para crianças de dois a seis anos apareceu em
1774, com João Frederico Oberlin em Paris, França, era destinada somente
para a classe emergente, burguesa, cujas mães começavam a ajudar no
comércio. Quanto à data e local há controvérsias apontadas, uma vez que,
segundo Garcia e Vanti (2008), seria no ano de 1767, e não em Paris, mas na
Alsácia, também na França.
Criada por Robert Owen, em 1816, a escola infantil, na Escócia "... teve
como objetivo cuidar e educar as crianças pobres, filhos de operários dos
moinhos, inspirado nas idéias de Pestalozzi e Rousseau" (GARCIA;
VANTI, 2008, p. 2). Sendo Pestalozzi tutor de Marbeau, e esse baseado
em suas idéias, foi aplicá-las na França.
Prosseguindo-se com a história da Educação Infantil na Europa, de
acordo com Rizzo (2000), em 1844, Firmim Marbeau, criou em Paris, a primeira
creche, cujo significado em português é manjedoura, lugar onde os animais
17
recebem comida, comparativamente à criança, ainda nesta época vista como
um animalzinho de estimação. A creche se constituiria numa ajuda à
escolarização, fazendo-se uma escola de higiene, moral e de virtudes sociais
(RIZZO apud GARCIA; VANTI, 2008).
Segundo o Archivo Pittoresco, (Disponível em forma eletrônica),
editado em 1867, Marbeau, em 1844, instituiu uma creche em Paris,
objetivando recolher, confortar, vigiar e educar crianças pequenas, enquanto
suas mães estivem trabalhando em fábricas, para buscar o sustento da casa,
buscando proteger as crianças que ficassem sozinhas em sua casa ou a mercê
de estranhos. No reinado de Luiz Felipe foram criadas na cidade de Paris 17
creches na área urbana e 3 nos subúrbios, cujo custo à sociedade parisiense
variava de 6 a 40 francos, utilizados para a compra de berços, roupas, além da
aplicação de recursos voltados aos aspectos morais e físicos das crianças.
Frederic Froebel criou, em 1837, o que chamou de Jardim da
Infância (kindergarten), como um ambiente destinado a promover o
desabrochar das potencialidades da criança, representando um marco na
história da primeira infância (SILVA, 2007).
Segundo Montenegro (2005), a creches representavam espaços
institucionais complementares ou substitutos da família, à esta época, na
França dos segmentos sociais desfavorecidos.
Segundo Silva (2007), as creches, nesse período, sustentavam uma
relação de poder, dominação, controle e imposição de valores sobre a família
pobre, sempre nos moldes burgueses, já que nestas instituições, as crianças
eram sujeitadas às regras de vida e de higiene, pautados pelo modelo ideal, no
caso, a criança abastada, sendo, portanto, inegável a vinculação da
creche com a pobreza.
Manuel Vitorino (1981) defendeu a ligação das creches com as
camadas populares, tanto que "[...] para a operária honesta, a creche é um
admirável recurso. Esta orienta [...] a não abandonar os filhos, senão quando o
trabalho reclama por eles novos e maiores sacrifícios" (VITORINO apud SILVA,
2007, p. 23). Atualmente, mas não em sua totalidade, a creche ainda é vista
18
como um favor prestado as camadas pobres e não um direito, ou seja, ainda se
observa seu caráter assistencialista por parte do poder público.
Quanto às circunstancias e abordagens semelhantes entre Brasil e
Europa, aponta Silva (2007),
As mesmas circunstâncias de origem das creches na Europa
podem também ser identificadas no Brasil, determinando
semelhanças entre a creche européia e a brasileira. Mas no
Brasil agregou-se outro fator: o atendimento das crianças
abandonadas, órfãs e filhas de mãe solteiras. Um exemplo claro foi a criação
da Roda dos Expostos' das Santas Casas de Misericórdia ou as Casas dos
Expostos' que recolhiam crianças que os pais não queriam, filhos de mães
solteiras, de "mulheres de má conduta". E esse oi um recurso muito
utilizado na época (opus cit., p. 27).
No Brasil das ultimas décadas do século XIX, os Kindergarten de
Fröebel começaram a difundir-se. Nesta época, seus princípios se fazem
constar na legislação, inserindo-se na cultura pedagógica brasileira, com
a criação, em 1875 do primeiro Jardim de infância do país. (GARCIA & VANTI,
2008).
2.1 – História das Creches no Brasil
No Brasil, as creches aparecem formalmente em 1943, com a
Consolidação das Leis Trabalhistas, onde as normas previam, em seu artigo
389, parágrafo primeiro, que as empresas com mais de trinta mulheres
deveriam possuir berçários para acolher os filhos de suas funcionárias. Tal fato
trazia a creche mais como uma instituição de apoio à mulher trabalhadora que
propriamente de apoio ao desenvolvimento da criança. (FAZOLO, 1997)
No período do regime militar no Brasil, a partir de 1964, as políticas
sociais continuaram a acentuar a idéia da creche como apoio às crianças em
situação de miséria e precariedade de apoio familiar que caracterizaria uma
“defasagem cultural” em relação às demais crianças, a qual seria resultado da
não existência de ambiente sócio-familiar adequado ao desenvolvimento da
19
criança. Assim as creches seriam responsáveis por propiciar uma “educação
compensatória”, a qual deveria superar as dificuldades anteriormente citadas.
(OLIVEIRA, 1992)
A pré-escola com função preparatória para o prosseguimento da
Educação Infantil, inspirada na concepção alemã de Froebel (1782-1852)
tornou-se a chave para resolver a questão do fracasso escolar da população
menos favorecida. Tal concepção foi incorporada, na década de 1970, ao
discurso oficial brasileiro que defendeu programas de educação na pré-escola
com função compensatória. (AQUINO, 2001)
Essa proposta de cunho pedagógico, associada à idéia de educação
enquanto assistência, consubstanciada nos refúgios, asilos e creches cujas
primeiras iniciativas remontam a 1774, na França, influenciou o atendimento
das crianças de zero a seis anos no Brasil. (FAZOLO, 1997)
Com o propósito de contribuir com a chamada Integração Nacional, é
criado, em 1974, pela extinta Legião Brasileira de Assistência – LBA, o projeto
“Casulo” sendo o primeiro projeto de Educação Infantil em massa. Este projeto
visava prestar assistência ao menor de zero a seis anos, basicamente, de
modo a prevenir sua marginalidade.
Ao prover atendimento à criança o Projeto Casulo pretende, também,
proporcionar tempo livre às mães de modo a possibilitar que estas trabalhem
para aumentar a renda da família. O Projeto centrava suas atenções no
atendimento das necessidades nutricionais e a realização de atividades
recreativas. As maiores dificuldades do Projeto Casulo ocorreram por falta de
recursos humanos para a supervisão das atividades de cada célula. (KRAMER,
1987)
É importante lembrar, dentro desse quadro que:
“Os princípios que orientaram a concepção dos primeiros programas nacionais brasileiros de Educação Infantil de massa foram influenciados por propostas elaboradas por agências internacionais ligadas à ONU, em especial o UNICEF”. (ROSENBERG, 1997, p.137)
20
A partir dos anos 1980, com a crescente participação da mulher
moderna no mercado de trabalho como profissionais liberais e executivas, a
creches particulares tomam impulso como organização de apoio à classe
média, passando simultaneamente a ser também considerada como um
espaço educativo, privilegiando o desenvolvimento e a criatividade infantil e
valorizando a individualidade da criança. (KRAMER, 1987).
Marcando a construção de uma política nacional de Educação Infantil e
a Constituição Federal, promulgada em 1988, efetiva a conquista do direito à
educação para as crianças de zero a seis anos, como estatuído em seu artigo
nº 208 – “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia
de: (...) IV – atendimento em creche e pré-escola ...” (BRASIL, 1988).
Posteriormente, o direito da criança à creche e pré-escola é novamente
reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069 de 1990. Com
a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei nº
9394 de 1996) fica definido que a creche e a pré-escola fazem parte do
segmento da Educação Infantil com função de educar e cuidar. Esta Lei
esclarece que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica,
estando vinculada ao sistema de ensino e passando a exigir formação docente
do seu pessoal. (artigo 29) Em 1998, o Conselho Nacional de Educação
divulga as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
apresentando princípios norteadores para a elaboração de currículos a serem
empregados no estabelecimentos de Educação Infantil.
Assim, segundo Aquino (2001), ficam evidenciadas na história evolutiva
das creches duas tendências bem definidas. A primeira, com fins basicamente
assistencialistas, voltadas ao ato de cuidar, onde atuam as creches públicas. A
segunda, com uma motivação educacional, preocupada com a aprendizagem
infantil fundamentalmente empregada pelas creches particulares.
Vale ressaltar que a primeira creche, no Brasil, surgiu em São Paulo,
em 1877, sob os modelos de Pestalozzi e Froebel, para as classes de
Educação Infantil, "[...] na escola Americana, atual Instituto Mackenzie.
Em ambos os casos, a população alvo era constituída pelos filhos das
famílias abastadas" (CIVILETTI, 1989, p. 6).
21
No Brasil, estas datam do final do século XIX, sendo os primeiros
registros de 1879, quando a primeira creche foi inaugurada "... na cidade do
Rio de Janeiro, pela Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, para os
filhos dos operários, em 1899 (SILVA, 2007, p. 22).
Em 1880, tem-se conhecimento de apenas duas creches no Rio de
Janeiro, sendo a primeira a da Sra. Menezes Vieira que dirigia uma Educação
Infantil, contígua ao colégio do seu marido, utilizando o método de Froebel.
(opus cit., 1989).
Voltando-se à Europa, surgem, a partir de então, novos métodos que se
basearam, originalmente, na proposta de Fröebel, como o método de Maria
Montessori na Casa dei Bambini, e, ainda, aquele desenvolvido pelas irmãs
Agazzi, sendo ambos da Itália. Daí em diante, o movimento de reformas no
Jardim de infância continuou nas décadas de vinte e trinta, enfatizando o
treinamento de hábitos e a educação moral, mais à frente, no período de trinta
a quarenta, enfatizou-se a aprendizagem sócio-emocional dos pequenos. Nas
décadas de cinqüenta e sessenta, o foco voltou-se para o desenvolvimento do
intelecto da criança (GARCIA; VANTI, 2008).
Na década de 30, ampliou-se a atuação dos profissionais da saúde nas
creches, com propostas de cunho higienista, sanitarista, assistencialista e
moral, uma vez que nesta época, segundo a tradição positivista, a medicina e a
psiquiatria procuraram compreender e interferir nos problemas sociais. A partir
desta proposta, concebia-se, naquela época, que a sociedade sofria a ameaça
de infecções e contaminações transmitidas geneticamente, moralmente e
psicologicamente. Explicava-se, assim, o olhar sobre as classes populares e
famílias pobres, segundo as vertentes médica, psicológica e moralista
(VASCONCELOS; MORGADNO apud SILVA, 2007).
O papel da medicina e da psiquiatria, neste contexto, foi o de liderar os
demais trabalhadores para que se procedesse a uma ação interventora,
com diagnóstico e tratamento, eugênico de purificação da raça, sob a
justificativa de "[...] reintegrar e reajustar as famílias que padecessem desse
mal social, sendo caracterizados com seres anti-sociais" (ROCHA, 2004 p. 14).
22
Ressaltando-se a questão da concepção de que o indivíduo se faz
pessoa na cultura de pertencimento, Vygotsky, nos anos 20 e 30 explica
Oliveira (2002), afirmava, em seus estudos, que a cultura chega à criança por
meio dos mais experientes. Diz, também, a mesma autora que, para Wallon, o
valor da afetividade leva a criança a diferenciar-se dos outros. (OLIVEIRA apud
ROCHA, 2004). Assim sendo, como poderiam as crianças de classes
desfavorecidas se perceberem dignas, a partir deste pensamente
preconceituoso de cunho eugênico?
Durante muito tempo, as creches de todo o mundo, incluindo as
brasileiras, organizaram seu espaço e sua rotina diária em função das idéias
acima relatadas era educar as crianças. A assistência, a custódia e a higiene
constituíam o centro do processo educativo. (ABROMOWICZ, 1999, p. 10).
O fim das duas grandes guerras mundiais trouxe a preocupação
social com a população infantil, tanto que a ONU, em 1959, promulgou
a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Antes disso, no entanto,
alguém que também esteve presente à Primeira Guerra Mundial se preocupava
com a educação das crianças: Celestin Freinet.
Freinet (*1986 1966) renovou as práticas pedagógicas, ao afirmar que a
aprendizagem não se limita à sala de aula, devendo o educador buscar nas
experiências de vida do aluno e a integração do conhecimento ao meio social.
As aulas-passeio compõem o centro da pedagogia de Freinet, da mesma
forma que "... o desenho livre, o texto livre, o jornal escolar, o livro da vida. Seu
trabalho influenciou as práticas didáticas de creches pré-escolas de vários
países. (ROCHA, 2004, p. 15).
A grande preocupação com o desenvolvimento infantil se espalhou pela
Europa e pelos EUA, na segunda metade do século XX. A defesa da
brincadeira como ferramenta do desenvolvimento levou a classe média a
organizar os play grounds, os quais foram vistos por pesquisadores como uma
maneira de detectar problemas de saúde física e, principalmente, mental.
(ROCHA, 2004).
Após essa inserção bem sucedida, a educação infantil teve
momentos de altos e baixos devido a questionamentos quanto ao papel
23
da mulher na sociedade, por ser ainda vista como parte única e
exclusiva do ambiente doméstico. Além disso, discussões aconteciam sobre
as atividades lúdicas como uma ferramenta pedagógica valida. Nos anos
60, as escolas baseadas nos métodos de Froebel (escolas novas),
começavam o desenvolvimento de programas curriculares nas quais as
crianças deveriam ser o centro da participação das atividades. Nesse período a
sociedade também se preocupou com as crianças de classes
desfavorecidas, o que levou a o programa Head Start em respostas a essas
necessidades (opus cit., 2004).
A idéia de crianças participativas tomou corpo baseado nas idéias de
Constance Kamii (construtivismo), Emília Ferreiro (psicogênese da língua
escrita), Trevarthen e Bruner (psicologia e psicolingüística analisados no
comportamento de bebês) e outros, a idéia de uma criança ativa tomou vulto e
ameaçou práticas encontradas em creches e pré-escolas que se baseavam no
controle social e na substituição da família (Idem, 2004, p. 16).
Avançando algumas décadas na história da Educação Infantil
brasileira, segundo Vanti (2004), censo realizado pelo IBGE em 1974 sobre a
população brasileira, constatou-se que 25% da população era composta por
crianças pertecentes ao segmento da Educação Infantil e que estas crianças
apresentavam características próprias, quanto a necessidades nutricionais,
saúde e educação. Constatado o fato, os Ministérios da Saúde, Planejamento,
Educação e outros órgãos competentes, foram criados programas de
assistência ligados nutrição de crianças de zero a seis anos.
Segundo Abromowicz (1999), nos anos 80, as creches começaram a
ser vistas e redimensionadas como um espaço voltado a educação, a
socialização e aos cuidados coletivos, saindo da concepção assistencialista-
higienista, pois a abertura política, em 1985, com o fim do Governo
militar, propiciou o reconhecimento social devido a esses direitos manifestados
pela sociedade. Esses foram devidamente reconhecidos e efetivados pela
Constituição de 1988, conhecida como "Constituição Cidadã", que pela
primeira vez na história do Brasil, definiu essas reivindicações, como direito.
24
CAPÍTULO III
A EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil deve ser entendida em amplo sentido, pois ela
pode englobar todas as modalidades educativas vividas pelas crianças
pequenas na família e na comunidade, antes mesmo de atingirem a idade da
escolaridade obrigatória. Diz respeito tanto à educação familiar e a convivência
comunitária, como a educação recebida em instituições específicas
(PROINFANTIL, 2005). Segundo Kuhlmann, (2003, p.469):
Pode-se falar de Educação Infantil em um sentido bastante amplo, envolvendo toda e qualquer forma de educação da criança na família, na comunidade, na sociedade e na cultura em que viva. Mas há outro significado, mais preciso e limitado, consagrado na Constituição Federal de 1988, que se refere à modalidade específica das instituições educacionais para a criança pequena, de 0 a 6 anos de idade. Essas instituições surgem durante a primeira metade do século XIX, em vários países do continente europeu, como parte de uma série de iniciativas reguladoras da vida social, que envolvem a crescente industrialização e urbanização.
Vista num sentido mais restrito, portanto, a Educação Infantil designa a
freqüência regular a um estabelecimento educativo exterior ao domicílio, ou
seja, trata-se do período de vida escolar em que se atende pedagogicamente
crianças entre 0 e 5 anos de idade no Brasil, lembrando que nesta faixa etária
as crianças ainda não estão submetidas a obrigatoriedade escolar. A
Constituição de 1988 define de forma clara a responsabilidade do Estado para
com a educação das crianças de 0 a 5 anos em creches e pré – escolas sendo
como educação não-obrigatória e compartilhada com a família (art. 280, inciso
IV).
A Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) denomina a
instituição educacional que atende crianças de 0 a 3 anos de Creche, e a
25
instituição que atende crianças de 4 a 5 anos de idade de Pré – escola. De
acordo com a Lei no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o ensino fundamental
passa a ser de nove anos de duração e não mais de oito, com isso as crianças
de seis anos de idade deverão entrar obrigatoriamente no ensino fundamental
e não mais na pré-escola. Vejamos o que diz a LDB sobre a Educação Infantil:
No art.29. A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico e social, complementando a ação da família e da comunidade. No art. 30 a Educação Infantil será oferecida em creches para crianças de até três anos de idade e em pré- escolas para crianças de quatro a cinco anos de idade. No art. 31. Na Educação Infantil a avaliação será feita mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao Ensino Fundamental.
É consideravelmente ressaltar que a Educação Infantil tem uma função
pedagógica, um trabalho que toma a realidade e os conhecimentos infantis
como ponto de partida e os amplia através de atividades que tem significado
concreto para a vida das crianças, e simultaneamente asseguram a aquisição
de novos conhecimentos. Diante disso é importante que o educador na
Educação Infantil preocupe-se com a organização e aplicação das atividades
contribuindo assim para o desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. O
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p.32) relata:
Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais, cognitivas assim como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda, simultaneamente, às demandas do grupo e as individualidades de cada criança.
Em outras palavras, deve-se considerar que as crianças são diferentes
entre si, que cada uma possui um ritmo de aprendizagem. Por isso o professor
deve estar preparado para propiciar às crianças uma educação baseada na
26
condição de aprendizagem de cada uma, considerando-as singulares e com
características próprias.
Portanto, o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais
é compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e
estarem no mundo.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998,
p.23), deixa claro:
A instituição de Educação Infantil deve tornar acessível a todas as crianças que freqüentam, indiscriminadamente, elementos de cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social.
3.1 - ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
A educação infantil historicamente é relativamente recente no país. Foi
nas últimas décadas que o atendimento a criança menor de sete anos de idade
em creches e pré-escolas nasceu mais significativa e aceleradamente. Esse
crescimento é motivado pelo aumento da demanda por instituições de
educação infantil decorrente da inserção, cada vez maior, da mulher no
mercado de trabalho.
Moysés kuhlmann Júnior nos relata que a primeira creche do país
surgiu ao lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, em 1899, no Rio de Janeiro,
naquele mesmo ano, o instituto de proteção e assistência à infância do rio de
janeiro deu início a uma rede assistencial que se espalhou por muitos lugares
do Brasil.
Visto por este ângulo, as instituições de educação infantil surgiram com
caráter puramente assistencial. Através de muita luta a partir da constituição de
1988, é que a educação infantil pela primeira vez na história do Brasil
reconheceu um direito próprio da criança pequena que era o direito à creche e
à pré-escola. Há a reafirmação da gratuidade do ensino público em todos os
níveis. A partir daí tanto a creche quanto a pré-escola são incluídas na política
educacional, seguindo uma concepção pedagógica e não mais assistencialista.
27
Esta perspectiva pedagógica vê a criança como um ser social, histórico,
pertencente a uma determinada classe social e cultural.
Afirma a Lei das Diretrizes e Bases da Educação nacional, (LDB Nº
9394/1996), que o termo educação infantil ganhou a forma mais favorável à
criança pequena desde que existe legislação Nacional no Brasil. A LDB declara
que a educação infantil começa de 0 aos 3 anos de idade para quem precisa
estar numa creche, prosseguindo de 4 a 5 anos de idade como pré-escola,
tornando-se educação infantil, também um ciclo de 5 anos de formação
contínua e parte integrante, constituidora, da Educação Básica brasileira.
Foram muitas lutas, conquistas e derrotas, por hora, é dizer que após
uma longa trajetória, a criança brasileira de 0 a 5 anos é hoje concebida como
um sujeito de direitos à educação, direitos que devem ser atendidos por
instituições no âmbito dos sistemas escolares e no âmbito das esferas do
governo. A educação infantil é, portanto, um direito da criança, dever do estado
e opção da família.
3.2 - A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
O espaço físico é o lugar do desenvolvimento de múltiplas habilidades
e sensações e, a partir de sua riqueza e diversidade, ele desafia
permanentemente aqueles que o ocupam.
A educação infantil que é desenvolvida em creches e pré-escolas,
obtém uma nova perspectiva no sistema de ensino brasileiro, que se integra a
educação nacional, em dezembro de 1996 quando entrou em vigor a Lei n°
9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
Na lei, no título V – Dos níveis e das modalidades de educação e
ensino, no capítulo I, da composição dos níveis escolares, em seu art. 21, diz
que a educação escolar compõe-se de dois níveis: I educação básica e II
educação superior. A educação básica, por sua vez, subdivide-se em educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio.
28
Ainda na Seção II, em seu art. 29 diz:
“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade”.
Em seu art. 30 diz que a educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade.
Tanto as creches, que atendem crianças de zero a três anos, como as pré-escolas, para as de quatro a seis anos, são consideradas instituições de educação infantil. A distinção entre ambas é feita pelo critério de faixa etária.
O título IV é tratado da organização da educação nacional, art.II, v.
considera que: Os municípios incumbir-se-ão de:
[...] oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
29
Especificamente no art. 9°, IV, que: “A união incumbir-se-á de:
[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil.
[...] que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”.
O referencial curricular nacional para educação infantil (Brasil,1998,
p.13), especifica os vários aspectos a serem contemplados, dentre eles o
brincar. Diz:
A qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania, respeitando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos, devem estar embasadas nos seguintes princípios: O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;
O acesso das crianças aos bens sócio culturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação, ao pensamento, à ética e à ciência.
A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.
De acordo com Brasil (1998, p.23),
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação
30
interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.
Conforme Campos (apud ABRAMOWICZ; WAJSKOP, 1995), um
ambiente coletivo de crianças e adultos traz vantagens em relação à situação
familiar, devido à possibilidade de contar com recursos humanos e materiais
que propiciam maior variedade de oportunidades de situações vividas pela
criança, o que estimula sua sociabilidade e aprendizado sobre o mundo que a
cerca. Desta forma, as creches e pré-escolas, com a LDB de 1996 passam a
ser vistas como locais legítimos de favorecimento do desenvolvimento infantil,
uma vez que têm a função de educar as crianças nas suas múltiplas
necessidades.
A Lei de Diretrizes e Bases de 20 de Dezembro de 1996, deixa
claramente que ao contemplar a importância do brincar nas creches e pré-
escolas, deixa subentendida a idéia de que deve haver espaço para o brincar e
para os jogos e as brincadeiras.
Corroboramos com Wajskop (1999, p.31) quando afirma:
“a garantia do espaço do brincar na pré-escola ou creches, é a segura a possibilidade de educação da criança numa perspectiva criadora, voluntária e consciente”.
Esse desafio constrói-se pelos símbolos e pelas linguagens que o
transformam e o recriam continuamente (BARBOSA, 2006 p. 120).
Para Vygotsky (1987) o espaço físico e social é fundamental para o
desenvolvimento das crianças, já que através da interação com esses fatores a
criança constrói seu conhecimento de si mesma enquanto sujeito.
31
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1998, p.69):
O espaço na Instituição de Educação Infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito a modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas.
O espaço físico e os materiais são componentes ativos do processo
educacional, que auxiliam na aprendizagem, no entanto a melhoria da ação
educativa esta relacionada também ao uso que os educadores fazem deles
junto às crianças com as quais trabalham.
3.3 - REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
O RCNEI foi desenvolvido com o objetivo de servir como um guia de
reflexão sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os
profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos,
procurando respeitar seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural
brasileira. Este é fruto de um amplo debate nacional, do qual participaram
professores e diversos especialistas que contribuíram com conhecimentos
diversos provenientes tanto da vasta e longa experiência prática de alguns,
quanto da reflexão acadêmica, científica ou administrativa de outros.
O documento (RCNEI) pretende socializar a discussão sobre as
práticas pedagógicas, sugerindo formas de ação adequada às necessidades
educativas e de cuidados específicos, próprios da faixa etária de zero a cinco
anos. Nessa perspectiva, tem como objetivo chamar a atenção para a melhora
da qualidade e da equalização do atendimento à criança na Educação Infantil.
Assim, na busca da qualidade no atendimento, envolve questões amplas
ligadas a políticas publicas, as decisões orçamentárias, a formação do
profissional e o esclarecimento de padrões de atendimento que garantam o
espaço físico adequado, materiais e adoção de propostas educacionais
32
compatíveis com a faixa etária, sabendo que as crianças muito cedo elaboram
conhecimento e constroem suas personalidades, nos múltiplos espaços de sua
vida. (AQUINO, 2001)
O RCNEI (1998) foi publicado em três volumes. O primeiro –
Introdução, apresenta informações sobre a creche e a pré-escola e concepções
básicas empregadas na definição dos objetivos da Educação Infantil que
norteiam os outros dois volumes. Os segundo e terceiro volumes apresentam
os eixos de trabalho que compõem cada um dos “âmbitos de experiência”, a
saber: a Formação Pessoal e Social; e o Conhecimento do Mundo:
“O âmbito de Formação e Social refere-se às experiências que favorecem, prioritariamente, a construção do sujeito. Está organizado de forma a explicitar as complexas questões que envolvem desenvolvimento de capacidades de natureza global e afetiva das crianças, seus esquemas simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a relação consigo mesmas. (....) este âmbito abarca um eixo de trabalho denominado Identidade e autonomia”. (RCNEI, volume I, 1998, p.46) “O âmbito de Conhecimento do Mundo refere-se á construção das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com os objetivos de conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação das crianças com alguns aspectos da cultura. (...) Destacam-se os seguintes eixos de trabalho: Movimento; Artes visuais; Música; Linguagem oral e escrita; Natureza e sociedade; e Matemática”. (idem, ibidem, p.46).
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, apresenta
os objetivos gerais da Educação Infantil que propõem que a prática desta deva
ser organizada de modo que obter as capacidades de:
• desenvolver uma imagem positiva da criança, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas potencialidades e
percepção de suas limitações;
• descobrir e reconhecer progressivamente seu próprio corpo, seus
limites e potencialidades, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidados
com saúde e bem-estar;
33
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articulação de seus interesses e pontos de vista com
os demais, respeitando as diversidades e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
• observar e explorar o ambiente com curiosidade percebendo-se
cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua preservação;
• utilizar diferentes linguagens; e
• conhecer algumas manifestações culturais com atitude de
respeito, interesse e participação junto a elas e valorizando a diversidade.
(RCNEI, 1998, volume I, p. 63)
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil sugere os
educadores a levarem as crianças a criar uma imagem positiva de si e a
fortalecer sua a auto-estima, desenvolvimento da capacidade de comunicação
e interação social, tudo sem descuidar das brincadeiras. (RCNEI, Volume I,
1998)
Há também no RCNEI a orientação para que o lúdico seja uma
constante no desenvolvimento do trabalho com as crianças:
“A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha domínio da linguagem simbólica”. (RCNEI, volume I, p.27)
Quando o documento em questão propõe experiência da formação
pessoal e social, refere-se a que os profissionais voltados para a Educação
Infantil tenham ou venham a ter uma “formação inicial sólida e consistente,
acompanhada de adequada e permanente atualização em serviço”. (RCNEI,
volume I, p.41).
É também enfatizado no RCNEI (1998) que o trabalho com crianças
demanda um professor que tenha competência polivalente, de modo estar
capacitado a trabalhar com conteúdos de naturezas diversas, abrangendo
34
desde os cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos de
diferentes áreas de conhecimento.
Deste modo, pode-se perceber que o RCNEI apresenta orientações
curriculares gerais, baseadas em princípios específicos do desenvolvimento e
da aprendizagem e visando uma intencionalidade educativa em continuidade
com os vários níveis do ensino fundamental.
Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEI, 1999) consolidam oito diretrizes específicas. A primeira delas
traz os fundamentos norteadores das propostas pedagógicas das instituições
de Educação Infantil, quais são firmados em três princípios: éticos (autonomia,
responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum); políticos (direitos e
deveres de cidadania, exercício da criticidade e respeito à ordem democrática);
e estéticos (sensibilidade, criatividade, ludicidade e diversidade de
manifestações artísticas e culturais).
O Conselho Nacional de Ensino do MEC afirma que esses três
princípios têm por finalidade:
“(...) definir, previamente, para que sociedade está se educando e cuidando de crianças de zero a seis anos, e como se desenvolverão as práticas pedagógicas para as crianças e suas famílias sejam incluídas em uma vida de cidadania plena”. (PARECER nº 22 MEC/CNE, 1998)
As DCNEI (1999) afirmam que o eixo do trabalho pedagógico junto às
crianças deve ser de múltiplas formas de diálogo e interação, tendo por objetivo
promover a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade, sendo importante
ressaltar o destaque dado pelo documento à felicidade da criança.
Quando tratando da formação da identidade da criança, as Diretrizes
em tela baseiam-se no fato de que é nos primeiros anos de vida que se define
a identidade, sendo esta um “fator crucial para a inserção numa vida de
cidadania plena” (DCNEI, 1999, p.10).
As DCNEI (1999) alertam para que se veja a criança como um ser
completo, total e indivisível (3ª Diretriz), assim, as práticas de educação e
35
cuidado devem focar “aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos
lingúisticos e sociais da criança de forma integrada”. (DCNEI, 1999, P. 11)
O citado documento preocupa-se em lembrar sempre que:
“(...) ser, sentir, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se são partes do todo de cada indivíduo, menino ou menina, que desde bebê vão, gradual e articuladamente, aperfeiçoando estes processos nos contatos consigo próprios, com pessoas, coisas e o ambiente em geral”. (MEC/CNE, 1999, p.11).
Desta forma, conforme notado por Aquino (2001), fica explicitada a
ênfase atribuída pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil ao contexto cultural no trabalho a ser desenvolvido com as crianças em
creches e pré-escolas.
3.4 - A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O DIRETOR ESCOLAR
O diretor escolar, além de suas funções nas questões administrativo
organizacionais, deve exercer com desprendimento e autoridade a função de
mobilizar atores sociais para a transformação do projeto pedagógico ‘visão’ em
projeto pedagógico ‘ação’. Para haver gestão democrática, o diretor de escola
e os atores envolvidos no trabalho escolar criam vínculos inovadores e
passíveis de ser partilhados. Inovações na gestão, e na atuação do diretor
escolar, não são intrínsecas ao processo escolar de ensino-aprendizagem; há
mudanças propostas pelas instâncias superiores à escola e mudanças
propostas pelo próprio diretor escolar. Glatter (1992) definiu mudança como
“um conjunto de alterações deliberadas e planificadas que poderão afetar
significativamente os padrões e as relações de trabalho estabelecidos, bem
como os autoconceitos dos indivíduos e dos grupos” (GLATTER, 1992, p. 146).
O diretor inovador conhece os contextos internos e externos do
ambiente escolar e atua sobre eles, pois o envolvimento em todos os projetos
da escola gera características próprias na comunidade escolar.
Assim, só ocorrem mudanças de fato quando novos significados
incorporados substituem os antigos. De acordo com essa linha de raciocínio, a
36
gestão democrática será viabilizada pelo diretor, caso ele desempenhe seu
papel de modo a propiciar os processos participativos, ou torná-los
participativos. A partir daí, as funções administrativo-pedagógicas entram em
ação a fim de se tomar decisões coletivamente, buscando o consenso e o
diálogo. De um ponto de vista menos inovador, o diretor representa a escola
num patamar hierárquico privilegiado, porém, vinculado a ordens superiores.
Percebe-se, portanto, seu envolvimento com os assuntos de ordem
burocrática, sem que haja uma disponibilidade maior para as questões
pedagógicas.
A função do diretor escolar é permeada de ambigüidades. Por um lado,
o diretor é cobrado burocraticamente e vê-se numa situação de possível
impotência diante das questões com as quais se defronta à organização
educacional, o que corrobora para que não se cumpra sua função social
transformadora, podendo servir para reiterar os interesses da conservação
social, por outro, vê-se diante dos modos democráticos de ação.
O papel do diretor é recheado de descompassos entre o discurso e sua
ação, traz arraigados os ideais conservadores, mas é desafiado à prática de
ideais progressistas, nos quais a participação dos atores escolares nos
processos de tomada de decisão é fundamental. Não basta a divisão do poder
decisório, muitas vezes exercido aparentemente de modo aberto, mas imbuído
da hierarquia exercida pelo diretor.
O diretor exerce a liderança e, para exercê-la democraticamente,
precisa reconhecer a si mesmo como parte integrante da comunidade escolar.
Numa direção comunicativa, participativa e democrática, ao diretor cabe o
envolvimento com os aspectos pedagógicos, pois sua atuação poderá propiciar
a criação de espaços coletivos de aprendizagem destinados a todos os atores
sociais pertencentes ao processo de gestão da organização social escolar.
Gradativamente, o diretor vem assumindo importante papel no
processo de gestão da Unidade Educacional. Portanto, destaca-se o papel do
diretor no processo de gestão democrática como mobilizador, articulador das
questões facilitadoras ao processo educacional, e elo de ligação entre as
questões pedagógicas e administrativas; assim sendo, as ações de
37
planejamento, o fluxo de informações, comunicações e dos saberes
profissionais articulados às práticas certamente, possibilitariam ao diretor um
cotidiano escolar voltado às transformações, tão necessárias ao processo de
gestão e ao ensino-aprendizagem.
Cabe ao diretor escolar a condução dos trabalhos da Unidade
Educacional como um todo, desse modo, é possível dizer que o diretor deve
participar de todo o processo pedagógico-administrativo, com o objetivo de
criar um ambiente dialógico, comunicativo e de qualidade. À luz do pensamento
de Libâneo (2004), na gestão escolar o importante é a transparência nas
informações, a comunicação direta, a descentralização das decisões, a
valorização humanística em todas as suas dimensões, a motivação, a
participação de todos na tomada de decisão e nos resultados obtidos, o
envolvimento de cada um nos objetivos a serem atingidos e no trabalho em
equipe.
Para Sander (2002, p. 64):
O administrador escolar não é mais o profissional preocupado com a ordem, a disciplina, os horários, os formulários e as exigências burocráticas. Ele é o líder intelectual responsável pela coordenação do projeto pedagógico da Escola, facilitando o processo coletivo de aprendizagem, o processo solidário de construção do conhecimento humano. A função do professor e do administrador educacional é a de facilitar o processo de desenvolvimento humano.
Com base no princípio legal, de acordo com a LDB 9.394/96, em seu
artigo 64: A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação
básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nessa formação, a
base comum nacional.
E também com a recente Resolução CNE/CP nº1/2006 que institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia,
assegura em seu artigo 14 §1º o indicado no artigo 64 da LDB 9.394/96, bem
38
como prevê que a formação profissional poderá ser realizada em cursos de
pós-graduação.
Assim, a formação do gestor não pode ser vista como um processo
terminado na graduação, mas como um processo continuado, que envolve
cursos de pós-graduação, extensão, atualizações, seminários, trocas de
experiências entre pequenos grupos, para que o profissional tenha condições
de estar exercendo sua função.
São muitos os desafios dos diretores. Redimensionar a forma de
administrar a sua instituição partindo de ações democráticas, e descentralizar o
poder das decisões é algo necessário para o desenvolvimento do processo
gestor.
De acordo com Sander (2002, p. 67), “o diretor é menos administrador
e mais governante. Todas as práticas implicam repensar o papel do dirigente
como protagonista pedagógico, organizacional e político da instituição
educacional”. Sua função principal é apoiar e orientar o processo de
aprendizagem. Ainda segundo o mesmo autor, “o administrador escolar não é
mais o profissional preocupado com a ordem, a disciplina, os horários, os
formulários e as exigências burocráticas. Ele é o líder intelectual responsável
pela coordenação do projeto pedagógico da escola (...) em que o ator principal
é o estudante” (SANDER, 2002, p.64).
A ousadia e a coragem, assim como o enfrentamento de desafios,
devem ser constantes no diretor que se propõe a gerir a organização social
escolar de modo democrático, apropriando-se da concepção de totalidade de
seu fazer, de sua ação na prática educativa, propiciando um ambiente de
aprendizagem no todo da organização escolar e garantindo espaços coletivos
de discussão e resolução de problemas.
Certo é que um diretor de organização escolar que se baseia em
princípios participativos e democráticos não se faz por outorga, mas depende
de novas bases paradigmáticas por ele apropriadas.
Dessa forma, a organização escolar passa a ser gestada de modo a
atender as necessidades dessa sociedade em transformação.
39
Ademais, à luz das palavras de Alves e Garcia (2006) somente será
possível a democratização das relações sociais, dos processos de ensino e
dos processos de gestão se houver no interior das escolas públicas debates de
temas políticos e sociais que afligem a sociedade, “contribuindo para politizar
as discussões e oferecendo elementos para que a comunidade escolar
estabeleça metas reais e concretas para seu projeto de escola e de sociedade”
(ALVES e GARCIA, 2006, p.170).
De sorte que cabe ao diretor embrenhar-se de ideais transformadores
desvelando horizontes dentro de seu espaço escolar. Para tanto, a
compreensão da dimensão política que configura o seu papel de condutor de
processos de múltiplas relações é fundamental.
40
CONCLUSÃO
Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas de bases cientifica,
com as principais fontes bibliográficas, com autores renovados na área, a idéia
original de estudo foi sendo remodelada no decorrer do desenvolvimento deste,
de titulo que considero de extrema importância; hoje vivemos uma realidade
que valores e direitos são reafirmados nas mídias, por isso nos como seres
humanos a frente de órgão que é basicamente constituída de seres humanos,
como podemos mencionar, as escolas, igrejas, hospitais e outros, onde de fato
deve ter um líder, um ponto de referencia, com isso devemos para ter
efetivamente sucesso com administrador; por exemplo um administrador de
creches que oferece educação infantil, é suma importância que saibamos como
é sua estrutura de funcionamento, como é o atendimento para aquele público
tão especial, atendimento este baseados em critérios e direitos já previstos em
toda legislação brasileira.
Os objetivos deste trabalho monográfico foram atingidos, nos
oportunizou novos conhecimentos, que hoje posso aplicar na prática como
pedagoga e futuramente como administradora escolar.
Esta obra foi composta por três capítulos; Administração escolar sendo
o primeiro, que foi descrito a grande importância conceitual da administração
para a educação teve as contribuições de Saviani, Chiavenato, Gandin e
outros; Capitulo II: A História das Creches; com grandes contribuições de:
Abromowicz, Rosa Alcântara & Lopes, Pestalozzi e Rousseau. É exposto
também como surgiu a primeira creche no Brasil, e ao final o Terceiro Capitulo;
a educação infantil e a legislação Brasileira tivemos como um dos principais
autores Kuhlmann e outros; falamos dos direitos a educação prevista na
Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação n°
9.394/96. Observa-se que idéia da importância das creches no Brasil e das
pré-escolas ainda é recente, entretanto, nos devemos lutar para seu melhor
amparo e desenvolvimento, quanto a políticas públicas e investimentos
reais.
41
Pelos resultados verificados neste estudo, um diretor creche escolar
deve ter como características essenciais: liderança, organização, autonomia,
ética, conhecimento, estimular o trabalho cooperativo e ser comunicativo.
Fundamentalmente deve abrir espaços para a participação comunitária,
respeitando o poder decisório da coletividade organizada. Para além de um
papel de mero administrador burocrático impõe-se que ele efetivamente
participe da ação dialética educativa qual seja, educar e ser educado, cuidar da
instituição, zelando pelo seu funcionamento, gerir os recursos que é um dever
ser cumprido pelo Municípios, Estados e o Governo Federal oferecer acesso a
educação, um direito de toda criança, seja qualquer seja ela.
42
BIBLIOGRAFIA
ABRAMOWICZ, Anete. Educação Infantil – Creches: atividades para crianças. 2ª ed., rev. atual. São Paulo: Moderna, 1999. ALONSO, M. O papel do diretor na administração escolar .São Paulo: Difel ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981. CAVALCANTI, Vera Lucia e autores. Liderança e motivação. Rio de Janeiro: FGV, 2005. CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando Pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. São Paulo, Makron Books do Brasil, 1994. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. CIVILETTI, Maria Vittoria Pardal. O cuidado as crianças pequenas no Brasil escravista. Disponível em: www.uff.br/feuff/departamentos/docs_edu.../muinfa21.doc. Acessado em: 09/03/2011. CRAIDY, Carmem e KAERCHER, Gládis E. Educação Infantil: Pra que te quero?. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. CRAIDY, Carmem Maria. O Educador de Todos os Dias: Convivendo com crianças de 0 a 6 anos. Cadernos Educação Infantil, v. 5 - Porto Alegre: Mediação, 1998. Critérios para um atendimento em Creches que respeite os direitos Fundamentais das crianças / Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg. – 6.ed. Brasília : MEC, SEB, 2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – SEFF, Brasília: 1998. Educ, 1976 BASTOS, J. B. Gestão Democrática. RJ: DP e A, 2002 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 7.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998. GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo, Cortez Editora: Autores Associados, 1992. GANDIN, D. Posição do planejamento participativo entre as ferramentas de intervenção na realidade. Currículo sem Fronteira, v.1, n. 1, jan./jun., 2001, pp. 81-95 Hora. Dinair Leal da. Gestão democrática na escola, Campinas, SP, 14ª ed. Papirus , 1994
43
HUNTER. James. O monge e o executivo – uma história sobre a essência da liderança. 7º ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2004 KULMANN, Moysés Junior. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 3ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2004, 210 p. LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: A pedagogia crítico social dos conteúdos. 9ª ed., São Paulo, Edições Loyola, 1990 MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Empresas Familiares Brasileiras: Perfil e Perspectiva São Paulo: Negócio Editora, 1999. MEZOMO, João Catarim. Educação e qualidade total. 2º ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999 MONTENEGRO, Thereza. Educação infantil: a dimensão moral da função de cuidar. Psicologia da educação. 2005, vol.20. OLIVEIRA, Zilma de Moraes... (et al.). CRECHES: crianças, faz de conta & cia . Petrópolis, RJ : Vozes, 1992. Referencial Nacional para a Educação Infantil – Versão preliminar, MEC- SEFF - Brasília, 1998. Revista Nova Escola. Infantil, sim. Mas é educação (Caderno Especial). Edição nº 156.Rio de Janeiro: Editora Abril, outubro 2002. Revista Nova Escola. Política Educacional: Mais que brincar e aprender a ler. Rio de Janeiro: Ed. Abril, edição junho 1998. RIZZO, Gilda. Creche: Organização, Currículo, Montagem e Funcionamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. RIZZO, Gilda. Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento. Rizzo. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. RIZZO, Gilda. Educação Pré-Escolar. Rio de Janeiro: Francisco Alves. SAVIANI, Demerval Escola e Democracia. 36º ed. São Paulo: Autores Associados, 2003.
44
WEBGRAFIA
ARQUIVO PITTORESCO. Artigos diversos datados de 1867. Vol X. Portugal, Lisboa: Editora Castro Irmão e Companhia. Disponível em: http://books.google.com.br/books?id=09tGAAAAMAAJ&printsec=titlepage. Acessado em: 09/12/2010
GARCIA, Edeltrau Rosani Stachovski VANTI, Elisa dos Santos. Da creche para a pré-escola infantil: percursos, mudanças, muitos olhares. Disponível em: http://www.ufpel.edu.br/cic/2008/cd/pages/pdf/CH/CH_01134.pdf. Acesso realizado em: 21/03/2011
SILVA, Alyane Soares da. Creches comunitárias: impasses e possibilidades. Disponível em: http://web.intranet.ess.ufrj.br/monografias/103084876.pdf. Acessado em: 02/02/2011.
Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006: disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm acesso
13/06/2011
Parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para A Educação Infantil disponível: portal.mec.gov.br/dmdocuments/parecer_ceb_22.98.pdf acesso 11/06/2011