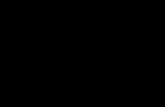e“Sou um poeta que escreve em prosa”scritor moçambicano mia … · deixar encantar pelo mundo...
Transcript of e“Sou um poeta que escreve em prosa”scritor moçambicano mia … · deixar encantar pelo mundo...

Luciana Leitã[email protected]
pub
terça 29.7.200814 entrevista | mia couto mia couto | entrevista 15
Desistiu de medicina para apostar no jornalismo. Mais tarde, tirou o curso de biolo-gia, sendo actualmente essa a sua ocupação profissional. Significa isso que se desilu-diu com o jornalismo?Tenho com o jornalismo uma relação episódica, mas de longa duração. Mantenho colaboração com jornais e revistas de Mo-çambique e do exterior. Afastei dessa profissão mas como algo que decorra de uma desilusão. Trata-se de entender onde temos morada e onde estamos apenas de visita. Destas áreas profissionais, qual considera ser a sua verdadeira vocação?Resisto a pensar a vocação como tendência genética, natural. É a história de cada um, o modo acidental como vamos sendo acarinhados numa certa direcção que nos faz crer que temos na-turalmente certos talentos. Para resistir a um clima de cidade pequena e família muito nuclear, apurei o gosto de inventar histó-rias e nelas ampliar o meu mun-do e a minha humanidade. Talvez seja essa uma das minhas não sei se verdadeiras mas predilectas vocações.
Acha que a escrita jornalísti-ca é conciliável com a escrita literária?São territórios distintos mas nem sempre a fronteira é clara. No
“Nem tudo se explica
pela dificuldade, que
a ausência de valores
nem sempre é filha
legítima das carências
materiais”.
escritor moçambicano mia couto acaba de lançar novo livro
“Sou um poeta que escreve em prosa”
meu caso, a passagem longa pelo jornalismo serviu-me de escola, sobretudo no exercício de depu-ração e na procura da funciona-lidade de comunicação. Aconte-ceu com muitos dos escritores moçambicanos, essa passagem pelos jornais. A necessidade de comunicar e agarrar o leitor obri-ga a uma contenção e secura que, muitas vezes, são decisivas para que o texto literário funcione. Isso é uma escola fundamental para quem vem da poesia e se mete pelos caminhos da prosa. A certa altura, porém, é preciso matar simbolicamente o mestre. O meu último período como jor-nalista profissional foi marcado pela crónica e foi entre os anos 85 e 87 que produzi um conjunto de textos que depois surgiram como livros em “Cronicando” e “O país do queixa-andar” (este último apenas publicado em Moçambique). É conhecido pela sua habi-lidade no campo da prosa, mas também fez uma breve incursão pela poesia. É um género literário que lhe é menos familiar? Eu sou sempre poeta, sou um poeta que escreve em prosa. E por vezes em verso. A poesia, para mim, não é um género literário apenas mas um modo de olhar o mundo, uma maneira de fazer com as ideias sejam cons-truídas não apenas pela racio-nalidade mas pela sensibilidade. Esse saber do coração não é mais do que literatura. Brinca com as palavras e cria outras, como se não existissem regras. Acha que é importante reinventar a língua portuguesa?Ninguém pode fazer essa recria-ção como uma missão ou um propósito. No meu caso, essa relação resulta do facto de viver como moçambicano um riquís-simo percurso de familiarização de milhões de pessoas com uma segunda língua. Esse encontro e desencontro, essa necessidade de apropriação do idioma criar resultados poéticos espantosos. Esse é o meu cadinho inspira-
dor. Por outro lado, mantenho que cada um de nós não se deve resumir a uma posição de utente da língua. Somos co-produtores do idioma e não devemos abdicar do prazer de imprimir a nossa marca pessoal sobre esse corpo colectivo. Digo isto aos meus filhos, encorajo-os a que falem uma língua que tem impressão digital, que reflicta a sua alma individual, única e irrepetível. Não teme, por vezes, não ser compreendido pelos seus leitores? Não. O exercício que faço de reinvenção vocabular decorre, em geral, no limite das possibili-dades da própria língua. Um dia afirmou que é mais difícil publicar e mais fácil escrever com o decorrer dos anos. Acha que, com o pas-sar do tempo, a escrita vai amadurecendo, tornando-se possível contornar os blo-queios típicos da juventude?Sim. Perde-se em espontaneida-de, mas ganha-se na contenção. Já não somos assaltados pela ur-gência de dizer tudo e pela obses-são de exibir beleza. Pior que não escrever um livro é escrevê-lo em demasia. Por outras palavras, a escrita vai ganhando naturalida-de, como água fluindo em rio. Onde se inspira para criar as suas histórias?A vida é infinitamente inspira-dora. Temos com a vida essa rela-ção transitória e inacabada. De repente, ela nos parece pequena e nos parece que somos chama-dos a protegê-la. No momento seguinte, ela nos diz que não a possuímos porque não somos ca-pazes de captar as suas infinitas dimensões. Alguma vez teve bloqueios na escrita?Não. Sei que é tão importante ser escritor como não ser escritor. Isto é, alterno períodos em que sei que não estou escritor. Sair da escrita para deixar que a oralidade tome posse de mim e fabrique novas maneiras de me deixar encantar pelo mundo e pelos outros.Acha que os livros servem de escape para os leitores ou são, pura e simplesmente, um acto egoísta do escritor?Para se ser altruísta, neste domínio, é preciso ser-se quase autista. Parece um contra-senso. Mas sucede do mesmo modo
com a intenção de negarmos o localismo: para se ser universal é necessário escrever sobre a intimidade do nosso quintal. No fundo, apenas quando estamos absolutamente sós e enfrentamos esse estar apenas connosco é que tocamos aquilo que nos liga profundamente aos outros. Lançou a sua mais recente obra intitulada "Venenos de Deus, Remédios do Diabo". Uma vez disse que um livro não se explica e não se apre-senta. Contudo, se tivesse de descrevê-lo, como o faria? Descrever e explicar não são coisas tão afastadas assim. O que posso dizer é que o livro nasce de uma relação nova com o tempo, com o facto de me sentir tendo idade. O sentimento de que tropecei na idade só pode ser resolvido transformando-o num não-problema. O que quer dizer que devo converter esse fantas-mas em história, tornando em narrativa e ficção. Actualmente, está a decorrer a Cimeira da CPLP. Consi-dera que é um organismo importante para a divulga-ção da lusofonia?Sim, claro que sim. Principal-mente num mundo que necessita de pequenos contra-poderes, de vozes múltiplas capaz de resistir a este único pólo de vontade
política. Não se pode é confundir lusofonia com uma instituição que deve criar entendimentos e concertações que estão bem para além da língua. Acho muito saudável que o Senegal, a Guiné Equatorial e alguns países latino americanos se tornem não ape-nas membros observadores mas membros de pleno direito. Acha que o trabalho da CPLP tem sido eficaz na união e defesa dos interesses lusó-fonos?Ainda não. E talvez a razão cen-tral seja que os países estão divi-didos entre pertenças geo-estra-tégicas múltiplas. Por exemplo, o Brasil poderá acreditar que a sua inserção continental lhe seja mais importante. O mesmo pode acontecer com Portugal em rela-ção à Europa e com Moçambique e Angola em relação à SADC. Muito se tem dito sobre o acordo ortográfico. Há quem o defenda com unhas e dentes e há quem o critique e se oponha veementemente. Qual é a sua posição?Tenho uma posição atípica. Não concordo mas também não faço guerra. Creio existirem assuntos mais importantes para discutir quando se debate a nossa família linguística. Nunca foi por causa da grafia diversa que os meus livros não deixaram de ser enten-didos no Brasil. A grafia brasilei-ra nunca impediu um moçambi-cano de ler Jorge Amado e todos os brasileiros.Vê vantagens para Moçam-bique? Existirão, apesar do que disse antes, vantagens para as edições escolares e material didáctico que poderá ser produzido invariavel-mente em qualquer das nossas nações.O que é para si a lusofonia?Certa vez, fiz uma intervenção
a que chamei de Luso-afonia na tentativa de questionar intenções políticas de algumas bandeiras da lusofonia. É preciso distin-guir aquilo que é a realidade de intenções de discurso fácil. Nós em Moçambique estamos ainda à conquista da nossa própria lusofonia. Muitos dos 21 milhões dos moçambicanos não fala por-tuguês. Não são lusófonos, nesse sentido. Se a identidade linguís-tica é o factor dominante nesta família, esta gente fica excluída. Entre 1972 e 1975 lutou pela independência nacional en-quanto membro da Frente de Libertação de Moçambique. Combateu também durante a guerra civil. Entretanto, desvinculou-se do partido e afastou-se da política. Desilu-diu-se com a FRELIMO?Desiludir não é o termo. Não existe ressentimento. O percurso meu e da organização em que mi-litei tiveram as suas divergências. Mas continuo simpatizante. Não faço parte do clube dos amargu-rados, dos que invocam traição e, muitas vezes, se servem dessa invocação como cobertura da sua desconduta actual. Acha que a FRELIMO de Samora Machel é a mesma dos dias de hoje?Nem podia ser. Samora Machel hoje seria outro, com outro discurso. Seria trágico que o discurso dele se mantivesse imu-tável. Mas os princípios morais que se instalaram no período de Samora eram realmente notáveis
Quando Samora Machel cantava, António Emílio Leite Couto (ou, como é mais conhecido, Mia Couto) entusiasmava-se. Es-ses dias passaram e hoje a FRELIMO – o partido que governa Moçambique – é outra. Em entrevista ao Hoje Macau, respon-deu, por e-mail, a todas as perguntas, e descreveu um percurso marcado pela guerra, a política e a escrita.
e deveriam manter-se como uma referência para toda a sociedade. O facto dos dirigentes políticos, no período de Samora, se conce-berem como servidores da nação e não olharem os cargos como trampolim para riqueza pessoal, este tipo de conduta faz imen-sa falta nos dias de hoje. Não havia corrupção, naquele tempo. Reformulando, a que havia era publicamente denunciada e penalizada. O rumo que o país tomou não é o caminho que Mia tinha pensado quando, um dia, aderiu à FRELIMO?Não é. Mas também o rumo do mundo não é. Fomos aprendendo a redesenhar os sonhos. Triste é que muitos aprenderam a deixar de sonhar, a deixar de ousar uma outra utopia. Uma coisa é enten-der as dinâmicas das mudanças. Outra é ser domesticado pela realidade. Depois da guerra colonial e da guerra civil, Moçambique está finalmente a chegar a um período de estabilidade?Sem dúvida. E isso é uma
conquista de que tenho muito orgulho. Os meus compatriotas conseguiram um feito histórico que foi a construção da Paz, a consolidação de uma cultura de paz e diálogo. Não quer isto dizer que os núcleos que geraram há trinta anos a guerra civil não estejam ainda presentes. Mas existem mecanismos outros para sublimar essa violência e canali-zar a vontade de os superar. Viveu sempre em Moçam-bique, mesmo durante os períodos de guerra. De que forma estes conflitos afecta-ram a sua vida?A guerra é uma doença de que nunca nos conseguimos curar. Durante anos escutávamos os
“A passagem longa pelo jornalismo
serviu-me de escola, sobretudo no
exercício de depuração e na procura da
funcionalidade de comunicação”.
“Não se pode é
confundir lusofonia
com uma instituição
que deve criar
entendimentos e
concertações que
estão bem para além da
língua”.
tiros, as notícias de mortos de familiares e amigos e lidávamos com a absoluta ausência de futu-ro. Contudo, foram nesses dias de desespero e de fome que teste-munhei os mais nobres actos de solidariedade. De manhã, quando saíamos para a rua a única coisa em que todos pensávamos era no que poderíamos trazer para casa, para comer. Não havia nada nas lojas. Eu tinha dois filhos e vivia, como todos os outros, obcecado pela necessidade de trazer qual-quer coisa. As pessoas formavam bichas à porta das lojas sem saber exactamente o que havia chegado. Passávamos e alinháva-mos na bicha perguntando: o que há, hoje? E respondiam: parece que chegou galinha. Como não podíamos ficar toda manhã na bicha deixávamos uma cesta a marcar o nosso lugar. Regressá-vamos à tarde e lá estava, respei-tado, o nosso lugar. Lições como esta demonstram que nem tudo se explica pela dificuldade, que a ausência de valores nem sempre é filha legítima das carências materiais.
“Nunca foi por causa
da grafia diversa
que os meus livros
não deixaram de ser
entendidos no Brasil.”
![Escape Analysis for Java - ic.unicamp.bredson/disciplinas/mo615/2011-2s/semin… · Escape Analysis for Java [3] Escape analysis no contexto de Java: Determina se um objeto “escapa”](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5fd793c70cdc47788b4960a2/escape-analysis-for-java-ic-edsondisciplinasmo6152011-2ssemin-escape-analysis.jpg)