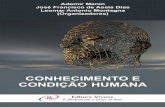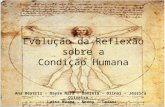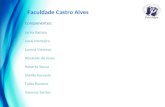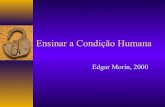Ensinar a Condição Humana
-
Upload
luiz-rodrigues -
Category
Education
-
view
165 -
download
0
description
Transcript of Ensinar a Condição Humana

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71520202
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
Maria da Conceição Almeida Xavier de
Ensinar a condição humana
Eccos Revista Científica, vol. 2, núm. 2, dezembro, 2000, pp. 9-26,
Universidade Nove de Julho
Brasil
Como citar este artigo Fascículo completo Mais informações do artigo Site da revista
Eccos Revista Científica,
ISSN (Versão impressa): 1517-1949
Universidade Nove de Julho
Brasil
www.redalyc.orgProjeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto

9
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
ENSINAR A CONDIÇÃO HUMANA*
RESUMO: O conjunto das reflexões atuais sobre a reforma do sistema educacional, da educação básica e a formação de professores, requer dois investimentos cogni-tivos que se complementam: o exercício de um diálogo capaz de articular nossas competências e a escolha de meta-temas e princípios que exponham, com clareza, o ideário da educação que queremos. Desse ponto de vista, é necessário expor, problematizar e avaliar se a produção do conhecimento de que dispomos como herança histórico-cultural, responde, de maneira satisfatória, aos problemas que emergem na sociedade contemporânea, marcados pela relação de complementari-dade e oposição entre ciência, tecnologia e meio ambiente. Mais que isso, interessa perguntar se nossa prática como educador nos permite projetar e construir as bases de uma sociedade futura. Abrir as especialidades, prover métodos de pensar que rejuntem conhecimentos e reconstruir um sujeito capaz de problematizar a condição humana parecem ser o protocolo básico para repensar a educação. Uma reforma do pensamento (E. Morin), orientada pela desconstrução e reconstrução dos atuais modelos cognitivos (H. Atlan), certamente facilitará a escolha de fatos portadores de sentido (J. Rosnay) que possam fazer da educação o ensino da condição humana em sintonia com os domínios do mundo que fundam essa condição.
Vida é mais um imperativo do que um conceito.Definir é sempre uma forma de matar.
DIETMAR KAMPER
Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo e não separá-lo dele.
EDGAR MORIN
*Texto de referência para a par-ticipação da autora na mesa re-donda “As relações ciência-tecno-logia-sociedade-ambiente e suas implicações para a formação de professores”, na XXIII Reunião Anual da ANPED, Caxambu, setembro 2000.
**Antropóloga. Doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP. Professora dos Programas de Pós-Graduação em Educação e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Membro da Association Pour la Pensée Complexe – Paris. Coorde-nadora do Grupo de Estudos da Complexidade – GRECOM.
PALAVRAS-CHAVE: educação, for-mação de professores, conhe-cimento.
Maria da Conceição Xavier de Almeida**

10
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
De onde partimos
Tudo que dizemos só faz sentido no âmbito de uma compreensão de mun-do partilhada coletivamente pelo veículo da linguagem. A comunicação humana supõe sempre um entendimento comum a partir do qual ganham sentido as singularidades discursivas, a originalidade de nossas formas de pensar e transmitir conhecimentos. Sobretudo na ciência, expor nossa compreensão a respeito do panorama que contextualiza o tema/problema do qual tratamos, constitui a regra básica do diálogo. Mais que isso, possibilita a ampliação de nosso campo de refe-rência, permitindo ultrapassar os lamentáveis monólogos coletivos que impedem o avanço do conhecimento e a geração de novas e criativas sínteses do pensamento diante do mundo.
Permitir o acesso a nossa visão de mundo, expor a arquitetura argumentativa que relaciona as informações das quais dispomos e, por fim, procurar compreender os pressupostos organizadores das idéias de nossos interlocutores são condições necessárias, mesmo que não suficientes, para articular e retotalizar as micro-inter-pretações da realidade.
Dito de outra forma, habilitar-se a entender o conteúdo das idéias que nos são transmitidas supõe o manuseio cognitivo das fontes que as alimentam. Fazendo uso de um argumento instigante e provocador, diz Marcel Conche (1998) que, para compreender a filosofia grega, “é preciso tornar-se grego”, pensar como grego. E pensar como grego é compreender as idéias de Homero, considerado por ele como a Bíblia dos gregos, o paradigma alimentador dos filósofos, o alimento que os tornou capazes de produzir novas e singulares cos-mologias do pensamento.
Hoje certamente não dispomos mais de uma única fonte fundamental a partir da qual organizamos nossas interpretações de mundo. A multiplicidade das “grandes obras” e das fontes heteróclitas torna ainda mais imperativa a necessidade de expor as macro referências que nos servem de suporte. Nesse sentido, para falar da formação de professores supondo as relações ciência-sociedade-tecnologia-ambiente, expomos o que, segundo nossa óptica, constitui o contexto capaz de oferecer sentido ao tema, que ressignificamos mais sinteticamente como a formação do professor diante da sociedade atual marcada pela incerteza.

11
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
Incerteza e vontade
Se a incerteza do futuro contamina o presente sabemos, pelo menos, que não estamos num ponto zero qualquer, uma vez que nosso presente é, em parte, produto do passado. Dizemos em parte porque, por força de escolhas nem sempre conscientes, nem sempre livres, nem sempre propriamente escolhas, temos deixado de lado ou excluído produtos importantes desse passado. Muitas habilidades, sa-beres, estilos de vida e formas de pensar foram certamente julgadas inapropriadas, apesar de terem constituído importantes constâncias históricas que consolidaram o padrão da espécie humana.
Se o futuro é incerto, ainda é possível lançar mão de alguns dados, proces-sos e caminhos já percorridos, para compreendermos e avaliarmos a história do presente. Longe, porém, da causalidade linear, devemos estar atentos a um fato: não somos hoje um simples produto do passado que nos foi transmitido, porque somos simultaneamente produto e produtores da nossa cultura. Além disso, nossa história é fruto de uma dinâmica complexa que qualifica a condição humana como sendo a permanente oscilação entre forças de emancipação e regressão, ordem e desordem, avanço e retrocesso, vida e morte, repetição e inovação. É do interior mesmo dessa dinâmica complexa que emerge a condição reflexiva dos humanos. Dotada de uma certa autonomia, a condição de refletir retroage sobre nossas ex-periências e, a partir dessa condição cognitiva, é que exercitamos nossos atributos de vontade e liberdade.
A avaliação do caminho percorrido, a valoração do processo no qual esta-mos imersos e a escolha de horizontes a serem percebidos são, talvez, a trindade antropológica que nos caracteriza como sapiens-sapiens-demens. Uma tal condição sapiental deve denotar menos a supremacia da espécie e mais a sua responsabilidade diante de uma história encenada com parceiros que, mesmo sem escolhê-la, dela compartilham de maneira compulsória ou pela domesticação.
Se a aventura humana na terra é resultado da complexificação crescente de nossas aptidões mentais em intercâmbio com a natureza, e se da relação homem-meio emergiu esse fabuloso processo cultural, talvez seja imperativo perguntar sobre a nossa dívida para com outros processos que foram interrompidos em favor de um projeto civilizatório excludente porque “demasiadamente humano”.

12
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
Por fim, se a acumulação da cultura é fruto da transferência, reorganização e resignificação de informações de diversas ordens (física, biológica, psíquica, simbó-lica), devemos atestar a importância do processo educativo como mediador dessa acumulação. Cabe, entretanto, perguntar como temos praticado tal mediação; a partir de que métodos de pensar temos intercambiado e reorganizado informações; de que moldes mentais fazemos uso para transmitir conhecimentos, experiências, conteúdos interpretativos. Para pensar a formação de educadores capazes de problematizar e articular os conteúdos da cultura, é necessário tomar consciência das condições de produção do conhecimento operado historicamente e discutir a educação como via de superação da disciplinaridade fechada, não comunicante.
Cultura e conhecimento
Comecemos por explicitar as possibilidades cognitivas do homem diante da necessária reconstrução de um conhecimento mais universalista, complexo e dialogal. Situemos um começo, sem a preocupação de um ponto zero.
Sabemos que, apesar de integrante do complexo sistema que constitui o meio ambiente, o homem dele se distingue pela faculdade de produção da cultura e de construção da história. É como leitor simultaneamente utilitário e especulativo do ecossistema que o homem tem respondido aos problemas que lhe são postos. Mas é também como formulador de cosmologias imaginárias que temos dialogado, lido e reconstruído o mundo.
É, pois, a partir do contato com um mundo dado e um mundo construído – ecossistema natural, códigos culturais, representações – que a relação cérebro-espírito tem encontrado as bases e as condições para sua complexificação e para a produção do pensamento, do conhecimento e da cultura. Somos seres ao mesmo tempo marcados pela necessidade prática e pela competência especulativa; seres lógicos e míticos. Conforme dirá E. Morin em O método III, “toda renúncia ao conhecimento empírico/técnico/racional conduziria os humanos à morte”, mas igualmente “toda a renúncia às (nossas) crenças fundamentais desintegraria a sociedade” (s.d., p.144) .
Para Edgar Morin, o processo de complexificação da natureza, animado

13
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
pela pulsão cognitiva que ultrapassa o utilitarismo, sustenta-se numa estrutura antropológica pendular que comporta, simultânea e dialogicamente, uma biologia, uma animalidade e uma humanidade do conhecimento. Essa pulsão cognitiva é certamente o que funda as sociedades humanas e sua historicidade, constitui a cultura, produz um ser leitor interpretante e impressor de sentidos, vontades, desejos, produtor e consumidor de conhecimento.
A cultura que é a marca da sociedade humana, é organizada/organizadora pela via do veículo cognitivo que é a linguagem; a partir do capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, dos saberes fazeres apreendidos, das experiências vividas, da memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade. Assim se manifestam representações coletivas, consciências coletivas, imaginário coletivo... Assim a cultura não é nem superestrutura nem infraestrutura, esses termos sendo impróprios numa organização recursiva na qual o que é produzido e gerado torna-se produtor e gerador daquilo que o produz ou o gera. (Morin, 1991, p. 17)
Esse conceito de cultura que, para Edgar Morin, representa, metaforica-mente, um megacomputador complexo inscreve instruções, prescreve normas e comandos em cérebros individuais, das sociedades arcaicas às pós-industriais, e vem sendo construído, pouco a pouco, num itinerário intelectual múltiplo, de-sencadeado principalmente com a publicação de O paradigma perdido, em 1973. Nesse livro é enfatizado que a substituição da floresta pela savana, a ociosidade dos adolescentes, a copulação frontal, o fogo, a instauração da exogamia, o fim do nomadismo, a articulação da palavra, a aferição de significados, o exercício das trocas e do poder, a criação do mito e da ciência são, todos, sinalizações da relação natureza-cultura, mediada pela imposição de problemas novos e instigantes. “A hominização teve como prelúdio uma desgraça ecológica, um desvio genético e uma dissidência sociológica” (Morin, 1979, p. 63).
No interior desse macro processo, a complexificação cerebral, instigada e alimentada pela relação constante entre o homínida e o meio ambiente, desem-penhou o papel de “centro federativo-integrativo entre as diversas esferas cujas relações mútuas constituem o universo antropológico: a esfera ecossistêmica, a esfera genética, a esfera cultural e social e, claro, a esfera fenotípica do organismo individual” (Morin, 1979, p. 136). Entre o cérebro humano e o meio ambiente não há, portanto, nem integração nem adequação imediata, e sim uma zona de

14
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
ambigüidade e incerteza. E é precisamente a faculdade de indecisão o ingrediente que, ao mesmo tempo, limita e abre indefinidamente a possibilidade de conhe-cimento (Morin, 1979, p. 130-131).
A zona de indecisão entre homem e meio define a possibilidade do conheci-mento, e este nada mais é do que a tentativa de fechar a brecha cérebro x ecossiste-ma-cultura-práxis. A resolução das incertezas tem sido, historicamente, exercitada pelos itinerários simbólicos/mitológicos/mágicos e empíricos/racionais/técnicos, entendidos como excludentes pelo grande paradigma do ocidente.
Com efeito, mais que atributos do pensamento que podem eventualmente articular-se, os itinerários míticos e lógicos estão em constante interação, como que contagiados por uma necessidade comum. Por outro lado, a suposta separação entre os ideários míticos, religiosos, científicos e filosóficos só encontrará justificação nas matrizes da racionalização da história ocidental que operam a arbitrária disjunção entre razão e mito, como se razão e ciência não fossem sempre contaminadas e em-bebidas pelos dispositivos míticos. “Os dois modos coexistem, entreajudam-se, estão em constantes interações, como se tivessem uma necessidade permanente um do outro; podem por vezes confundir-se, mas sempre provisoriamente”. Essas palavras conduziram Edgar Morin a afirmar, categoricamente, que a relação entre os dois pensamentos não se encontra historicamente ultrapassada, mas inscreve-se como uma questão antropossocial inaugural em toda a trajetória do processo civilizatório.
Fazer com que se comuniquem esses dois modos de pensar que, pela força do paradigma da simplificação, enfraqueceram suas relações e parecem atuar sepa-rados, é reabilitar a dialógica da estrutura policêntrica e fracamente hierarquizada do cérebro humano. Uma tal reabilitação antropológica favorece o diálogo entre as especialidades técnicas da produção do conhecimento. Isso “não implica que cada um de nós tenha de passar o tempo todo a ler, a informar-se de todos os do-mínios... O problema não está em que cada um perca a sua competência. Está em que a desenvolva o suficiente para articular com outras competências que, ligadas em cadeia, formariam o anel completo e dinâmico, o anel do conhecimento do conhecimento” (Morin, 1979, p. 33).
Para que essa potencialidade seja posta em movimento, é necessário operar uma nova articulação de saberes e competências, além de um esforço de reflexão fundamental. É uma tarefa que necessita do encontro e da troca de experiências de todos aqueles que trabalham em domínios diversos e que não se fecham como

15
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
ostras nas conchas de suas especialidades. Ademais, nenhum conhecimento tem sentido fora de seu contexto, conforme assevera Edgar Morin.
Numa problematização a respeito da atual reforma do ensino fundamental no Brasil, Luís Carlos Menezes (2000) destaca que dominar uma especialidade não é suficiente para ter habilidade, competência e qualidades humanas. Para ele, a “natureza ou a sociedade não são disciplinares, mas quanto mais aprofundado e especifico for o conhecimento, mais disciplinar ele se apresenta, ou seja, mais uso faz de códigos próprios, de linguagens específicas, de instrumentos especiais. Por isso, há um lugar insubstituível para as disciplinas, sempre que um conhecimento sistemático estiver sendo tratado” (p. 6).
Longe de protagonizar o fim das disciplinas, uma reforma do pensamento e da educação reconhece como imperativo fazer dialogarem as estruturas de pensar, as competências, os saberes produzidos. É ainda Menezes que nos alerta para o fato de que mais que a destreza no manuseio dos conteúdos específicos, a fecundi-dade de acionar as competências está em permitir a transversalização dos redutos disciplinares. Nesse sentido, pergunta:
escrever uma carta pessoal ou informação técnica, saber como proceder diante de uma emergência doméstica ou profissional, localizar informação e ser capaz de interpretá-la, elaborar estatísticas de variáveis físicas e sociais, conhecer hipóteses sobre o surgimento da vida no planeta, tocar um instrumento musical ou dançar ou representar ou desenhar, apreciar literatura, saber como se elaboram as leis e conhecer a história da organização política de diferentes povos, são habilidades restritas a quais disciplinas?
Numa síntese arrojada, Luis Carlos Menezes reescreve, em nossa alma de educador, um argumento fundamental que pode nos dispor a fazer dialogarem as competências de um educador ativo e inteiro diante do mundo:
Há qualidades afetivas, sociais, práticas e éticas, como solidariedade, curiosidade, criatividade, iniciativa, expressividade, sociabilidade, interesse cultural, preferência artística, responsabilidade coletiva, respeito humano e tantas outras que não se podem restringir a quaisquer disciplinas, ainda que possam ser promovidas dentro de qualquer disciplina. (Menezes, 2000, p. 6)

16
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
Essas qualidades a que alude Menezes podem vir a configurar estados dis-posicionais do professor para uma organização mais orgânica do conhecimento. A esse respeito faz sentido trazer de volta as palavras de Montaigne contidas nos seus ensaios: “mais vale uma cabeça bem-feita do que uma cabeça cheia”.
Para Edgard Carvalho, pensar a Educação do século XXI é reabilitar, como sugere Morin, as inquietações de Marx na terceira tese sobre Feuerbach. Nas pa-lavras de Carvalho (2000),
qualquer teoria da mudança das circunstâncias sócio-históricas e da educação traz consigo a necessidade da educação dos educadores. Como fazer isso? Fomentando a identidade entre ciência e arte, ciência e tradição, estimulando a religação entre razão e sensibilidade. A educação dos educadores deverá reconhecer que a função escolar, em qualquer um dos níveis em que se exerça, precisa estabelecer uma co-nexão forte entre presente e passado, de um lado, e entre sociedade e indivíduo, do outro.
Conclui Carvalho, afirmando que o objetivo crucial da educação hoje precisa pautar-se pela “sustentabilidade e pela preservação do capital cultural da humanidade” (p. 6).
Para reabilitar o diálogo “entre razão e sensibilidade” de que fala Carvalho e reaver as qualidades “afetivas, sociais, práticas e éticas” sublinhadas por Menezes, o professor talvez tenha de contemplar-se ao espelho do antigo sábio, para atualizar sua imagem em sintonia com os desafios da sociedade atual.
O sábio pré-iluminista e o intelectual moderno
Foi certamente o predomínio da rigidez sobre a razão que se acabou cons-tituindo na matriz epistemológica iluminadora do pensamento científico, nota-damente na modernidade.
O Século das Luzes será o marco principal de referência da transformação do antigo sábio no intelectual moderno. O sacerdote-mago, guardião dos mitos e encarregado de anunciar a verdade, foi substituído pelo filósofo iluminista que passa a submeter a verdade sagrada à prova da crítica. Produz-se um novo mito:

17
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
a razão. Dessa ruptura, nasce o intelectual moderno. “O mito da razão emancipa o intelectual”, afirma Morin em Para sair do século XX.
Dotado de uma simbiótica ambivalência, o sábio pré-iluminista era, ao mesmo tempo, defensor de valores morais e um rigoroso observador, sistemati-zador e interpretador dos fenômenos físicos e sociais do seu tempo. O intelectual moderno emerge do interior de um matizado processo sócio-histórico que elege a razão como o único critério definidor da ciência. A partir daí, os saberes e as expe-riências que não resistirem ao teste da razão e da demonstração serão classificados como míticos, esotéricos, religiosos, transcendentais, metafísicos. Mutatis-mutanti a transformação do educador, antes um sábio polivalente, hoje um especialista num domínio estrito de competência, reatualiza o mesmo processo de fratura e redução das condições ampliadas da comunicação do conhecimento.
O que pode parecer uma contextualização histórica da sucessão de persona-gens do conhecimento representa, na verdade, fixações normativas excedentes de estados de ser do pensamento humano em sua essência – polivalente, polifônico, múltiplo. Reprogramam-se, pela via das escolhas redutoras, as interfaces entre homem e meio. As questões colocadas pelas sociedades passam a ter domínios de resolução distintos. O conhecimento, como um recurso para fechar a brecha cére-bro-meio, tem agora diante de si questões de natureza supostamente diferenciadas. Estabelecem-se divisores entre o que é da ordem do racional e o que pertence ao irracional, e, mais particularmente, opõem-se os problemas considerados ora míticos, ora metafísicos, ora científicos. A fragmentação do pensamento torna-se visível pela produção de especialistas não comunicantes. Emerge o descompasso na articulação entre os itinerários míticos e lógicos. O pensamento simplificador pulverizará, a partir de então, as questões a serem apreciadas pelas sociedades humanas de forma insular e pontual.
Essa estrutura de operação do pensamento e produção do conhecimento tem por base a emergência de uma sociedade pré-industrial que vê multiplicados os problemas já existentes, ao mesmo tempo em que se defronta com o aparecimento de novos problemas. O aumento e deslocamento populacionais, o redireciona-mento da formação técnico-profissional e o aparecimento de doenças provocadas pelas aglomerações urbanas vão demandar uma nova organização na produção de saberes. Essas contingências sócio-históricas consolidarão o perfil do intelectual e do cientista como um especialista.

18
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
Vão sendo consagradas, a partir daí, as várias cadeias de separação sucessivas entre natureza e cultura, o mundo real e o mundo imaginário, produção material e produção do pensamento, trabalho manual e trabalho intelectual, fazer e saber, teoria e prática, pensamento e ação. A separação entre a arte da técnica e a estética da reflexão encontrará, na sociedade industrial nascente, as condições favoráveis para expressar-se; por isso, torna-se indispensável à formação de competências específicas gestadas pelos adestramentos que confinam o indivíduo em um campo extremamente restrito de atividades. A ciência passa a acentuar o caráter utilitário do conhecimento, limitando o campo da reflexão a certos domínios. Entramos, assim, nos “tempos modernos” de Chaplin: a repetição, a mecanização do pensa-mento, a exaustão do corpo sem mente e sem desejo; mentes treinadas para pensar o extremamente útil; “corpos dóceis para o trabalho”, para usar uma expressão de M. Foucault.
No cenário dessa lógica perversa, as instituições educacionais vão, aos poucos, abrindo mão da reflexão e da crítica, para privilegiarem a formação de especialistas que reproduzem maquinicamente (no sentido de maquinar, arquitetar) uma sociedade fragmentada, comprometendo assim as condições de convivialidade e diálogo social entre os saberes milenares da tradição e a ciência moderna. Uma assepsia cognitiva passa a controlar as qualidades psico-afetivas do conhecimento, e uma razão patológica proverá, por todos os meios, a domesticação da “lógica do sensível” de que trata Claude Lévi-Strauss.
A domesticação da tradição
A história da nossa espécie, vale dizer, do passado de cada um de nós, dese-nhou-se por diversos caminhos possíveis, seguiu a reta da especialização e é, ao mesmo tempo, uma história de ganhos e perdas. Mais que isso: o caminho percorrido até hoje só foi possível graças à redução, assimilação e negação de diversas formas de intercâmbio do homem com o meio por intermédio do conhecimento.
A cultura que recebemos como herança funda-se na divisão de dois domínios de saberes: de um lado, a ciência; do outro, os saberes da tradição. A hegemonia de um domínio sobre o outro e a incomunicabilidade entre eles constituem um dos problemas cruciais do nosso tempo. Longe de apregoar a unificação de estilos

19
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
diferenciados de dialogar com o mundo, temos, entretanto, de julgar inadmissível o paralelismo de saberes que têm em comum o mesmo desafio: tornar possível e prazerosa a vida humana na terra. Além do mais, a hegemonia da ciência se an-cora num fundamento sem fundamento. Isto porque a ciência nasceu justamente da domesticação de parte dos saberes milenares da tradição, mesmo que deles se tenha, aos poucos, distanciado.
Do ponto de vista da função social e política do conhecimento, cabem aqui algumas interrogações. Se “a sociedade se põe os problemas que pode resolver”, como afirmava Marx, como enunciar as questões centrais de nosso tempo? Como indicar o problema chave de nossa época? Pode-se dizer que tais questões são aquelas que a comunidade científica anuncia? A essa convenção não se deve con-trapor a ausência da ciência diante das problemáticas muitas vezes vitais de certas populações? A que serve o paralelismo da produção do conhecimento na ciência e nos saberes da tradição? Sabemos que, internamente à ciência, o paralelismo das descobertas científicas demonstra a universalidade da sintonia cérebro-meio pela explicitação de questões idênticas em lugares diferentes. Mas também sabemos do desperdício, da duplicação e da incomunicabilidade que constituem juntos a característica da ciência moderna. Esse panorama se amplia se considerarmos o conjunto de nossos conhecimentos.
A partir desse raciocínio, algumas questões podem ser delineadas: 1) A população, que por interdição é destituída do saber científico, estaria ‘atrasada’ em relação às questões enunciadas pela ciência num determinado momento? 2) Seriam elas um empecilho à produção coletiva do conhecimento? 3) Se é verdade que só a ciência sintoniza adequadamente as questões postas e as resolve, como entender que as populações que não dispõem daquele conhecimento elaboram suas matrizes de referência explicativa? 4) Os saberes não científicos teriam como função ensaiar soluções para problemas que, num segundo momento, seriam resolvidos pela ciência?
Tais questões problematizam o processo educativo em nossos dias, processo de dispersão que, em vez de criador é redutor e mutilante. De um lado, o saber científico fracionado, não comunicante; de outro, o saber tradicional “popular”, selvagem, tratado como filho bastardo da aventura do conhecimento e excluído do âmbito da socialização da cultura científica. Tal exclusão fundará espaços, linguagens e atitudes mentais que se excluem mutuamente.

20
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
Na formação acadêmica do professor, os conteúdos que são transmitidos correspondem a uma história domesticada das descobertas do homem. Está fora dos programas a diversidade de explicações, especulações e métodos de olhar, clas-sificar e hierarquizar os fenômenos do mundo pelos intelectuais da tradição. Os métodos científicos de previsão climática é que são comunicados pelos peritos da tradição, e nunca as formas tradicionais de leitura do ecossistema. Ao exercício do pensamento analógico, ferramenta mental tão fecunda nos saberes não-científicos, são atribuídas reservas desclassificatórias. Se, nos conteúdos escolares, há alusão a outras interpretações do mundo, a elas são imputadas a qualidade de um saber sem rigor, sem método, sem função; um saber menor.
Essa forma de interdito na circulação da cultura consolida uma sociedade de múltiplas exclusões e condena as populações não letradas a redutos cada vez mais fechados. Dotados, entretanto, de uma criatividade não domesticada, essas populações têm respondido a desafios que talvez a ciência fosse incapaz de enfrentar, se fosse desprovida de tantas ferramentas, artifícios e próteses.
Um novo educador
A tarefa de repensar a formação de novos educadores supõe um clima de efervescência de idéias, chamado de calor cultural por Morin, e implica identificar o que, na nossa estrutura educacional, favorece o “comércio” e a troca múltipla de interações, opiniões, idéias e teorias. Não se restringindo ao intercâmbio do que já foi dito, essa investida apela a nossa criatividade para que pensemos um educador capaz de lançar as bases para uma educação do futuro, sem fixar-se apenas no compromisso com o presente.
Assim, mais que reformular as teorias e metodologias particulares para pensar o mundo, é fundamental que nos coloquemos o problema de recompor a estrutura de pensar. Em segundo lugar, considerando o quadro interno do co-nhecimento científico, há que se propugnar pela articulação entre ciências da vida, ciências do homem e ciências do mundo físico. Aqui não bastarão, certamente, esforços de superposição de conteúdos disciplinares: a interdisciplinaridade deve ser ultrapassada pelo horizonte da transdisciplinaridade, em busca do pensamento complexo. Por outro lado, esse intercâmbio interno entre disciplinas científicas não

21
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
basta; conforme já assinalamos, é fundamental ampliá-lo nos quadros do diálogo entre a ciência e os saberes da tradição.
Esses exercícios supõem reativar ou configurar uma estrutura cognitiva de múltiplas e complexas entradas. Nessa nova e plurifocal rede cognitiva, certamente perde sentido a estrutura dual e fragmentada de pensar o mundo e o homem. Esse é – parece – o horizonte posto hoje ao conhecimento.
Diante desse horizonte, é importante investir numa reorganização do conhecimento capaz de prover uma reforma na educação. Isso requer uma nova aliança entre cultura cientifica e cultura humanística, a reforma do pensamento e o exercício do diálogo. Essas idéias que alimentam a base epistemológica de pensadores como Ilya Prigogine, David Bohm e Edgar Morin podem fomentar práticas educacionais capazes de religar os conhecimentos e fazer dialogarem nos-sas competências. Rediscutir, como hipóteses, postulados tidos como indiscutíveis, imprimir importância a fatos concebidos como aleatórios pela ciência, refutar a ortodoxia e o maniqueísmo, por à luz nossas crenças fundamentais e exercitar a criatividade do pensamento são alguns dos protocolos que favorecem a emergência de um novo espírito cientifico e de um novo educador.
Esse protocolo de intenções, talvez mais propriamente uma pedagogia da complexidade, precisa estar comprometido com um ideário educacional mais ético diante dos graves problemas planetários, sem abrir mão, é claro, da nossa herança milenar que, de uma certa forma, ainda se mantém nos redutos dos saberes da tradição.
Há que se investir na disposição para ampliar os limites do conhecimento e fazer dialogar as competências disciplinares. Uma reorganização mais democrática dos saberes poderá reduzir a exclusão inadmissível de parte considerável de nossa sociedade diante das escolhas coletivas. Esse desafio, longe de configurar uma missão própria de um especialista, pertence igualmente aos epistemólogos, físicos, educadores, sociólogos, antropólogos e intelectuais da tradição.
No que se refere aos profissionais da educação que aqui nos interessam mais de perto, é preciso sublinhar o importante papel que esses atores desempenham enquanto mediadores da transferência e difusão dos conteúdos da cultura científica. Mais que um simples transmissor de conhecimento, o professor é uma referência privilegiada para a construção da visão de mundo e da estrutura de pensar do aluno, diga-se, do cidadão planetário.

22
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
Investido da autoridade aferida pelo estoque do conhecimento acumulado e do poder instituído pelo lugar discursivo do qual fala, ao educador caberia hoje o exercício de fazer emergir uma qualidade do pensamento que está em parte adormecida: o prazer de conhecer. O incitamento à criatividade, a atividade de interditar a ortodoxia e a certeza podem vir a prefigurar um novo perfil do educador, em sintonia com as demandas culturais do próximo milênio. Esse novo educa-dor talvez tenha de incluir na sua agenda duas tarefas que, mesmo distintas, são complementares. Uma diz respeito à reconstrução de seu próprio perfil enquanto profissional da educação: a morte do sujeito narcisicamente investido do poder é o mínimo que se espera para reformatarem-se os espaços discursivos do diálogo professor-aluno. Essa tarefa amplia-se numa outra, sem dúvida investida de maior envergadura e desafio. Trata-se de exercitar uma verdadeira aeróbica dos neurô-nios com o objetivo de desconstruir os imprintings paradigmáticos que impedem novas e ampliadas sinapses cognitivas de alunos cada vez mais ávidos em expor suas subjetividades, seus mapas auto-biográficos e em compreender os conteúdos disciplinares que se tornam significativos apenas pela partilha e co-produção.
Certamente, a tarefa de reintroduzir o prazer na praxis docente supõe a reconstrução de um conhecimento mais aberto, em que as noções de polifonia, ambivalência e simultaneidade podem emitir novas mensagens a um sujeito ativo que se singulariza. Para isso, será preciso exercitar um esforço fundamental para acessar o nosso poliprograma cerebral, atualmente adormecido pela hegemonia da ratio cartesiana; em outras palavras, há de se questionarem as imposições radicais das mundovisões estreitas sugeridas pelos códigos da ciência, o que subentende rediscutir a formação de professores.
É preciso que o professor seja formado para ampliar suas escolhas cogniti-vas e as de seus alunos para que possam coletivamente arquitetar e ensaiar novas escolhas sociais, éticas, políticas. É necessário que a escola se transforme no lugar de fecundação de novas utopias realistas. Se é imprescindível reformar as estruturas curriculares dos cursos de formação de professores, se é indispensável repensar a construção do perfil do professor diante da sociedade atual, se é inadiável ultrapassar a idéia do professor como mero transferidor de conteúdos científicos, não é menos importante e urgente colocar-se a questão da auto-formação do educador.
Assim como a crítica precisa ser sempre precedida da autocrítica e a ética social iniciada com a auto-ética de cada sujeito, também a formação do professor

23
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
deve ter por complemento importante a auto-formação. Não é demais lembrar que toda transformação individual ou coletiva requer uma intenção, uma vontade, uma prática, ou mesmo um consentimento, mas começa sempre pela transfor-mação do sujeito. Todas as mudanças supõem uma convicção fundamental para a transformação, e essa convicção está situada no indivíduo.
Apostar numa refundação do perfil do educador é, talvez, abrir-se à dinâmica da reconstrução de nossos métodos de ensinar e aprender. É com esse objetivo que tomamos aqui de empréstimo a noção de auto-organização formulada por Henri Atlan e o argumento defendido por Pierre Lévy de que o sistema cognitivo humano tem por base uma diversidade de operações simultâneas.
Henri Atlan sugere que a complexidade dos sistemas vivos supõe a auto-organização pelo ruído. É a partir da decodificação do ruído que se desestrutura a fixação do padrão cognitivo e se ampliam os modelos de referência internos ao sistema. Por isso, os processos de aprendizagem “não dirigidos” são responsáveis, em grande parte, pelo aparecimento de novos padrões de leitura do mundo. O núcleo das idéias de Atlan a esse respeito comporta duas noções/processos fundamentais: o delírio e o transbordamento.
O delírio passa a ser entendido como uma projeção do imaginário sobre o real e o elemento que exibe a condição de “ambigüidade” do imaginário. Sublinha o autor, por exemplo, que qualquer hipótese científica realmente nova é, na sua origem, “da ordem do delírio”. O passo seguinte é, supondo sempre a auto-eco-organização do pensamento, a exposição dessa projeção ao real e o feedback, ou seja, o resultado da digestão e adequação do delírio ao mundo real, que evitará sua potencial metamorfose patológica.
A ausência desse feedback, a partir do fechamento do sistema cognitivo – seja pela via da “memorização excessiva” (fixação de um molde inalterável) seja pela da “precisão demasiada” (fixação numa projeção particular) – encerra o delírio no reduto de sua negatividade. Daí porque os processos/mecanismos de transbordamento do pensamento, pelos excessos de imagens e leituras complexas, podem vir a constituir um importante antídoto de resistência ao que temos cha-mado de violência cognitiva, que impõe padrões redutores e economizadores do policentrismo cerebral e da polifonia imaginária. As noções de aceitação do ruído e de “delírio organizador” parecem se impor, hoje, como idéias sobre as quais é preciso pensar.

24
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
A Pierre Lévy, para o qual “pensar é um devir coletivo no qual se misturam homens e coisas”, interessa reter a simultaneidade da operação cognitiva. Por ser a educação um dispositivo que limita, pela seletividade, a escolha de métodos de leitura do mundo, comporta em si a possibilidade de fechamento e redução do pensamento humano, isto é, os métodos de transmissão da cultura reduzem a polifonia do pensa-mento. Mas não é só. Numa síntese arrojada, Pierre Lévy mostra como a história do pensamento do homem se traduz pela sucessão do que ele chamou “os três pólos do espírito” – oralidade, escrita, informática. Manter-se em sintonia com o mundo atual é, para Pierre Lévy, por-se a tarefa inadiável de promover a fusão e ampliação dessas distintas “tecnologias do pensamento”. Essa parece ser uma das estratégias fecundas na prática do ensino. Tal proposição não deverá excluir nenhum desses três polos; ao contrário, terá de bricolá-los num grande hipertexto da cultura em que o mito e o logos, os desejos e as interdições, as narrativas e os diagramas, as subjetividades e as objetividades teçam, conjuntamente, os “nós” de um homem ainda em construção.
A sucessão da oralidade, da escrita e da informática como modos fundamentais da gestão social do conhecimento não se dá por simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamento de centro de gravidade. (Lévy: 1993)
Em suma, a desconstrução da educação como adestramento e a recons-trução do perfil do educador supõem a aceitação da morte e da metamorfose do sujeito cindido e fechado. Nas palavras de Henri Atlan, “na verdade, foi o homem, enquanto sistema fechado, que desapareceu; sistemas cibernéticos abertos, auto-organizados, são candidatos a sua sucessão” (Atlan: 1992).
Nessa sucessão de mortes e renascimentos, caberia perguntar sobre a vita-lidade de nossas projeções de futuro quando nos detemos demasiadamente aos fatos, processos e diagnósticos do presente. A esse respeito são bem vindas as reflexões de Joel de Rosnay no livro “O homem simbiótico”. Para ele, dadas às transformações rápidas, imprevistas e incertas das sociedades contemporâneas, nenhuma de nossas projeções teóricas teria valor operativo de longo alcance. Para Rosnay, o desafio que se impõe a todos nós é maior. Trata-se de imaginar a sociedade que queremos e identificar, no contexto de nossas sociedades atuais, quais são os fatos portadores

25
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humana EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
de sentido, capazes de objetivar nossa imaginação. Isso vale também para imaginar e construir a educação que queremos.
No espaço desse artigo enunciamos o que, para nós, são alguns desses fatos portadores de sentido. Mas eles não são suficientes, nem são os únicos, nem talvez os mais fecundos. Somente o empenho coletivo para iluminar focos de emergência de uma nova sociedade e de uma nova educação nos permitirá projetar para o futuro o que é preciso começar agora. Os três últimos livros de Edgar Morin sobre a reforma da educação – “A cabeça bem feita”, “Os sete saberes necessários à educação do futuro” e “Complexidade e Transdisciplinaridade: a reforma da universidade e do ensino fundamental” – podem descortinar os caminhos por onde se deve come-çar. Para Morin, é fundamental articular as disciplinas em torno dos metatemas mundo, terra, vida, humanidade, arte, história, cultura, adolescentes e conhecimento. Compreender que o erro é parte integrante do processo cognitivo; que todo fenô-meno só ganha sentido em relação ao seu contexto; ensinar a identidade terrestre e a compreensão; discutir a ética do gênero humano e conviver com a incerteza constituem diretrizes para fazer dialogarem os conteúdos disciplinares e restituir ao educador sua missão maior de ensinar a viver a condição humana.
ABSTRACT: The current set of reflections on reform of the educational system, from basic education to teacher training requires two cognitive investments that complement each other: a dialogue capable of articulating our different areas of competence, and the choice of meta-issues and principles that clearly expose the educational ideal we want. From that point of view, we must present on, question and evaluate whether the production of knowledge we have inherited culturally and historically can satisfactorily solve the problems that emerge in contemporary society, which are marked by the complementary and antagonistic relationship among science, technology and the environment. Furthermore, we should ask if our educational practices permit projecting and constructing the basis of a future society. It would seem that a basic agenda for rethinking education demands opening up specialisations, providing methods of thought that rejoin knowledge from different disciplines and reconstruct an individual capable of questioning the human condition. A reform of thought (E. Morin) oriented in deconstruction and reconstruction of cognitive models (J. Rosnay) that can make teaching an education of the human condition in harmony with the world domains that are the basis of that condition.
KEY WORDS: education, teacher training, knowledge.

26
ECCOS
REV.
CIENT.
n. 2v. 2
dez.2000
Ensinar a condição humanaEccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 9-26
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
At l an, H. Entre o cristal e a fumaça – ensaio sobre a organização do ser vivo. Rio de Janeiro: Zahar, 1992.
Carval ho, E. de A. [2000]. Educação para o século XXI. In: Jornal Tribuna do Norte. Caderno Viver – Polifônicas Idéias. Natal, 12 de agosto, p. 6.
Conche, M. A análise do amor. São Paulo: Martins Fontes, 1998.Lévy, Pierre. As tecnologias da Inteligência – o futuro do pensamento na era da
informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.Menezes, L. C. [2000]. Competências e conhecimento no ensino médio. In: Jor-
nal Tribuna do Norte. Caderno Viver – Polifônicas Idéias. Natal, 5 de agosto, p. 6.
Mor in, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Bra-sília: Unesco, 2000.
____. A cabeça bem feita – pensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
____. Complexidade e Transdisciplinaridade – a reforma da universidade e do ensino fundamental. Natal: Editora da UFRN, 1999.
____. La méthode 4: les idées – leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organiza-tions. Paris: Editions du Seuil, 1991.
____. O enigma do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.____. O método III. O conhecimento do conhecimento. Lisboa: Publicações Europa-
América, s.d.Rosnay, J. de. O homem simbiótico – perspectivas para o terceiro milênio. Petró-
polis: Vozes, 1997.