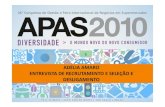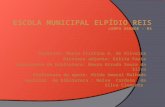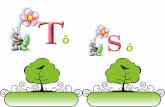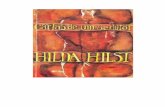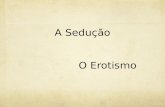Erotismo e Religião Adelia Prado Hilda Hilst
-
Upload
henrique-carlos-alves -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
description
Transcript of Erotismo e Religião Adelia Prado Hilda Hilst
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Erotismo e Religio: Cpula e Comunho.
Estudos acerca da poesia de Hilda Hilst e Adlia Prado
Prof. Ms. Geruza Zelnys de Almeida1 (PUC/SP) Profa. Ms. Cristiane Fernandes Leite2 (PUC/SP)
Resumo:
Hilda Hilst e Adlia Prado so grandes nomes da literatura brasileira na atualidade. Com estilos individuais, a arte as aproxima na busca pelo sagrado que se inscreve de forma imanente e trans-cendente em seus poemas. Entretanto, so muitas as vias para se chegar at ele, e cada uma delas traa seu percurso de modo diferenciado: Hilda pela cpula, Adlia pela comunho. O objetivo desse estudo refletir acerca da natureza ontolgica das experincias religiosa e ertica na poesia, identificando-as nos procedimentos que ora individualizam, ora aproximam essas poetas. Esses diferentes caminhos precisam ser percorridos para chegarmos a um ponto comum: o lugar do encontro, lugar da cpula e comunho, enfim, o lugar do sagrado na grande poesia
Palavras-chave: Literatura, Teologia, Erotismo, Hilda Hilst, Adlia Prado
Introduo Para mostrar a natureza ontolgica das experincias potica, religiosa e ertica, partimos da
idia de que o sagrado, assim como a poesia, contm em si o religioso e o ertico, uma vez que se sustenta no duplo proibio-transgresso, ou ainda, porque ambos esto ligados situaes limite. Alm disso, tanto um quanto outro visam o transbordamento, o arrebatamento, uma sensao indizvel de intenso prazer e gozo: o xtase, acontecimento de outra ordem, que no deixa traos recuperveis na memria (...) precisando desenvolver outro tipo de memria para ser reconstitudo, como o prprio gozo e a criao potica (BORGES, 2005, p.30).
Sentimento religioso e o sentimento ertico so frutos do desejo de unio, da busca pela completude o que, de certa forma, tem relao direta com a morte. Sendo assim, erotismo e religio esto intimamente ligados criao potica, j que so experincias que se fazem presentes atravs do poema (transcendncia) e pelo poema (imanncia), inscrevendo-se na prpria estrutura, apreendida logicamente no corpo potico.
1 Hilda Hilst: O inominvel e a cpula imagtica O erotismo imanente criao artstica, mesmo que no de forma explcita, pois est
presente no jogo de desvelamento necessrio fruio da obra. No caso da poesia, o erotismo favorecido pelo movimento contnuo entre o dizvel e o indizvel, entre o visvel e o invisvel que sensualiza a forma potica. Na poesia de Hilda Hilst, Deus a grande busca, mas a tentativa de materializ-lo por meio da palavra potica coloca a autora frente impossibilidade dessa tarefa devido ao fracasso da lngua para dizer e/ou presentificar o todo. Em luta contra a falibilidade sgnica, Hilda chega s ltimas conseqncias mergulhando no sensvel para encontrar o incognoscvel por meio da sensualizao da forma (atravs do movimento erotizante do pensamento), da cpula imagtica, ou ainda, da pornografia vernacular. Assim, para chegar at o Deus desejado, a poeta busca a morte, estado limtrofe entre corpo e esprito, abismo entre o ser desejoso e o desejado. Para Hilda, a morte somente pode ser conhecida em sua singularidade, ou seja, na inscrio do prprio nome, no nesse arbitrrio e carregado de simbologia, mas no nome primeiro, em estado icnico e fruto da criao potica. Paz (1982, p. 37) afirma que a primeira coisa que o homem faz diante de uma realidade desconhecida nome-la, batiz-la. Aquilo que ignoramos o inominado. Portanto, se nomear conhecer, o nomeado,
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
quando se mantm desconhecido ou inalcanvel, reclama uma re-nomeao, nem que seja, ao menos, para criar uma iluso de conhecimento que satisfaa o intelecto. Por isso, Hilda tece infinitos nomes procura da imagem/idia inaugural, que a aproxime do ser morte, numa tentativa de conhecer o smbolo pela forma como se indicia.
Esse procedimento desemboca numa espcie de ritual de cpula imagtica, ou seja, o movimento frentico das imagens funde-as num todo prenhe de significao. Est a a natureza ertica da potica hilstiana, uma vez que a busca do erotismo a fuso, a eliminao dos limites que viola as identidades e possibilita a total comunho entre um e outro ser (BATAILLE apud MORAES, 2002, p. 50).
Observa-se esse procedimento em Da morte. Odes Mnimas. (2003), tortuoso monlogo potico composto de quarenta poemas do eu-lrico com a Morte:
Te batizar de novo. Te nomear num tranado de teias E ao invs de Morte Te chamar Insana Fulva Feixe de Flautas Calha Candeia Palma, por que no? Te recriar nuns arco-ris Da alma, nuns possveis Construir teu nome E cantar teus nomes perecveis: Palha Cora Nula Praia Por que no? (I, p. 29)
Insatisfeita com a idia de morte, a poeta recria a morte-nome, a partir do material vocabular perecvel de que dispe, atribuindo-lhe novas nomenclaturas e tornando-a, assim, mais atraente. Por meio de atributos imagticos, sonoros, sensveis e intelectivos, fornecidos pelos substantivos ou adjetivos substantivados, o eu-lrico funda uma morte potica, na qual as palavras vo se aproximando por amor de suas parecenas e se aglutinando melopaicamente (fulva/feixe/flauta). Nesses versos monossilbicos, a morte adquire um ritmo danante que a sensualiza e a destitui do significante morte, o que elimina o temor contido na construo anagramtica (morte/temor). Entretanto, ao longo da composio, cria-se um movimento erotizante de aproximao e afastamento que leva inverso de papis: ao invs de ser tomada pela morte, a poeta toma-a sensorialmente: se pens-la lhe possvel em vida, senti-la condio imposta pelo morrer:
Se eu soubesse Teu nome verdadeiro Te tomaria mida, tnue (XIX, p. 47)
O verso inquiridor por que no? mantm acesa a proposta do encontro, ou ainda, da fuso entre o conhecido e o desconhecido:
Que eu te conhea lcita, terrena (II, p. 30) H milnios te sei / E nunca te conheo. (III, p. 31)
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Trazendo a Morte para perto de si, o eu-potico desfia infinitas redes de significao, as quais vo se avolumando no poema, desagregando o conceito convencional da imagem-Morte:
Te batizo Ventura (...) Te batizo Prisma, Prpura (...) Te batizo Riso Rosto de ningum Sonido Altura (XXIII, p. 51)
Como se v, a perseguio ao sublime pela via do ertico, encontra-se fadada ao fracasso de re-nomear o que no cabe numa palavra. Como a verdade no se fora aos olhos, a poesia no revela numa palavra toda sua verdade: a morte se mostra na potncia da lngua que impotente para lhe dizer, mas que fixa nesse campo magntico-textual, entre o dito e o no-dito, sua essencialidade (Badiou, 2002, p. 39). Dessa forma, para se aproximar da Morte, o eu-lrico desenha-lhe um corpo fsico traando uma imagem que separe o ser da morte de seu infinito possvel: Cavalinha, Cavalo, Bfalo, Cobra, entre outras. A imagem da cobra a que mais se retoma ao longo dos poemas e esta aparece nos estudos de Valry (CAMPOS, 1984), associada ao cone do pensar: a serpente pelo aspecto espiralado e pela formao em ns (ou ainda, pelo fato da oroboru devorar-se a si prpria pela cauda), representa o pensamento em movimento. Bem por isso, na plasticidade dos poemas que compem Da morte..., construda por meio da fanopia, cristaliza-se a serpente valeriana que se esgueira em contnuos retornos e metamorfoses, provocando na memria as reminiscncias de um passado bblico. Essa imagem ertica serpenteia pelos diversos livros da autora, ora associada morte, ora prpria palavra potica, duas faces do mesmo ser desejoso do Outro:
Vem dos vales a voz. Do poo. Dos penhascos. Vem funda e fria (...) E sibilante e lisa Se faz paixo, serpente, e nos habita. (Do Desejo, 2004, p. 31)
Chegar morte ter o conhecimento, a via de acesso ao uno. Como que repetindo a funo
bblico-inaugural de detentora do conhecimento (sophia), a serpente (ophis) relaciona-se com o proibido e a sua transgresso, ou seja, com a procura do eu-potico pelo xtase sagrado nas espirais labirnticas do prazer ertico. Todavia, mais do que smbolo, a serpente se desenha iconicamente, serpenteando em especulaes com suas idas e vindas frenticas. Inscrita nas curvas dessa serpent-penser, o ser mutante morte sensualmente corporificado para, atravs da fuso dos corpos, reconciliar esprito e matria, razo e sensao:
Duas fortes mulheres Na sua dura hora. (II, p.30) Juntas. Tu e eu. (...) Dois cortes. Duas faanhas. E uma s pessoa (XXX, p. 58)
nesta cpula imagtica que acontece o gozo do texto, o transbordamento da prpria poesia. Apenas no breve momento entre os movimentos de contrao e expanso da palavra, ou seja, no momento da apreenso do texto potico, que h a viso do invisvel e intui-se o nome do
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
inominvel. Nome esse impronuncivel, mas existindo enquanto potncia, como se observa em Cantares (2002):
Eu amo o Homem-luz Que h em mim. poeira e paixo E acredita. Amo-te, meu dio-amor Animal-vida. (...) (Canto XXIII, p. 56)
Ao justapor duas imagens, como numa cpula metafrica, cria-se uma frmula que preserva as imagens evocadas, mantendo sua energia sem, contudo, ser essa imagem propriamente. Trata-se, pois, de uma potencialidade nascida da unio de dois contrrios. Esse procedimento protege a imagem cone, funcionando como um campo de fora contra sua saturao, mantendo sua indizibilidade e, portanto, sua sacralidade. Sabe-se que o contnuo movimento caracterstico do signo lingstico em busca da completude, sua progresso e regresso infinitas participam da continuidade do processo. Zular (2002, p. 186) comenta que a incompletude inerente ao signo e, conseqentemente, sua continuidade destri o ideal de comeo e fim absolutos. Nesse sentido, a cpsula metafrica potencializa o devir lingstico, funcionando como microestrutura da gnese potica. Mais: a cpsula metafrica revela uma faceta dessa representao potica, ou seja, a mobilidade do poema elimina qualquer definio de incio ou fim: a execuo do poema que o poema (VALRY, 1999, p. 186) indo ao encontro, justamente, da idia predominante sobre Deus. Como a atrao imagtica no possibilita um nome, tem-se um conhecimento verticalizado proposto na relao. O inominvel insiste em se materializar como ausncia ou silncio, num conceito virtualizado no poema que remete sempre origem de si mesmo, comprovando que a experincia ertica nos leva ao silncio (BATAILLE, 1987, p. 153). Conclui-se, ento, que o fracasso na presentificao do ser o sucesso da representao potica, que se alimenta desse indizvel essencial ao ser humano. As metforas que se desmetaforizam como atividade reformuladora do pensar/conhecer, ou ainda, a cpsula metafrica que esconde na coliso um vazio pronto a ser, obrigam ao desautomatismo do olhar acostumado com a realidade cotidiana e instauram a experincia do sagrado.
A sucesso de nomes/imagens, cada uma englobando e ampliando a anterior, aponta para uma viso plural e multifacetada do uno num conceito sensvel-inteligvel que, paradoxalmente, firma sua preciso nesse ambiente impreciso da poesia. Essa impresso faz com que o sagrado continuamente escape-lhe pelos vos dos dedos, por isso HH ousa, ainda, atravessar os limites da idia em favor das exigncias sensrias. A busca dos aspectos sensveis para tornar o visvel o invisvel intensifica-se no volume Poemas malditos, gozosos e devotos (2005), cujos poemas constituem apstrofes a Deus:
neste mundo que te quero sentir o nico que sei. O que me resta. Dizer que vou te conhecer a fundo Sem as bnos da carne, no depois, Me parece a mim magra promessa. (...) Dirs que o humano desejo No te percebes as fomes. Sim, meu Senhor, Te percebo. Mas deixa-me amar a ti, neste texto Com os enlevos De uma mulher que s sabe o homem. (VIII, p. 31) Abre teus olhos, meu Deus,
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Come de mim a tua fome. (XVII, p. 53)
Essa postura agressiva intensifica-se no volume Do desejo (2004), o sexo reclamado porque se trata do mais primitivo contato do homem com o outro e, por isso, faz-se importante e essencial para tocar o sensvel, o inefvel:
Para pensar o Outro, eu deliro ou versejo. Pens-LO gozo. Ento no sabes? INCORPREO O DESEJO (X, p. 26) Extasiada, fodo contigo Ao invs de ganir diante do Nada (I, p. 17)
O corpo profano torna-se o nico lugar possvel ao encontro com Deus:
Olhando o meu passeio H um louco sobre o muro Balanando os ps. Mostra-me o peito estufado de plos E tem entre as coxas um lixo de papis: - Procura Deus, senhora? Procura Deus? E simtrico de zelos, balouante Dobra-se num salto e desnuda o traseiro. (III, Via Espessa, p. 67)
A imagem do nus como o lugar fsico possvel para o encontro com a idia do sagrado uma constante que reaparece por toda a obra hilstiana. Essa imagem possui grande carga de significao, pois se trata de um corpo estranho nas artes poticas que abala o espao impreciso do poema. Entretanto, o retorno ao corpo fsico desnuda um processo metafsico que no busca extrapolar o corpreo, mas inscrever-se nele mesmo, reforando-o atravs de signos proibidos. Assim, o lugar mais recndito do corpo o espao mais promissor para a construo do conhecimento, j que se trata do que h de material mais imediato ao homem. Apesar disso, a palavra pornogrfica causa estranhamento, afinal, a poeta quebra com o princpio ertico da poesia, o de no revelar, mas ocultar (BARTHES, 1999, p. 16). Essa pornografia lingstica, por sua vez, leva perda da aura de mistrio, a qual coincide com a imploso significativa. A auto-revelao do poema, ou o pornogrfico, ao expor o que deve estar oculto, leva mudez da palavra e, portanto, novamente ao silncio. Como se v, na arena potica hilstiana, expe-se a impotncia da palavra em dizer o todo. A verdade potica no est no que se fala, mas no que se cala no poema e que traduz a dialtica do procedimento metafsico que a nsia de perseguir a emoo abstrata em termos de coisas, essa coisificao dos conceitos atravs dos sentidos (CAMPOS, 1988, p. 128, grifos do autor). O contato primitivo e carnal com o corpo fsico-textual, escancarado em termos considerados marginais na poesia, tem inteno fundadora de linguagem. Linguagem inaugural fundada/fundida ao corpo como via de acesso ao conhecimento do mundo e ao encontro com Deus. Conclui-se, ento, que o fracasso na presentificao do ser o sucesso da representao potica, que se alimenta desse indizvel essencial ao ser humano.
2 Adlia Prado: uma potica de religao Um dos primeiros textos crticos sobre a poesia de Adlia Prado de Carlos Drummond de
Andrade que, mesmo um ano antes da publicao do livro de estria Bagagem, j apontava relaes entre poesia e religiosidade: Adlia lrica, bblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo:
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
esta a lei, no dos homens, mas de Deus. Os adjetivos utilizados por Drummond definem um jeito prprio de fazer poesia e qualificam a obra da autora como sendo de um lirismo nascido do ritmo primordial, do canto slmico, alm do pensamento analgico e metalingstico.
O dilogo entre os universos religioso e potico, presente nos poemas da autora, sero analisados a partir de sua natureza ontolgica. Segundo Mora (1981), para Heidegger ontolgico se refiere al ser, assim a ontologia aquella indagacin que se ocupa del ser en cuanto ser, pero no como una mera entidad formal, ni como una existencia, sino como aquello que hace posibles las existencias (p. 2423-25). Como se v, a experincia potica e a religiosa aproximam-se por sua natureza ontolgica, entretanto, preciso ressaltar que a obra de arte literria surge como um objeto de conhecimento sui generis, que tem sua prpria condio ontolgica (WELLEK; WARREN, 2003, p. 200), o que implica um tratamento metodolgico tambm especfico, a saber:
(1) o estrato sonoro (...); (2) as unidades de significado que determinam a estrutura lingstica formal de uma obra literria (...); (3) a imagem e a metfora, os mais essencialmente poticos de todos os recursos estilsticos (...); (4) o mundo especfico da poesia no smbolo e nos sistemas de smbolos que chamamos de mito potico (p. 201).
Assim, trataremos por natureza ontolgica, a potencialidade de ser que h tanto na palavra potica, quanto nos ritos religiosos, em especial nos sacramentos. Isso porque o homem religioso sedento do ser e essa sede ontolgica manifesta-se na vontade de situar-se no prprio corao do real, no centro do Mundo (ELIADE, 1996, p. 60) seja recuperando-lhe a essncia original pela proximidade com os deuses, seja reinventado-lhe para alimentar sua substncia ntica, sua sede de ser. Da os adjetivos bblica e existencial aparecerem lado a lado no artigo de Drummond, j que essa poesia revela o real sob um olhar calcado na existncia potica das coisas, ou seja, na pulsao de sentidos que se escondem por trs de cada vocbulo, verso ou enunciado potico.
Abordaremos, pois, a potica adeliana, a partir de elementos literrios que dialogam com o conceito de religare e os de imanncia e transcendncia a ele relacionados. Ao tentar deflagrar o projeto esttico subjacente potica de religao da autora, analisaremos trs elementos composicionais presentes em sua obra: metalinguagem, metfora e ritmo.
A primeira forma de religao metafrica ocorre mediante a combinao de inveno e en-genho (VICO, 1999, p. 211). Esse peculiar engenho criativo, segundo o filsofo, tem origem na fantasia que, nada mais , do que a memria dilatada: memria enquanto relembra as coisas; fantasia enquanto altera e falseia; engenho, enquanto aplaina, acomoda e ordena (Idem, p. 367).
Nos versos do poema Para o Z, Adlia Prado (1991, p. 99) revela: o que a memria ama fica eterno, ou seja, a memria dilatada torna-se imperecvel quando traduzida em palavra potica. Muitos de seus poemas so estruturados a partir de um pensamento metafrico que revela experincias guardadas na memria em expanso no poema, ao mesmo tempo em que oculta outras, realizando uma apreenso parcial da realidade.
Num pensamento metafrico assim estruturado, o significado constri-se tambm no intervalo entre o dito e o no-dito, espao de revelao. Afinal, o movimento da memria que se dilata, exige um tempo/espao de acomodao para, depois, traduzir-se em forma de palavra. Muitas vezes, os poemas de Adlia versam justamente sobre esse tempo/espao de acomodao entre a memria de uma experincia e sua reinveno potica.
No se trata, portanto, do uso da metfora como mero recurso de linguagem que substitui um termo por outro, mas da estruturao do enunciado potico a partir de um modo de pensar metafri-co. Isso se torna possvel porque seus poemas funcionam como um campo associativo, ou seja, espao que permite deslizamentos e substituies (...), trata-se de preencher uma lacuna autntica, dar livre curso s emoes ou a uma necessidade de expressividade, fornecendo a matria primeira da inovao (RICOEUR, 2000, p. 182-5). o que podemos verificar no poema Atvica:
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Atvica Minha me me dava o peito e eu escutava o ouvido colado fonte dos seus suspiros: meu Deus, meu Jesus, misericrdia. Comia leite e culpa de estar alegre quando fico. Se ficasse na roa ia ser carpideira, puxadeira de tero, cantadeira, o que na vida beleza sem esfuziamentos, as tristezas maravilhosas. Mas eu vim pra cidade fazer versos to tristes que do gosto, meu Jesus misericrdia. Por prazer da tristeza eu vivo alegre. (PRADO, 1991, p. 45)
A palavra atvica relativa a atavismo: reapario em um descendente de caracteres de um ascendente remoto e que permaneceram latentes por vrias geraes. Esse significado literal ex-plorado metaforicamente no texto: o canto que toma forma nos suspiros da me, no choro das car-pideiras, na ladainha das puxadeiras de tero e nas cantadeiras, reaparece na filha, artes da palavra. O elemento remoto e latente a poeticidade presente em ambas as tarefas sob a mesma forma triste (beleza sem esfuziamentos / tristezas maravilhosas) e retomada nos versos da filha que parte para a cidade grande, levando o primeiro alimento e a primeira herana - o leite materno e a culpa de estar alegre, cantando versos.
Note-se que, no poema, o leite alimento que se come e no que se bebe. Precisa ser mastiga-do, digerido e transformado, tal como o trabalho do poeta diante de suas memrias, travestidas em palavras. Recordaes afetivas que, reelaboradas, revelam e ocultam aspectos de uma realidade para fundar outra.
O poema se faz canto, desde o ouvido colado fonte dos suspiros maternos, at o roar da carpideira, da puxadeira e da cantadeira, numa rima interna que remete sonoridade dos refres e das ladainhas. Nesse verso, h tanto uma afinidade sonora, quanto semntica, verdadeira sntese da funo metafrica na poesia adeliana: presentificar a singularidade das coisas, reapresentando poeticamente algumas de suas caractersticas. A memria dilatada, portanto, caracteriza a cons-truo do pensamento analgico em Atvica, pois o canto presente na memria das experincias primordiais do ser humano reinventa-se em nova expresso - os versos tristes da filha. A partir da, j no o mesmo canto. O ouvido colado fonte interior emana, em versos, a transcendncia da experincia primeira, desdobrada em apreenso potica.
O segundo elemento que compe a potica de religao a metalinguagem: instrumento de indicao e revelao, sacralizao e dessacralizao, movimento descendente e ascendente, uma vez que, apontando para a essncia da palavra, dirige o olhar do leitor para a grandeza do que deseja apreender, num movimento ascendente de sacralizao da linguagem. Paralelamente, ao desnudar o modo como toca essa essncia, revela a gnese criadora, num movimento descendente de dessacralizao da linguagem.
O poema Explicao de poesia sem ningum pedir, aponta, desde o ttulo, para essa dessacralizao da linguagem, aspecto que ser progressivamente confrontado at a revelao maior (sacralizadora) presente no ltimo verso.
Explicao de poesia sem ningum pedir Um trem-de-ferro uma coisa mecnica, Mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, Atravessou minha vida, Virou s sentimento. (PRADO, 1991, p. 48)
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Embora o ttulo do poema anuncie uma explicao de poesia, o que seus versos trazem
justamente a impossibilidade de explic-la. Como um trem-de-ferro que, apesar de forte, veloz e mecnico, atravessa paisagens suaves e tempos fugidios, a poesia tambm possui valores como consistncia, rapidez e exatido, mas, com leveza e visibilidade (CALVINO, 1994) que atravessa a vida e vira puro sentimento. Consistncia, rapidez e exatido presentes na metfora trem-de-ferro=poesia, dialogam diretamente entre si e promovem a condensao, responsvel pela intensidade da poesia.
A intensidade potica, da mesma forma, tambm se constri na consistncia e exatido do discurso, seja semntico, sonoro ou visual. No entanto, esses conceitos no esto relacionados a uma viso exclusivamente racional da realidade, mas aos reflexos do trabalho do poeta em expressar tambm suas sensaes, sentimentos e percepes de modo esteticamente eficiente. Em cada verso do poema uma imagem salta aos olhos do leitor, compondo em movimento, a paisagem desejada com a leveza e a visibilidade.
So a leveza e a visibilidade da paisagem que explicam a poesia e permitem traduzi-la em puro sentimento. Assim, tem-se primeiro o trem-de-ferro, a coisa mecnica consistente que, maquinando suas engrenagens, d incio viagem. como se ouvssemos o som crescente e progressivamente rarefeito do trem assim que ele inicia seu percurso. Desse verso em diante, o poema adquire maior velocidade e expressa, na enumerao temporal, a visualizao do trem percorrendo a noite, a madrugada, o dia.
O valor da visibilidade, segundo Calvino (1994, p. 99), a parte visual da fantasia que precede ou acompanha a imaginao verbal, podendo partir tanto da palavra para a imagem visiva, quanto dessa para a expresso verbal. Ela est presente tambm em uma das propriedades fundamentais do sacramento da eucaristia: No a matria do po, mas a palavra pronunciada sobre ele que beneficia a quem o come (...) A palavra se junta ao elemento (material) e advm o sacramento, como se fosse uma palavra que se visibilizasse (SESBO, 2005, p. 34). Portanto, a fora da palavra pronunciada pelo sacerdote na consagrao do po eucarstico liga-se tanto massa fecunda, ingrediente fundamental do po, quanto f dos fiis que participam da celebrao e comungam o Corpo de Cristo em palavra e espcie. Do mesmo modo, a expresso s sentimento, assim, isolada no ltimo verso, destaca-se e fortifica-se, ligando-se fortaleza da mquina de ferro e consistncia visual e semntica do discurso potico.
Valry (1991) j afirmava que um poema uma mquina de produzir o estado potico atravs das palavras e que o efeito dessa mquina incerto, pois nada garantido em matria de ao sobre nossos espritos (p. 217). A imagem de uma mquina parte dessacralizadora e descendente do poema e explicita o fazer humano do poeta ao extrair do ambiente externo e cotidiano seus principais recursos para alcanar a paisagem potica sacralizadora que extrai da vida o sentimento ascendente.
Por fim, analisaremos o ritmo ligado aos conceitos de imanncia e transcendncia que, assim como os de ascendncia e descendncia, tambm so complementares. A transcendncia est na imanncia, assim como a ascendncia na descendncia. No universo religioso isso se efetiva, como vimos, na presena misteriosa de Cristo na histria humana, mesmo aps sua ascenso, mediante o Esprito, sobretudo na celebrao dos sacramentos, e, no universo potico, concretiza-se na interseco dos nveis sonoro e semntico e na configurao de ritmos peculiares, como veremos em Poema Esquisito:
Poema esquisito Di-me a cabea aos trinta e nove anos. No hbito. rarissimamente que ela di. Ningum tem culpa. Meu pai, minha me descansaram seus fardos, no existe mais o modo
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
de eles terem seus olhos sobre mim. Me, me, pai, meu pai. Onde esto escondidos? dentro de mim que eles esto. No fiz mausolu pra eles, pus os dois no cho. Nasceu l, porque quis, um p de saudade roxa, que abunda nos cemitrios. Quem plantou foi o vento, a gua da chuva. Quem vai matar o sol. Passou finados no fui l, aniversrio tambm no. Pra que, se pra chorar qualquer lugar me cabe? de tanto lembr-los que eu no vou. pai me Dentro de mim eles respondem tenazes e duros, porque o zelo do esprito sem meiguices: i fia. (PRADO, 1991, p. 21)
O movimento descendente inicia seu percurso j no ttulo que anuncia a esquisitice do po-
ema. Segue-se a dor rara e sem culpa que introduz os primeiros versos e se alastra por toda a pri-meira parte do poema at traduzir-se em saudade roxa abundante e explodir em choro contido, expresso nos vocativos: Me, me, pai, meu pai. um choro soluado, em fechado, pon-tual e insistente, um n na garganta porque de dentro que parte no s a voz, mas tambm os sentimentos, as lembranas e a prpria presena: dentro de mim que eles esto; dentro de mim eles respondem. O canto guardado em cantos recnditos tem vibrao diferente daquele canto que ocupa todos os cmodos, em expanso, pronto pra sair, tpico do louvor. Esse outro um canto si-lencioso, rouco e grave que quer florescer com o vento e com a gua da chuva, mas logo sufocado pelo calor do sol. O que sufoca o excesso de calor, o sentimento queimando os olhos, a garganta, a cabea: de tanto lembr-los que eu no vou.
A opo de no visitar o cemitrio em dia de finados ou aniversrio, bem como de no cons-truir mausolus, optando pelo enterrar ao invs do erigir, outra traduo do movimento descen-dente que predomina no poema. Apesar da estaticidade, o clamor persiste, o chamado se prolonga, se intensifica, cresce e impele: pai / me. A resposta finalmente vem, tenaz e du-ra, zelosa, mas sem meiguices. i fia a saudao-resposta. A splica atendida e o cha-mado desesperador encontra a presena apaziguadora. A integrao dos nveis sonoro e semntico acontece aqui de modo esquisito como j anunciava o ttulo do poema. A dor e a saudade geram um ritmo de clamor ascendente, em busca de dilogo com a ausncia presente dentro e a resposta, ao invs de provocar exultao, j que efetiva o dilogo desejado, zelosa, cautelosa, vem do Esp-rito, e por isso desce at o mais profundo do ser para reestabelecer a ligao interrompida com a morte.
A esquisitice est justamente na ruptura da idia clssica de que a religao se estabelece unicamente mediante um transcender, num movimento contnuo para o alto. Notamos este movimento no poema: o transcender acontece num movimento contnuo para o alto e de repente para baixo e para dentro, at encontrar a ressonncia interior que promove a religao:
Falar a partir da ausncia quer dizer: suspender todo o dizer-sobre, isto , no possuir, no ter nada que eu possa dizer-sobre para deixar a ausncia mesma falar, entregar-se fala da ausncia. (...) Pura abertura de espera. Espera que a total disposio, a transparncia lmpida de entrega, a tenso silenciosa de alerta, o estar-ali recolhido para o que der e vier: a ausculta do evento. A ausculta interioridade. (...) Interioridade que no nem dentro nem fora, mas que o envolvimento pleno para a abertura (HARADA, 1991, p. 98-100).
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Nessa citao, encontramos algo precioso para a compreenso dos poemas-splica de Adlia
Prado: um conceito de interioridade que no sinnimo de intimista com vis predominantemente psicolgico, mas de abertura para a ausculta do evento. Auscultar o que faz o religioso ao entre-gar-se a Deus em orao, estabelecendo um dilogo por ressonncia, j que a orao no se resume a um instrumento de expresso para algum, mas , antes, um mdium, um tornar-se permevel e ressonante presena envolvente (Idem, p. 91-6). preciso auscultar o ritmo do Poema Esqui-sito para que este ressoe significao, pois justamente a capacidade de ausculta do eu lrico que realiza a religao desejada.
Concluso Ao longo dessa reflexo, buscamos apontar o transbordamento e arrebatamento prpios das
experincias sagrada e ertica materializadas no intervalo entre o dito e o no-dito da construo potica. A sensao indizvel de prazer e gozo, de xtase espiritual e carnal pde ser apreendida de forma plena pela poesia em procedimentos composicinais como a metalinguagem, a metfora e o ritmo tanto na potica de Adlia Prado, quanto na de Hilda Hilst.
Assim, os sacramentos de iniciao crist (batismo e eucaristia) aproximam-se da ritual da cpula e da seduo (serpent-penser) e juntos constituem elementos fundantes do fazer potico que unifica ambas as experincias: ser potico = ser religioso = ser ertico). A poesia, impossibilitada de apreender a coisa nomeada (seja recorrendo metalinguagem, metfora, ao canto ou ao silncio, ao nome ou ao movimento) apreende apenas fragmentos aos quais tenta dotar de unidade perseguindo o desejo de cpula/comunho entre palavra e coisa. No caso da religio, a celebrao dos sacramentos (ao litrgica) que ritualiza o desejo de religao com Deus, tambm numa tentativa de comunho; no erotismo, a cpula que ritualiza o desejo de unio com o Outro, atravs do movimento serpenteante das idias que fundem palavras e significados tornando palpvel os sentidos.
Referncias Bibliogrficas ANDRADE, Carlos D. De animais, santo e gente. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 09.10.75. BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inesttica. So Paulo: Estao Liberdade, 2002. BARTHES, Roland. O prazer do texto. 5. ed. So Paulo: Perspectiva, 1999. BATAILLE, Georges. O erotismo. So Paulo: Arx, 2004. BORGES, A. C. Sobre o xtase. Ide, 2005, n. 45, 24-34. CALVINO, talo. Seis propostas para o prximo milnio. So Paulo: Companhia das Letras, 1994. CAMPOS, Augusto de. Verso, Reverso, Controverso. So Paulo: Perspectiva, 1988. ______. Paul Valry: a serpente e o pensar. So Paulo: Brasiliense, 1984. ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. So Paulo: Martins Fontes, 1996. HARADA, Hermgenes; BOFF. Leonardo; SPINDELDREIER, Ademar. A Orao no mundo se-cular: desafio e chance. Petrpolis: Vozes, 1972. MORA, Jos Ferrater. Diccionario de Filosofia. Madri: Alianza Editorial, 1981. MORAES, Eliane Robert. O corpo impossvel. So Paulo: Iluminuras, 2002. PAZ, Octavio. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. RICOUER, Paul. O processo metafrico como cognio, imaginao e sentimento. In: SACKS, Sheldon (org.). Da Metfora. So Paulo: Educ/ Campinas: Pontes, 1992, pp. 145-60. SESBO, Bernard (dir.). Os sinais da Salvao. So Paulo: Loyola, 2005. VALRY, Paul. Variedades. So Paulo: Iluminuras, 1991. VICO, Giambattista. Princpios de uma Cincia Nova. Rio de Janeiro: Editora Record, 1999. WELLEK, Ren; WARREN, Austin. Teoria da literatura e metodologia dos estudos literrios. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
-
XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008 USP So Paulo, Brasil
Autor(es) 1 Geruza Zelnys de ALMEIDA (Profa. Ms.) Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC/SP) Departamento de Literatura e Crtica Literria E-mail: [email protected] 2 Cristiane Fernandes LEITE (PUC/SP) Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC/SP) Departamento de Literatura e Crtica Literria E-mail: [email protected]