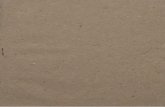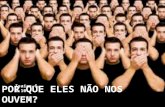escritos sobre os índios - static.fnac-static.com · ... ajoelhados, ouvem atentamente o pregador....
Transcript of escritos sobre os índios - static.fnac-static.com · ... ajoelhados, ouvem atentamente o pregador....
e s c r i t o s s ob r e o s í n dio s
direçãojosé eduardo franco • pedro calafate
coordenação e introduçãoricardo ventura
anotaçãoricardo ventura
versão e anotação dos textos latinosricardo ventura
josé carlos lopes de miranda
I N T R O D U Ç Ã O
Numa das mais divulgadas representações gráficas de António Vieira – uma versão de uma gravura de Carlo Grandi, da autoria de Charles Legrand e datada de 1839 –, encontramos o ilustre padre pre-gando de pé entre dois índios, de sotaina bem composta, grande cruci-fixo ao peito, barba branca e cãs e olhar fixo num horizonte distante. Condizendo com a expressão sisuda e convicta do padre, o indicador direito aponta para o céu. Os índios, ajoelhados, ouvem atentamente o pregador. À sua direita, um índio com um toucado de penas (provavel-mente o principal1 de uma aldeia), de braços cruzados, fixa o rosto do padre; a sua aljava está deposta, na parte inferior da gravura. À esquerda, um índio sem toucado oferece o seu ombro direito a Vieira, que nele apoia a sua mão esquerda2. A cena passa-se numa pequena clareira do sertão, entre vegetação densa, que não deixa ver o céu, e onde não se vislumbra qualquer traço de civilização. Eis a legenda:
“O P.e ANTÓNIO VIEIRAN. 1608 †1697
Os Brasis, largando as armas, se curvavão a seus pés, reverenciavam a imagem de Christo crucificado e na sua
lingua indigena ouvião a voz do Evangelhocom atenção”.
A gravura original de Grandi, datada de 1742 e publicada na Vida do Apostolico Padre Antonio Vieyra de André de Barros, em 17463, apresenta
1 Ou chefe.2 Numa gravura também atribuível a Carlo Grandi (1739?), José de Anchieta encontra-se rodeado
de feras amansadas, a sua mão esquerda posa sobre a cabeça de uma delas, a direita ligeiramente levantada e aberta.
3 Com a legenda “Celeberrimus P. Antonius Vieyra Soc. Jesu Lusit. Ulissipon. 1742”.
10 padre antónio vieira
Gravura de Charles Legrand (1839). Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa. (e-278-p).
11
Gravura de Carlo Grandi (1742). Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa. (H.G. 1357 V.)
introdução
12 padre antónio vieira
várias diferenças em relação à versão oitocentista. Uma das mais evi-dentes é a paisagem de fundo, bastante mais aberta e variada. Em segundo plano, vemos um rio, em que flutuam três canoas, em direções diferentes, tripuladas por índios. Ao fundo encontram-se dunas, depois o mar e dois navios que navegam na linha do horizonte, e há ainda espaço para céu e nuvens. Também significativo é o facto de o índio à direita de Vieira ter a aljava à tiracolo, enquanto o índio à esquerda segura uma lança. Este último parece também virar os olhos para céu e não para Vieira. De resto, quase todos os elementos que compõem a figura do padre na gravura oitocentista já estavam presentes na versão original de Grandi.
Mesmo que estas diferenças dependam de meras variações cir-cunstanciais sobre um tema sobejamente glosado, como tem sido o da pregação de Vieira entre os índios, elas ilustram, minimamente, a condensação de elementos que determinariam para a posteridade o olhar sobre a figura do missionário jesuíta: o pregador mergulhado nos confins da selva americana, que, íntegro e convicto, fomentava a devoção dos indígenas pacificados. Mas o que nos parece exemplar é que a figura de Vieira, qual monólito, permaneça praticamente inalte-rada, ao passo que os índios e a paisagem circundante se alteram: que os “brasis”, figuras anónimas, habitantes de uma vasta e indefinida área geográfica, selva cerrada ou rio, dunas e mar, carreguem as armas ou as deponham, olhem para o pregador ou para o céu, naveguem os rios ou estejam ocultos pela densa vegetação.
Poder-se-ia, assim, dizer que os “brasis”, mais ou menos como a pai-sagem de fundo, na sua relativa indeterminação e no seu anonimato, desempenham um papel simbólico, tendencialmente passivo: gravitam em torno do eixo central, que é Vieira, e mudam de acordo com a cir-cunstância e o espaço geográfico em que ele atuava.
No contexto de gravuras evocativas, a centralidade do pregador é um recurso tão evidente quanto eficaz, em boa parte tributário das narrativas de missionação (cartas, crónicas, martiriológios) diligentemente pro-movidas e cultivadas pela Companhia de Jesus. Constituindo a matéria principal destas narrativas, a ação do missionário, ao mesmo tempo que evidencia as suas virtudes heroicas, é criadora de um novo cosmos, uma ordem harmónica que emerge do caos, da barbárie e da incivilidade, protagonizada amiúde por anónimos, cujo enquadramento cultural é constantemente invalidado ou reduzido a um estatuto instrumental.
Ora, se este modelo de narrativa da missão se impõe poderosa-mente sobre as narrativas da posteridade, Vieira coloca-nos dificuldades acrescidas, quando tentamos isentar-nos de uma versão dos factos
13
demasiado centralizada na sua figura. Uma delas, bastante óbvia, deriva da inegável importância que a sua obra e as suas ações granjearam ao longo de séculos, no quadro das letras e da historiografia, fazendo som-bra a muitos outros escritores e agentes históricos do seu tempo. Outra dificuldade é-nos colocada pela enorme capacidade que Vieira demonstra ter não só de escrever, mas também de representar e legitimar a sua escrita e a sua ação. Esta característica, cuja matriz se pode encontrar na prática discursiva jesuítica e nos géneros literários privilegiados pela Companhia e sua forma de os cultivar4, ganha, em Vieira, uma indepen-dência assinalável, em virtude da multiplicidade e abrangência da sua ação (diplomata, missionário, pregador, etc.) e das circunstâncias e luga-res de escrita (viagem, corte, cárcere, cela de colégio, etc.), da variedade dos interlocutores5 e até mesmo da originalidade de algumas das suas proposições (referimo-nos aqui, em particular, à obra profética). Mas, sobretudo, esta capacidade de autorrepresentação e legitimação assenta num discurso artificioso, que principalmente nos sermões, mas também em outros géneros de texto, consegue convocar, convincentemente, com aparente sobriedade e não rara contundência, elementos de diversas instâncias, mundanas e extramundanas, e reduzi-los a um mote que sintetiza a moral ou os intuitos práticos que motivaram o texto.
Se o discurso jesuíta da missionação, na Modernidade, é, já por si, um discurso que coloca a figura do missionário no eixo condutor dos acontecimentos, tantas vezes em detrimento dos seus interlocutores, o discurso de Vieira, de forma ainda mais patente que o monólito de Carlo Grandi, tritura indivíduos e paisagens à sua volta, absorve-as e devolve-as ao leitor com uma moldura temática, que é normalmente a de um período da sua vida ou a de uma das suas empresas.
Assim sendo, se Vieira exerce um controlo tão eficaz sobre as pai-sagens históricas em que figura; se, por exemplo, é rebuscado falar do século xvii português e brasileiro sem o referir, e não é fácil pensar os planos da nação recém-restaurada sem acompanhar os seus sonhos e esperanças, poderá perguntar o leitor: para quê tentarmos isentar-nos dessa centralidade? Essas cautelas farão sequer algum sentido num volume da edição da sua Obra Completa?
Afastemo-nos um pouco do gigante e contemplemos a sua estatura, comparando-a com os elementos que o rodeiam. Para mais, num volume
4 Para uma tipologia da documentação missionária, ver Ricardo Ventura, Conversão e conversabilidade. Discursos da missão e do gentio na documentação do Padroado português do Oriente (séculos xvi e xvii) [texto policopiado], dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011.
5 A propósito dos interlocutores da epistolografia de Vieira, ver t. i, vol. i, Obra Completa Padre António Vieira, dir. José Eduardo Franco e Pedro Calafate, s.l., Círculo de Leitores, 2013, p. 62.
introdução
14 padre antónio vieira
temático, que reúne textos sobre os índios, semelhantes cautelas ganham especial premência.
Não sendo omnipresente, o tema do índio é absolutamente central na obra do Padre António Vieira. Ele surpreende-nos nos sermões, em exemplos e comparações ilustrativos ou em poderosas invetivas contra a cobiça, constitui um tópico central dos seus escritos proféticos e é verificável na sua epistolografia, em diferentes períodos.
O presente volume, inserido no tomo temático Varia, não deve, pois, ser visto como uma antologia dos textos de Vieira sobre o índio, projeto que ocuparia alguns grossos volumes, mas sim como uma reunião de textos sobre os índios que, pelas suas características tipológicas, com-põem uma secção específica.
Assim, nas páginas que se seguem, o leitor encontrará textos redigi-dos em diferentes circunstâncias e com diferentes intuitos (pareceres, instruções, relações, entre outros géneros), que têm em comum, para além do tema dos índios, o seu carácter quase estritamente pragmático. Por isso, estes textos podem ser vistos como “Textos instrumentais sobre o índio”6, retomando a designação dada por José Carlos Sebe Bom Meihy a um volume em que reuniu alguns deles. Pela sua mani-festa importância, no quadro das edições de Vieira, é também digno de referência o incontornável volume Obras várias (iii): em defesa dos índios7, da autoria de António Sérgio e Hernâni Cidade, ainda que o título e os comentários que acompanham a edição condicionem, na nossa visão em demasia, a interpretação dos textos.
Beneficiando do conhecimento alcançado nestas e noutras edições de obras de Vieira, mas também da pesquisa e esforço exegético de numerosos estudiosos ao longo das últimas décadas8, o presente volume
6 José Carlos Sebe Bom Meihy, Textos instrumentais sobre os índios, São Paulo, Loyola, 1992. 7 Padre António Vieira, Obras Escolhidas, Obras várias (iii): em defesa dos índios, pref. e anot. António Sérgio
e Hernâni Cidade, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1951.8 Entre as obras clássicas relativas à ação missionária de Vieira, ver: João Lúcio de Azevedo, História
de António Vieira, 3.ª ed., vol. i, Lisboa, Clássica Editora, 1992; Idem, Os jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a colonização, Lisboa, Livraria Editora Tavares Cardoso & Irmão, 1901; Mathias C. Kiemen, The indian policy of Portugal in the Amazon region, 1614-1693, Washington, Catholic University of America Press, 1954; Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, vols. iii e iv, Lisboa/Rio de Janeiro, Portugália/Civilização Brasileira, 1943; António José Saraiva, História e utopia. Estudos sobre Vieira, Lisboa, Ministério de Educação/Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992. São ainda de referir alguns estudos recentes como: Rafael Chambouleyron, “Em torno das missões jesuíticas na Ama-zônia (século xvii)”, Lusitania Sacra, Lisboa, 2.ª série, n.º 15, 2003, pp. 163-209; Idem, “‘Duplicados clamores’. Queixas e rebeliões na Amazônia colonial (século xvii)”, Projeto História, São Paulo, n.º 33, 2006, pp. 159-178; Rafael Chambouleyron et alii, “O ‘estrondo das armas’: violência, guerra e trabalho indígena na Amazônia (séculos xvii e xviii)”, Projeto História, São Paulo, n.º 39, 2009, pp. 115-137; Alírio Cardoso, Maranhão na monarquia hispânica: intercâmbios, guerras e navegação nas fronteiras das Índias de Castela (1580-1655) [texto policopiado], tese de doutoramento apresentada à Universidade de Salamanca, 2012; Joely Aparecida Ungaretti Pinheiro, Conflitos entre jesuítas e colonos na América portuguesa: 1640-1700 [texto policopiado], tese de doutoramento apresentada à Universidade Estadual de Campinas, 2007. Aproveitamos o ensejo para dirigir os nossos agradecimentos a José Couceiro da Costa, pelas muito úteis indicações a respeito da documentação disponível no AHU.
15
acrescenta também relevantes peças inéditas ao corpus antecedente-mente editado.
As versões apresentadas resultam de um processo de seleção dos testemunhos (impressos ou manuscritos) que se mostraram mais fide-dignos9, e a sua transcrição e adaptação textual segue os critérios de edição estipulados para este tomo da Obra Completa. Os testemunhos seguidos são indicados em nota de rodapé associada ao título de cada texto.
Acompanhando a preocupação expressa por Hernâni Cidade no prefácio ao seu volume10, e tendo em conta o carácter eminentemente polémico destes escritos, pensámos que seria proveitoso criar uma secção de apêndices, onde se incluem textos a que Vieira respondeu, respostas a textos seus, ou outros documentos úteis para compreender as circunstâncias históricas em causa. Para que o leitor possa mais facilmente estabelecer nexos, segue a lista de todos os textos incluídos neste volume, os de Vieira e os de outros autores (a cinzento), divididos em seis núcleos e datados e ordenados cronologicamente:
(1652-1654)“Carta de el-Rei para o Padre António Vieira”, 21 de outubro de 1652;
(1654-1657)“Consulta original de gravíssimos varões, sobre a forma e casos em
que se devem cativar os índios das nossas conquistas”, 15 de abril de 1655;“Direções apontadas pelo Padre António Vieira a respeito da forma
que se deve ter no julgar da liberdade ou cativeiro dos índios do Mara-nhão”, 29 de setembro de 1655;
“Modo como se há de governar o gentio que há nas aldeias do Mara-nhão e Grão-Pará”, 1655;
“Parecer do Padre António Vieira sobre a conversão e governo dos índios e gentios, feito à instância do Doutor Pedro Fernandes Mon-teiro”, 1655;
9 Em geral, procurámos basear-nos em documentação manuscrita original ou cópias diretas da mes-ma, o que foi possível nos casos da documentação presente no Arquivo Histórico Ultramarino. Na ausência destas, tivemos em conta a antiguidade e o grau de proximidade em relação ao documento original. Por exemplo, em alguns casos, os Annaes de Berredo revelaram-se a fonte mais adequada. Privilegiámos ainda, no que respeita a textos de Vieira, as versões impressas de André de Barros sobre versões manuscritas incluídas em compilações setecentistas gémeas das Maquinações de Vieira.
10 “Alguns escritos de Vieira só poderiam adquirir claro sentido, quando, para além do conhecimento dos acontecimentos que os provocaram, fossem conhecidos os escritos a que respondiam. Por isso não nos furtámos ao trabalho de os resumir, para o que foi necessário exumá-los da sombra dos arquivos”, Hernâni Cidade, “Prefácio” in Padre António Vieira, Obras Escolhidas, Obras várias (iii): em defesa dos índios, op. cit., p. vi.
introdução
16 padre antónio vieira
“Papel da letra do Padre António Vieira, que mandou do Maranhão, sobre o cativeiro dos índios e missões”, finais de 1655;
“Informação do modo com que foram tomados e sentenciados por cativos os índios do ano de 1655”, 1655;
“Consulta da Junta das Missões sobre as leis passadas a favor da liberdade dos índios”, 19 de setembro de 1656;
“Carta a Dona Luísa de Gusmão”, inícios de 1657;
(1658-1660)“Visita do Padre António Vieira”, c. 1660;“Relação da Missão da serra de Ibiapaba”, 1660;
(1661-1662)“Representação da Câmara do Pará ao Padre António Vieira”, 15 de
janeiro de 1661;“Resposta que deu o Padre António Vieira ao Senado da Câmara
do Pará sobre o resgate dos índios do sertão”, 12 de fevereiro de 1661;“Resposta da Câmara do Pará”, 15 de fevereiro de 1661;“Petição dos índios do Maracanã”, abril de 1661;“Carta do Governador do Maranhão, Dom Pedro de Melo, ao Padre
António Vieira”, 23 de maio de 1661;“Representação que fez o Padre António Vieira ao Senado da Câmara
do Pará”, 21 de junho de 1661;“Resposta da Câmara do Pará”, 23 de junho de 1661;“Protesto que o Padre António Vieira fez à Câmara e mais nobreza
da cidade de Belém do Pará, para não serem expulsos daquela conquista os padres missionários da Companhia de Jesus”, 18 de agosto de 1661;
“Petição que fez o Padre António Vieira ao Governador Dom Pedro de Melo”, 1661;
“Capítulos apresentados pelo Procurador do povo do Maranhão, Jorge de Sampaio de Carvalho, contra a Companhia de Jesus”, 1661;
“Bilhete”, 25 de dezembro de 1661;“Resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia
o Procurador do Maranhão, Jorge de Sampaio”, 1662;“Carta do Marquês de Marialva ao Senado da Câmara do Pará”, 6 de
fevereiro de 1662;“Perdão ao povo do Maranhão, emitido pelo Governador Rui Vaz
de Sequeira”, 2 de junho de 1662;“Carta da Câmara do Pará a el-Rei”, 8 de julho de 1662;“Papel sobre os índios Principais, António Marapirão e Alexandre
de Sousa”, 1662;
17
“Parecer do Governador do Maranhão, Jorge de Sampaio de Carvalho, sobre António Marapirão e Alexandre de Sousa”, 24 de julho de 1662;
“Consulta do Conselho Ultramarino relativa a António Marapirão e Alexandre de Sousa”, 27 de julho de 1662.
(c. 1669?/1679)“Parecer ao Príncipe Regente sobre o aumento do Estado do Mara-
nhão e missões dos índios”, c. 1669 ou c. 1678;“Informação que por ordem do Conselho Ultramarino deu sobre as
coisas do Maranhão ao mesmo Conselho o Padre António Vieira”, 31 de julho de 1678;
(1694)“Voto do Padre António Vieira sobre as dúvidas dos moradores de
São Paulo acerca da administração dos índios”, 12 de julho de 1694.
Cada núcleo cronológico corresponde a uma fase distinta da inter-venção de Vieira no contexto sul-americano.
O primeiro núcleo (1652-1654) compreende a segunda viagem de Vieira para o Brasil, em 1652, até ao regresso a Portugal, em 1654. Nesta fase, Vieira tomou contacto com a realidade maranhense e, depois de ter procurado aplicar à questão da escravatura dos índios soluções que conciliassem os interesses de religiosos, moradores e índios, começou a projetar novos horizontes de intervenção e de participação da Com-panhia de Jesus na realidade política e social do Maranhão e do Pará.
O segundo núcleo (1654-1657) compreende a ida de Vieira a Lisboa, em 1654, para negociar uma nova lei respeitante à condição dos índios, e os cerca de três anos que se seguiram, em que o padre procurou garantir junto da corte e do Conselho Ultramarino, através de diligências várias, a vigência e a aplicação efetiva desta nova lei.
O terceiro núcleo (1658-1660) caracteriza-se por uma relativa estabi-lidade da situação política e administrativa dos Estados do Maranhão e do Pará e pelo empreendimento de várias missões jesuíticas no sertão. Nos textos que integram este volume, Vieira dá conta dos progressos alcançados no âmbito dessas missões e procura dar passos adiante, no sentido de legitimar e fazer aprovar junto da corte, decisivamente, um regime de administração jesuítica das aldeias de índios.
O quarto núcleo (1661-1662) trata o período das revoltas dos povos do Maranhão e do Pará contra os padres da Companhia. Como seria expectável, Vieira encontra-se no epicentro do sismo. Ele é o principal visado de petições que são apresentadas pelos moradores, principais de
introdução
18 padre antónio vieira
aldeias e procuradores dos povos do Pará e do Maranhão, e a elas pro-cura responder, com as armas que tinha ao seu dispor. Mas, em Lisboa, os ventos já não sopravam de feição e o padre já não beneficiava dos apoios de outrora. No culminar do processo, Vieira é expulso e regressa à metrópole.
O quinto núcleo (c. 1669?/1678) é composto por dois documentos provavelmente escritos em tempos diferentes, mas que têm em comum o facto de serem respostas a consultas pedidas pelo Conselho Ultramarino a respeito do Maranhão. À distância de alguns anos, e já não envolvido diretamente na situação social e política da região, Vieira reitera as suas posição relativas ao governo dos índios e empreende, com sucesso, novas diligências com vista à devolução aos jesuítas da administração das aldeias de índios do Maranhão e do Pará.
O último núcleo (1694) é constituído por um texto redigido por Vieira perto do final da sua vida. Nele, o padre estende a sua reflexão sobre os direitos dos índios à realidade de São Paulo, recuperando não só argumentos formulados havia mais de quarenta anos, mas também retirando sentenças aplicáveis a todo o território colonial, à maneira de testemunho conclusivo das suas posições. Todavia, as circunstâncias eram bem diferentes daquelas em que Vieira esgrimira argumentos contra o povo do Pará e do Maranhão. Neste momento, nem mesmo entre os irmãos da Companhia que assistiam à Capitania de São Paulo Vieira conseguia reunir apoio para os seus projetos.
Ainda que identifiquemos estes núcleos com fases da vida e da obra de Vieira, o facto de eles incluírem textos redigidos por outros agentes do espaço colonial permite-nos aproximarmo-nos, ainda que vagamente, do propósito inicialmente esboçado, de nos isentarmos de uma visão dos factos centrada na figura do pregador.
A historiografia mais recente11 tem assinalado vantagens diversas em olharmos os acontecimentos do Maranhão e do Pará, em meados do século xvii, não apenas a partir dos olhos de Vieira ou como momentos de uma contenda entre moradores e jesuítas, mas também como um processo em que intervieram outros agentes: governadores e funcioná-rios reais, procuradores, membros de ordens religiosas e, o que parece ainda mais óbvio, índios, com diferentes interesses e posições. A criação de um painel de documentos, em que as vozes de alguns destes agentes estão presentes, pode prestar um contributo válido para uma melhor compreensão dos factos.
11 A este respeito, cf., em particular, Rafael Chambouleyron, “Em torno das missões jesuíticas na Amazônia (século xvii)”, op. cit.; Alírio Cardoso, op. cit.; Joely Aparecida Ungaretti Pinheiro, op. cit.
19
Uma consequência eventual desta abordagem polifónica poderá ser o distanciamento em relação a leituras moralistas e anacrónicas dos acontecimentos, que tendem a hipostasiar em Vieira virtudes heroicas e humanitárias que pertencem à ideologia contemporânea. Não sendo intenção nossa desvalorizar o que muitos possam entender de intem-poral ou moralmente elevado no pensamento de Vieira, parece-nos interessante propor uma leitura que tenha em conta o contexto his-tórico, social e institucional dos escritos e, por conseguinte, o seu carácter muitas vezes estratégico. Isto poupar-nos-á ao espanto ou ao constrangimento, quando constatamos, por exemplo, que Vieira defen-deu durante décadas a vinda de escravos de Angola e da Guiné, para resolver o grave problema de mão de obra que afetou o Brasil colonial ao longo do século xvii12.
Ouvir as vozes que contrariavam Vieira não nos obriga, por outro lado, à reprodução, em sentido inverso, de juízos morais também ana-crónicos: vendo, por exemplo, em Vieira, um mero estratega, que lutava em prol de uma república jesuítica no sertão, ao mesmo tempo que nos comoveríamos com a difícil situação económica em que os moradores do Maranhão e do Pará se encontrariam.
Com esta abordagem polifónica sugerimos, por outro lado, a obser-vação das ações situadas de cada agente na defesa dos seus interes-ses, pessoais ou coletivos. Neste contexto, tornar-se-á mais óbvio, por exemplo, que Vieira não representava todos os padres da Companhia, ou que os Principais Guacaíba e Marapirão não eram, como veremos, uma sinédoque do “índio”.
Retomemos a gravura de Carlo Grandi. Mesmo que seja difícil, ou até mesmo despropositado, deslocar Vieira do eixo dos acontecimen-tos, mesmo que o índio pouco tenha escrito, ou que o leiamos sempre através de outras mãos, é possível, pelo menos, pensar em paisagens mais complexas e diversas, em que vários índios navegam em direções diferentes, ocupando diversas posições; em que há navios de comércio no horizonte e canoas em segundo plano; e em que há ligações diversas entre o mar e o sertão, entre as cidades e as aldeias.
As páginas que se seguem, em que contextualizaremos os escritos que compõem este volume, não pretendem favorecer, portanto, uma
12 Sobre Vieira e a escravatura do negro, ver: Alfredo Bosi, “Vieira ou a cruz da desigualdade” in Dialética da Colonização, 3.ª ed., São Paulo, Companhia das Letras, 1996, pp. 119-149; Ronaldo Vainfas, “Vieira e a escravidão africana”, in Actas do Congresso Internacional Terceiro Centenário da morte do Padre António Vieira, vol. ii, Braga, Universidade Católica Portuguesa / Província Portuguesa da Companhia de Jesus, 1997, pp. 823-832. Sobre as relações entre Companhia de Jesus e a escravatura, ver Carlos Alberto Zeron, Ligne de Foi: la Compagnie de Jésus et l’esclavage dans le processus de formation de la société coloniale en Amérique Portugaise (xvie-xviie siècles), Paris, Éditions Honoré Champion, 2008.
introdução
20 padre antónio vieira
inversão das lições mais conhecidas de uma história já muito contada, ou uma bisonha história do oprimido. Na verdade, as obras e os textos de Vieira conduzirão o roteiro. Fale-se, pois, sobre Vieira e também sobre quem estava à sua volta, considerando que o facto de ele se impor constantemente, altivo e convicto, no centro das gravuras é também – porque não admiti-lo? – um imenso privilégio nosso.
1 6 5 2 - 1 6 5 4
A razão da partida de António Vieira para o Brasil, em 1652, dei-xando para trás a corte de Lisboa, depois de alguns anos de trabalho diplomático na Europa, é um tópico muito discutido pelos seus bió-grafos. Com efeito, a ordem de acontecimentos que impeliu Vieira a uma mudança de espaço de ação tão radical é complexa, e não é fácil discernir até que ponto Vieira se limitou a obedecer a causas externas ou geriu eficazmente o seu destino, em função das condicionantes que lhe eram impostas.
Dois exegetas tão fiáveis como João Lúcio de Azevedo13 e António José Saraiva14 indicam que, na origem desta partida, está o facto de Vieira ter defendido, ao lado de D. João IV, a criação de uma nova pro-víncia da Companhia de Jesus no Alentejo, contra a vontade das chefias jesuítas. Este posicionamento de Vieira foi entendido como um ato de desobediência, e a sua expulsão da Companhia chegou a ser decidida, tanto em Lisboa como em Roma. Todavia, o envio do notável padre para o Maranhão constituía uma solução mais airosa, por não ferir demasiado a suscetibilidade do Rei. Para além disso, esta saída permitia à Companhia de Jesus afastar Vieira da corte portuguesa e, ao mesmo tempo, tirar partido da forte influência que o padre exercia junto de D. João IV, para resolver definitivamente a contenda existente com os franciscanos, relativa à jurisdição sobre as missões do Maranhão.
Mas Vieira raramente permite que o vejamos como um títere nas mãos do destino. Na verdade, o Maranhão não está, de todo, ausente dos escritos produzidos por Vieira na década que antecedeu a sua partida15. Sobretudo após a insurreição pernambucana e a saída dos holandeses do Maranhão, este território é, por diversas vezes, evocado nas cartas e pareceres emitidos por Vieira, no quadro dos seus planos políticos e
13 João Lúcio de Azevedo, Os jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a colonização, op. cit.14 António José Saraiva, op. cit.15 Alírio Cardoso, op. cit., p. 347 e ss.
21
militares para o império português após a Restauração16. Entre os aspe-tos que tornavam o Maranhão extremamente atrativo, Vieira realça a riqueza dos seus recursos e a sua posição geoestratégica, que permitiria uma nova rota de navegação este-oeste, que ligaria as regiões de São Tomé, Cabo Verde, Açores, Madeira e Maranhão, só possível com barcos de menor porte, tendo em conta as características do território mara-nhense, em alternativa a uma rota norte-sul, que ligaria Índia, Angola e Brasil. Para mais, perspetivando-se a continuação da guerra com Castela, o incremento da presença portuguesa no Maranhão, com vista ao controlo do eixo Maranhão-Andes, permitiria ameaçar o comércio espanhol da prata do Peru e da Nova Espanha.
Em qualquer um dos cenários, que deveriam ser pensados em fun-ção das relações diplomáticas com os Países Baixos, França e Castela, o programa mínimo de estabelecimento de uma rota de comércio Lisboa--Maranhão implicava, aos olhos de Vieira, a contribuição financeira dos cristãos-novos.
Para a criação da Companhia Geral de Comércio do Brasil, em 1649, muito terão contribuído também as diligências de Vieira, no sentido de serem criadas condições políticas para a participação dos cristãos-novos no destino da nação restaurada. O facto de a Inquisição ter visto com maus olhos estas diligências é também amiúde averbado às causas da partida de Vieira.
Por fim, o interesse de Vieira pelo Maranhão é também explicável por motivos de carácter religioso. Um deles é a importância que o ideal de missão teria para Vieira enquanto jesuíta. À partida, a missionação pertence ao carisma da Companhia de Jesus e é um dos seus principais desígnios. Em vários escritos, Vieira demonstra perfeita adesão a esse ideário. Seria malicioso desconfiar do entusiasmo missionário, e pro-priamente jesuítico, que Vieira imprime em algumas linhas, como aquela que lemos numa famosa carta escrita ao Príncipe D. Teodósio, a 23 de janeiro de 1653, relatando os princípios desta nova fase da sua vida: “Eu agora começo a ser religioso; e espero na bondade divina que, conforme os particularíssimos auxílios com que me vejo assistido da Sua poderosa e liberal mão, acertarei a o ser, e verdadeiro padre da Companhia, que no conceito de Vossa Alteza ainda é mais; e sem dúvida assim se expe-rimenta nestas partes; onde, posto que haja outras Religiões, só a esta parece que Deus deu graça de aproveitar aos próximos”17.
16 Cf. t. iv, vol. i, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2014.17 Carta 62, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 75-76.
introdução
22 padre antónio vieira
Apesar de Vieira apresentar dramaticamente esta nova fase como uma palinódia, o contexto de missionação não lhe era completamente estranho. Mesmo que tivesse passado a maior parte dos seus primeiros anos de religioso no convento ou em espaço citadino, Vieira informara--se convenientemente sobre o contexto de missionação do índio, pelo menos, para redigir a carta ânua do colégio da Baía, de 30 de setembro de 162618. É também sabido que os relatos de missionação pertenciam às leituras quotidianas dos padres inacianos e constituíam um importante elemento identitário e de afirmação e representação da Companhia perante o exterior.
As perspetivas de uma frutuosa Missão no Maranhão, onde vários milhares de almas gentias esperariam a sua conversão, são também constantemente referidas nos pareceres e cartas que Vieira escreveu ao longo da década de 40, associadas aos planos políticos e económicos para o desenvolvimento do reino. Assim, mesmo que seja arriscado supor que Vieira já depositasse na missão do Maranhão, durante este período, as esperanças proféticas sobre as quais viria a escrever mais tarde, é verificável, pelo menos, que o ilustre pregador concebia mis-sionação e política imperial como assuntos estreitamente próximos ou interdependentes. A aliança entre as “duas espadas”, a temporal e a espiritual, é, aliás, um tema recorrente na documentação relacionada com o império colonial português, ao qual Vieira viria a dar contributos relativamente inovadores19.
Já consciente de que estava em aberto a hipótese de embarcar para o Maranhão, em 1651, Vieira esteve em missão na zona de Torres Vedras, na companhia do padre João de Sotomayor.
A partida para o Maranhão, no dia 22 de novembro de 1652, foi turbulenta e marcada pela incerteza. Vieira relata que, pouco antes de as velas largarem, foi informado de que D. João IV recuara no intuito de o enviar para a América, o que, contudo, não se confirmou20. Entre-tanto, Vieira já tinha procurado munir-se convenientemente, como testemunha a carta ao Padre Provincial do Brasil, de 14 de novembro de 165221, em que apresenta as suas elevadas expectativas e solicita todo o apoio possível para a nova missão. Pouco tempo antes, já tinha obtido do Rei uma importante carta, com a data de 21 de outubro de 1652, o
18 Publicada no t. i, vol. i, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 109-154.19 “[...] ao reclamar o direito de usar a ‘espada’, símbolo do poder temporal, Vieira estabelece um
complexo jogo entre planos hierárquicos, no qual o que ‘parece’ poder temporal mais não é do que uma consequência da eminência do poder espiritual, não saindo por isso da sua esfera conceptual”. Cf. Pedro Calafate, “A Escolástica peninsular no pensamento antropológico de António Vieira” in José Eduardo Franco (coord.), Entre a selva e a corte, Lisboa, Esfera do Caos, 2009, p. 134.
20 Carta 59, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 67-69.21 Carta 58, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 56-66.
23
único texto deste período que publicamos neste volume, em apêndice. Nela, o Rei atribuiu a Vieira o poder de administrar as missões do Maranhão. Porém, no que respeita aos poderes efetivos de que Vieira era investido, os termos da carta são suficientemente vagos para lhe permitirem futuras extrapolações diversas. Textualmente, o Rei orde-nou “aos governadores, capitães-mores, ministros de justiça e guerra, capitães das fortalezas, câmara e povo” que providenciassem, inviola-velmente, “toda a ajuda e favor” que Vieira pedisse, “assim de índios, canoas, pessoas práticas na terra e línguas, como do mais que vos for necessário”. Assim, ainda que ficasse claro que a Companhia de Jesus detinha, através de Vieira, o poder sobre as missões do Maranhão, os termos em que esse poder se exerceria ainda eram indefinidos.
A situação social e política do Estado Maranhão e Pará em meados do século xvii, por altura da chegada de Vieira, não era, de todo, pacífica.
Abrangendo uma vastíssima região, que se estendia pelas duas mar-gens do Amazonas, até ao território do Peru, o Estado do Maranhão era, nesta altura, habitado por cerca de oitocentos colonos ou “moradores” portugueses e um número desconhecido de indígenas. Desde os inícios do povoamento, por volta de 1615, antes mesmo da criação oficial do Estado, em 1621, a produção era garantida por mão de obra indígena, livre ou escrava. Ao longo de décadas, as “entradas” no sertão, para captura ou “resgate” de índios, ainda que não tivessem um carácter propriamente institucional, eram praticadas e reconhecidas pelos colonos como meio principal de garantir mão de obra22. Todavia, os engenhos de açúcar e as plantações de tabaco, produções principais do Estado, exigiam cada vez mais mão de obra, ao mesmo tempo que aniquilavam a já existente. Para além disso, a violência das entradas, em que o exército acompanhava os moradores incumbidos de capturar novos escravos, implicara a fuga e a deslocação de aldeias indígenas para o interior.
À escassez de mão de obra, que começa a ser referida na documen-tação durante os anos 40, não tardariam também a somar-se outros problemas, nomeadamente, os reparos de governadores, funcionários régios, religiosos e missionários, que reconheciam diversas questões de consciência na prática dos resgates e na forma como os indígenas eram mantidos em cativeiro; e as queixas de “principais” ou chefes de “aldeias de paz”, aliados dos portugueses, que, em virtude dos serviços prestados, foram adquirindo representatividade junto da Coroa23. Queixavam-se os
22 Sobre o funcionamento das “entradas”, ver Rafael Chambouleyron et alii, “Pelos sertões ‘estão todas as utilidades’. Trocas e conflitos no sertão amazônico (século xvii)”, Revista de História, n.º 162, 1.º semestre de 2010, pp. 13-49.
23 A respeito de três cartas de principais a D. João IV, uma de um principal do Pará e duas de António Marapirão (uma delas subscrita também por outros doze principais), figura de quem voltaremos a
introdução
24 padre antónio vieira
principais, nos inícios e nos finais da década de 40, de tiranias exercidas pelas tropas portuguesas sobre indígenas de “aldeias de paz”, o que indica que, por esta altura, não só haveria acordos que virtualmente isentariam as aldeias aliadas das entradas dos portugueses, como também que a popu-lação do Estado do Maranhão e do Pará, impelida pela necessidade ou pela cobiça, tomara o “caminho da violência”24 e quebrara estes acordos.
Provavelmente procurando dar resposta às queixas e questões de consciência que lhe eram apresentadas, D. João IV emitiu, a 29 de maio de 1649, uma lei que proibia, em absoluto, a escravatura de índios. Esta lei seria, depois, integrada no regimento dos capitães do Maranhão e do Pará, Baltasar de Sousa Pereira e Inácio do Rego Barreto, de 1652, do qual, infelizmente, não conhecemos qualquer testemunho.
Ao chegar ao Maranhão, a 16 de janeiro de 1653, após uma auspiciosa escala em Cabo Verde, durante a qual se dedicara à evangelização das populações, António Vieira estava a par dos problemas relativos à mão de obra e à escravatura dos índios e trazia consigo planos conciliadores.
Na carta-relatório escrita “Ao Padre Provincial do Brasil”, a 22 de maio de 1653, Vieira relata que, ao terceiro dia após a sua chegada, resolveu estabelecer no colégio de São Luís lições de “língua da terra” e de casos de consciência. O primeiro caso de consciência discutido foi: “que obrigação tínhamos os confessores acerca do pecado como habitual em que viviam todos estes com os cativeiros dos índios, que pela maior parte se presumem injustos?” Eis as três resoluções tomadas pelos padres: “Primeira, que nas conversações com os seculares, nem por uma nem outra parte falássemos em matéria de índios. Segunda, que nem ainda na confissão se falasse em tal matéria, salvo quando a disposição do penitente fosse tal, que se julgasse seria com fruto, prin-cipalmente na morte. Terceira, que se na confissão por escrúpulo, ou fora dela por conselho, algum nos perguntasse a obrigação que tinha, lha declarássemos com toda a sinceridade e liberdade”25. Tal como assi-nala António José Saraiva26, este relato é representativo da estratégia conciliadora que Vieira procurou levar a cabo durante os primeiros meses da missão no Maranhão.
Na mesma carta, Vieira relata outro acontecimento que demonstra que essa estratégia era também imposta pelas condicionantes políticas
falar mais adiante, ver Rafael Chambouleyron et alii, “O ‘estrondo das armas’: violência, guerra e trabalho indígena na Amazônia (séculos xvii e xviii)”, op. cit., pp. 115-137.
24 Ibidem, p. 120 e ss.25 Carta 67, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 91-114.26 António José Saraiva, op. cit., p. 19; este autor (op. cit., p. 29) evoca ainda a carta de 14 de novembro
de 1652 (Carta 58, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 56-66), em que Vieira declara ter recusado dois cargos de procurador e repartidor dos índios, pelos ódios que esses cargos granjeavam.
25
do Estado do Maranhão. Quinze dias após a sua chegada, foi publicado o regimento de 1652, em que se confirmava a lei da liberdade dos índios, o que suscitou motins em várias partes da região. Rapidamente se semeou entre as hostes revoltadas a palavra de que os jesuítas, recém-chegados, estavam na origem do novo regimento e pretendiam assumir jurisdição sobre os índios escravos e livres. Em consequência destes aconteci-mentos, o P.e João de Sotomayor, enviado por Vieira a Belém do Pará, viu-se obrigado a declarar, perante a Câmara da cidade, que os padres inacianos não pretendiam intrometer-se na administração dos índios livres, nem nas questões relativas aos escravos27.
Outro testemunho desta postura inicial é o “Sermão da primeira dominga da Quaresma”, ou Sermão das Tentações, pregado em São Luís do Maranhão a 2 de março de 165328. Nele, Vieira apela às consciências dos moradores para que se emendem da prática dos cativeiros injustos, em ordem à salvação das suas almas. Deixa também subentendido que é aos “maiores”, nomeadamente aos capitães, que é imputável a respon-sabilidade pelos maus tratos dados aos índios.
O mesmo argumento está presente na carta dirigida a D. João IV, a 20 de maio de 165329, em conjunto com um dos mais representativos relatos compostos por Vieira acerca da realidade política e social do Maranhão e seus problemas. A questão das entradas no sertão e dos cativeiros dos índios ocupa, logicamente, um lugar prioritário entre as preocupações de Vieira. Aqui, o pregador leva mais além o seu intuito conciliador e apresenta ao Rei propostas para a sua resolução. O con-tributo mais original destas propostas consiste na institucionalização das entradas, tendo em vista a sua regulação (quem podia decretá-las e executá-las) e a regulação dos resgates (quem poderia ser tomado em cativeiro e sob que condições).
Esta e outras cartas de Vieira foram tidas em consideração na Junta do Conselho Ultramarino que redigiu a provisão emitida a 17 de outu-bro de 165330, relativa aos cativeiros dos índios, que corrigia a lei de 1652. Nela se deliberou que os oficiais, o desembargador das câmaras
27 Declaração de 26 de janeiro de 1653, transcrita em Bernardo Pereira de Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, em que se dá noticia do seu descobrimento, e tudo o mais que nelle tem succedido desde o anno em que foy descuberto até o de 1718, Lisboa, Officina de Francisco Luiz Ameno, 1749, p. 422. De acordo com a versão dos factos apresentada por Vieira na “Resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia o Procurador do Maranhão, Jorge de Sampaio”, o regimento de 1652 terá sido pedido por Mateus de Sousa Coelho, Vigário-Geral do Maranhão, no quadro de uma disputa com o Governador-Geral do Maranhão, Inácio Rego Barreto, gerada pelo confisco de uma plantação de tabaco, e com o intuito de obter mão de obra supostamente livre para as suas plantações.
28 Publicado no t. ii, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2014, pp. 226-244.29 Carta 65, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 82-88.30 “Provisão sobre a liberdade e captiveiro do gentio do Maranhão” in Anais da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro, vol. 66, 1.ª parte, 1948, pp. 19-21.
introdução
26 padre antónio vieira
e, na falta deste, os ouvidores, deveriam fiscalizar a legitimidade dos cativeiros realizados segundo critérios predeterminados. De acordo com estes critérios, só seriam escravos legítimos aqueles que fossem aprisionados em guerra justa; os escravos de corda (cativos de guerra que se encontravam à mercê de índios antropófagos); os que tivessem ajudado inimigos do reino de Portugal ou fossem condenados por pira-taria, roubo ou outros crimes; os que faltassem às obrigações fiscais ou de defesa do Estado; e os que praticassem antropofagia sendo súbditos do Rei. Por fim, acrescentava-se ainda que as entradas deveriam incluir dois religiosos, eleitos por uma comissão, que deveriam fiscalizar a legitimidade dos cativeiros, de acordo com o que a lei estipulava.
Como veremos mais adiante, Vieira sentia-se responsável pelo que de melhor continha esta lei. Aos seus olhos, ela representava um avanço não só no sentido da moralização das práticas das entradas, dos resgates e da escravatura, mas também de uma maior capacidade de intervenção dos padres da Companhia no meio social e político maranhense.
1 6 5 4 - 1 6 5 7
Apesar da nova lei, de espírito conciliador, o ano de 1654 foi bastante atribulado no Maranhão.
Numa importante carta endereçada a D. João IV, de 4 de abril de 165431, Vieira mostra que começou, desde cedo, a ter razões para duvidar das intenções dos capitães.
Valendo-se da carta de D. João IV, que o investia de poderes espe-ciais, Vieira tentou acertar com o Capitão-Mor do Maranhão, Baltasar de Sousa, em março de 1653, uma missão aos Ubirajaras, que começaria em junho do mesmo ano. Todavia, o capitão-mor foi protelando os preparativos da dita missão. Na data combinada, Baltasar de Sousa desculpou-se, apresentando o parecer de uma junta, de acordo com o qual não seria favorável entrar no sertão naquela época do ano. O padre explica os atos do capitão-mor com o facto de a saída se destinar à evangelização dos Ubirajaras e não à captura de escravos.
No ano seguinte, encontrando-se já em vigor a provisão de 1653, Vieira acatou o convite do Capitão-mor do Pará, Inácio do Rego, para levar a cabo uma missão às aldeias do rio Tocantins. Mas esta empresa não correu como o padre pretendia. Em pleno sertão, Inácio do Rego revelou os seus verdadeiros planos: a par da missão, pretendia levar a
31 Carta 72, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 161-167.
27
cabo a captura de dez ou doze mil índios. Vieira acusa-o ainda de o ter tentado subornar com “todos os [índios] que quisesse”. Nada podendo fazer contra os intentos do capitão-mor, relata que procurou garantir que todos os índios “descidos” do sertão tivessem acesso a mantimentos, mas Inácio do Rego respondeu que “melhor era morrerem cá que no sertão, porque morriam batizados”32.
No final da carta, o pregador acrescenta uma petição a D. João IV, em que manifesta a necessidade de os padres estarem livres da jurisdição temporal dos governadores, depois de sugerir que os poderes de que fora investido na carta de 1652 não eram suficientes.
Pela primeira vez, Vieira ousava verbalizar o seu plano de entregar aos padres a administração das aldeias dos índios. A entrada de Tocan-tins fornecera-lhe provas inequívocas da iniquidade dos capitães. Os novos planos fervilhavam na mente de Vieira. Dois dias depois de ter escrito esta carta, Vieira volta a dirigir-se ao Rei33, apresentando uma longa proposta em dezanove pontos, concretizando mais detalhada-mente a proposta anterior. Nela estão esboçados os termos que dariam origem à lei de 9 de abril de 1655.
Resolutamente, o pregador desistira de uma reforma da moral dos colonos maranhenses, em prol de meios mais hábeis. A 16 de junho de 1654, embarca para Lisboa, com o objetivo de negociar, junto da corte, uma nova lei relativa à liberdade dos índios. Três dias antes, pregou, em São Luís do Maranhão, o famosíssimo e virulento “Sermão de Santo António”34 aos peixes.
A 2 abril de 1655, encontramo-lo em Lisboa, a assinar, com “gravís-simos varões”, o parecer de uma junta do Conselho Ultramarino, que se reunira com o intuito de discutir e melhorar os critérios que legi-timavam o cativeiro de acordo com a provisão de 1653. O documento, “Consulta original de gravíssimos varões, sobre a forma e casos em que se devem cativar os índios das nossas conquistas”, que se publica em apêndice, pode ser visto como o projeto do Conselho Ultramarino para a lei de 9 de abril de 165535, e nele se leem, em versão desenvolvida, os seus pontos principais.
Com efeito, para além de reduzir consideravelmente os casos em que se poderia executar cativeiros legítimos, eliminando os casos de crime e não cumprimento das obrigações de súbdito, a nova lei aumentava a
32 Ibidem.33 Carta 74, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 172-178.34 Publicado no t. ii, vol. x, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2014, pp. 137-165.35 “Ley que se passou pelo Secretario de Estado em 9 de Abril de 655 sobre os Indios do Maranhão”
in Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 66, 1.ª parte, 1948, pp. 25-28.
introdução
28 padre antónio vieira
participação de religiosos na fiscalização de cada caso. Para além disso, ao primeiro critério, em que se determinava que só seriam legítimos os cativeiros feitos em guerra ofensiva justa, foi acrescentada uma cláusula que salienta que este tipo de guerra só poderia ser declarada pelo Rei, retirando aos governadores esse poder. A este respeito, é significativo que em todo o texto não sejam referidas as “entradas” no sertão, que poderiam, assim, entender-se como atos de guerra ofensiva, quando nenhuma agressão vinda da parte dos indígenas as justificasse. Outro ponto relevante diz respeito a efeitos retroativos da lei sobre todos os cativeiros realizados após o ano de 1652, em que tinha sido aprovada a lei anterior.
Vieira obtivera uma primeira vitória. Todavia, a experiência demons-trava que, para a concretização dos seus planos, não bastaria munir-se de uma lei que restringisse as entradas no sertão e as condições que legitimavam os cativeiros: era também necessário garantir condições efetivas para a aplicação da nova lei.
O regimento36 do novo Capitão-mor, André Vidal de Negreiros, o herói da libertação de Pernambuco, cumpre quase plenamente esse desígnio. Nele, a administração das aldeias é entregue aos padres da Companhia de Jesus. Aos padres caberia também a direção das entradas no sertão, proibindo-se qualquer contacto entre tropas e índios. Apenas em aspetos residuais, mas que se provarão determinantes, o regimento difere das propostas de Vieira: por exemplo, não é concedida a criação da “Companhia da Propagação da Fé”37, um corpo militar estritamente direcionado para o auxílio dos padres, composto por homens pios; e o tempo de trabalho dos índios que aceitassem trabalhar livremente para os colonos é de seis meses e não quatro, como Vieira propusera, apesar de se conceder que o seu salário ficaria guardado num cofre, cujas chaves ficariam na posse do padre e do principal da aldeia.
Vieira partiu de Lisboa a 16 de abril de 1655 e aportou em São Luís do Maranhão no dia 16 de maio de 1655, cinco dias após André Vidal de Negreiros, que tomara um navio da rota da Índia. A documentação é bastante silenciosa sobre os meses que se seguiram.
Por uma carta a D. João IV38, de 6 de dezembro de 1655, sabemos que o pregador ocupou o seu ano com diligências no sentido de colocar em prática os capítulos do regimento e da lei de 1655 que entregavam ao padres a autoridade sobre os exames dos cativeiros.
36 Publicado em Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do Pará, vol. i, 1902, p. 25 e ss.37 Proposta apresentada no ponto 14.º da carta 74 (t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit.,
2013, pp. 172-178).38 Carta 80, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 200-205.
29
Em setembro, Vieira visitou o Pará, na companhia do governador e terá sido nesse contexto que redigiu as “Direções apontadas pelo Padre António Vieira a respeito da forma que se deve ter no julgar da liberdade ou cativeiro dos índios do Maranhão”. Neste texto de instrução aos irmãos da casa do Pará, Vieira enumera as fases do exame dos cativeiros e especifica exceções ou casos que pudessem levantar dúvidas. Na parte final do texto, enumera os procedimentos que validariam o exame e que permitiriam evitar o sonegamento de informações ou a coação dos índios resgatados. É ainda interessante a tentativa, feita perto do final do texto, de aplicação sintética de princípios de definição da guerra justa à realidade política nativa: “No caso que, feitas as diligências, não constar claramente da justiça da guerra, in dubio39 se deve presumir que foi a guerra injusta, porque assim costumam as mais vezes ser as dos bárbaros, e assim o julgam comummente os doutores, falando de nações muito mais racionais e políticas que as deste estado, como são as da costa de África [...]”.
As primeiras intervenções de António Vieira e de André Vidal de Negreiros não foram, por certo, vistas com bons olhos pelos colonos. Através da “Consulta da Junta das Missões sobre as leis passadas a favor da liberdade dos índios”, de 19 de setembro de 1656, publicada em apêndice, percebe-se que os procuradores do povo do Maranhão e do Pará tinham feito várias diligências junto do Conselho Ultramarino e da Coroa desde a publicação da lei e do regimento de 1655. Uma das questões submetidas à consulta referia-se ao capítulo da lei de 1655 que ordenava o exame de todos os cativeiros posteriores a 1652. Mas, para além disso, o texto demonstra também que o Doutor Pedro Fernandes Monteiro, membro do Conselho Ultramarino, fora anteriormente incumbido de pedir pareceres a Vieira sobre outras queixas apresentadas pelos povos do Maranhão e do Pará, relativas à lei de 1655.
Tal como anunciámos, este núcleo de textos (1654-1658) é, na sua maior parte, constituído por textos em que Vieira procurou garantir, junto do Rei e do Conselho Ultramarino, a aplicação da lei de 1655, contra as queixas dos procuradores do povo do Maranhão e do Pará.
O “Parecer do Padre António Vieira sobre a conversão e governo dos índios e gentios, feito à instância do Doutor Pedro Fernandes Mon-teiro”, de data incerta, terá sido o primeiro texto escrito neste contexto. Pensamos, com Hernâni Cidade40, pela assinalável coincidência entre os números e temas dos capítulos que os constituem, que este parecer
39 “em caso de dúvida”.40 Hernâni Cidade, op. cit., p. 1 e ss.
introdução
30 padre antónio vieira
responde ao “Modo como se há de governar o gentio que há nas aldeias do Maranhão e Grão-Pará”. Neste texto, que por alguns autores foi, a nosso ver erroneamente, atribuído a Vieira41, os procuradores do Maranhão e do Pará procuraram apresentar uma proposta moderada, que recuperava, em boa parte, o espírito da lei de 1653.
Menos moderado, Vieira começa, no seu “Parecer”, por desvalorizar as propostas apresentadas pelos procuradores, considerando que elas nada acrescentavam de positivo ao previsto na lei de 1655. Nessa medida, recomenda que nada se altere de substancial na dita lei e apoia a sua argumentação na experiência e notícias adquiridas no terreno.
A respeito da governação temporal, Vieira não só recusa categori-camente a utilidade e a possibilidade da presença de administradores ou capitães nas aldeias, mas também afirma que ela colocaria em risco a liberdade dos índios. Na sua ótica, que converge grosso modo com a lei e o regimento de 1655, as aldeias deveriam ser administradas pelos seus principais, exercendo os párocos apenas a autoridade prevista no regimento. Num estilo corrosivo e sintético, Vieira demole ponto por ponto os capítulos apresentados pelos seus oponentes, mostrando que, na sua opinião, o espírito de consentaneidade que a eles preside era dissimulado, e que o seu objetivo verdadeiro era contornar, tanto quanto possível, as normas de 1655.
A respeito da governação espiritual, o padre inaciano é ainda mais contundente, afirmando a independência dos párocos no que respeitava às matérias pastorais e sacramentais: “mal crescerá a cristandade daquela nova igreja do grande rio das Amazonas, se for necessário fazer tais advertências a seus párocos”; e reiterando a inaplicabilidade do plano de presença de capitães em cada aldeia e a superioridade moral dos páro-cos face aos capitães: “havendo capitão português nas aldeias, ou havia de fazer o que quisesse, ou havia de jogar às pancadas com o pároco”.
Relativamente ao modo como se haviam de fazer as “entradas” no sertão, Vieira limita-se a reiterar o que estava estipulado no regimento. Reservou, com efeito, considerações mais incisivas para o ponto res-peitante ao “modo como se hão de repartir e governar”. Os termos são explícitos: “Este capítulo é peçonhento, e seu intento: porque que coisa é repartir os índios por casa dos portugueses nesta forma, que
41 Por exemplo, José Carlos Sebe Bom Meihy inclui este texto no seu volume de Textos instrumentais sobre o índio (op. cit.); cf. ainda Karl Heinz Arenz e Francisco da Silva, “‘Modo como se há de governar o gentio que há nas aldeias de Maranhão e Pará’: um regimento proposto pelo padre Antônio Vieira (ca. 1653)”, Revista brasileira de História & Ciências Sociais, vol. 4, n.º 8, 2012, pp. 478-488, onde este texto é apresentado como um regimento proposto por Vieira numa fase inicial da sua intervenção no Maranhão e Pará.
31
fazê-los cativos in re42, ainda que o nome seja de ‘livres’?” O padre abordava aqui o ponto-chave de toda a contenda com os moradores do Maranhão e do Pará, para o qual alertou por diversas vezes a Coroa: a diferença entre norma e prática no governo dos índios. Em causa esta-ria, resumidamente, a sua liberdade e conservação: “os índios que na Baía, Pernambuco e outras capitanias se repartiram pelos portugueses, no princípio de suas fundações, não chegaram a netos; e se chegaram, que <é> deles?” Como fez noutros textos, Vieira evoca ainda o exemplo das capitanias do sul, São Paulo e São Vicente, para recordar os efeitos nefastos da chamada “repartição” dos índios pelos moradores: “estas propostas capeadamente querem cativar os índios, já que o não podem fazer pelos meios violentos e claros, como até agora; porque tanto vale serem entregues nesta forma e com este assento aos moradores os índios com nome de forros, que de escravos”.
Na última parte do seu “Parecer”, Vieira responde aos argumentos de um segundo papel que teria sido remetido à Coroa pelos procura-dores do Maranhão e do Pará, intitulado “Breve notícia do gentio do Brasil, e de quanto importa sua redução, e por quem e como se hão de governar”. Desconhecemos qualquer testemunho deste texto. Através da resposta de Vieira, percebemos que as suas proposições não difeririam muito do anterior, supondo a distribuição dos índios pelos moradores, a quem caberia a administração dos índios, sob supervisão ou “visita” dos párocos. Logo à partida, Vieira rejeita esta proposta, por contrariar em boa parte o que se encontrava previsto na lei e no regimento de 55, para além de lhe parecer, de acordo com a sua experiência, que estas medidas implicariam, na prática, a não aplicação da lei e a total sujeição dos índios ao poder e à vontade dos moradores.
Em seguida, o padre rebate ainda outro argumento – o de que os índios colaborariam mais e melhor na defesa da terra se estivessem sob a alçada dos moradores, afirmando que a violência não só provocaria a resistência, a revolta e a fuga dos índios, como também a sua destruição. Essa, sim, conduziria à ruína da República.
Por fim, Vieira encerra o parecer com uma apologia da presença e jurisdição missionária no Brasil, que “nos sertões do rio das Amazonas acharão os frutos que vão procurar a partes tão longínquas como a Índia e Japão, com menos dilações e mais certeza”, para a qual seriam necessários mais homens e recursos.
Outro texto de data incerta, incluído neste volume, o “Papel da letra do Padre António Vieira, que mandou do Maranhão, sobre o cativeiro
42 “de facto”, “efetivamente”.
introdução
32 padre antónio vieira
dos índios e missões”, foi, segundo o copista, um dos papéis lidos na consulta de setembro de 1656, em conjunto com as queixas dos mora-dores. Aqui, o padre enuncia por pontos várias medidas que considera necessárias para a aplicação pacífica do regimento de 1655. Começa por enumerar medidas que não dizem respeito, especificamente, à questão dos resgates, mas que estariam relacionadas com a situação económica do Estado do Maranhão, mostrando plena consciência de que a má situação económica do Estado e dos seus moradores constituía um dos principais entraves à aplicação do regimento. A importação de escravos provenientes de Angola ou da Guiné surge à cabeça do rol de medidas.
Em seguida, o pregador alerta para a necessidade de se suspenderem os estancos das drogas, ferro e outros géneros e de se estabelecer um regime de livre comércio, por forma a incentivar a produção e devolver aos moradores a possibilidade de comerciar. Estes pontos revestem-se de particular interesse, porque neles Vieira reconhece que a criação da Companhia Geral do Comércio do Brasil, criada em 1649 sob sua influência, não sortira os efeitos desejados, e que a política de estanco fizera disparar os preços dos produtos, desincentivando a produção e sufocando os colonos produtores. Ao contrário do que acontece em escritos polémicos posteriores, em que alegava que o principal motivo das queixas dos colonos era a sua ganância infinita, neste papel o padre procura ainda manter uma postura conciliatória. É ainda curioso que Vieira nos dê este indício de que a política de estanco já então era reconhecida como uma ameaça às condições de vida dos moradores, cerca de três décadas antes das revoltas de Beckman.
Os restantes pontos deste papel contêm condições genéricas para a aplicação da lei de 1655, nomeadamente, a não escravização de índios, a não existência de administradores nas aldeias de índios e a vigilância dos missionários relativamente ao cumprimento da lei.
A “Informação do modo com que foram tomados e sentenciados por cativos os índios do ano de 1655”, também de data incerta, é uma longa exposição em que Vieira denuncia as resistências e atropelos perpetrados pelo povo do Maranhão e Pará não só à lei de 1655, que contestariam, mas também à lei de 1653, que procuravam recuperar. Vieira procurava, assim, de forma conclusiva, demonstrar à Coroa e à Junta Ultramarina que, no que dizia respeito à questão dos resgates dos índios, os moradores nunca teriam demonstrado vontade de cumprir as leis emitidas.
No capítulo 1.º, Vieira reconstitui de forma breve o historial de leis portuguesas sobre o índio, para apresentar, em seguida, a sua versão dos factos ocorridos, desde a aprovação da lei de 1652, até ao ano de 1655. Neste ponto, é interessante verificar que Vieira apresenta
33
as leis de 1653 e de 1655 como leis não discordantes ou que mantêm um certa continuidade não só entre si, mas também em relação ao corpo de leis anterior. A revogação da lei de 1653 deveu-se assim, nas palavras de Vieira, ao facto de ser “presente a Sua Majestade que na dita lei estavam insertas algumas coisas contra a mente e tenção de Sua Majestade”.
Para que não restassem dúvidas sobre a justiça da lei de 1655, Vieira relata o processo de elaboração da lei, no âmbito de uma junta de teó-logos, e enumera as suas linhas de força.
Nos três capítulos seguintes, Vieira apresenta contundentes relatos de como as leis sobre os resgates eram contornadas ou violadas pelos moradores. As denúncias são diretas e os responsáveis são nomeados. O documento seria bastante escandaloso ao tempo em que foi redigido: à desobediência dos capitães e moradores, juntava-se a conivência de religiosos. Os moradores não só teriam violado a lei de 1653, empreen-dendo resgates sem que fossem cumpridas minimamente as normas estipuladas, como também, já após a emissão da lei de 1655, procuraram contornar os exames dos religiosos, sonegando informações e coagindo os resgatados a prestar declarações falsas sobre a sua condição.
O quarto e último capítulo inclui ainda a análise de quatro casos em que Vieira considera ter havido desvios à lei no processo de resgate e no exame dos cativeiros, no ano de 1655. Tanto aqui como nas adver-tências finais, relativas a estes casos, Vieira recorre a fontes escolásticas de Teologia e de Cânones para fundamentar as suas posições: Molina, Tancredo, Marcardo, Baldo e Menóquio. Com destreza, Vieira desen-volve uma casuística muito peculiar, com robusto suporte experiencial e teórico, à qual não seria estranha a prática quotidiana que, como vimos, era desenvolvida nos colégios.
A encerrar este núcleo de textos, encontra-se uma carta-petição diri-gida a D.ª Luísa de Gusmão. Esta carta é testemunho de novas diligências levadas a cabo junto da Regente, após a morte de D. João IV, a 6 de novem-bro de 1656, para tentar garantir a vigência da lei de 1655. Com efeito, os oponentes de Vieira ter-se-ão também movimentado neste período de transição política. O manuscrito em que nos baseámos contém à margem a indicação de que esta petição foi tida em consideração, em conjunto com outros documentos, numa consulta de 12 de novembro de 1657, pedida por D.ª Luísa de Gusmão, a respeito dos cativeiros dos índios, depois de lhe ter sido apresentado, pelo procurador dos moradores, um papel com várias queixas contra os padres da Companhia.
À semelhança do sucedido na consulta de 1656, cujo parecer se publica em anexo, a junta reunida em 1657 ter-se-á mostrado também favorável
introdução
34 padre antónio vieira
à posição de Vieira. A provisão de 10 de abril de 165843, que confirma, na íntegra, as disposições de 1655, é representativa de uma fase de relativa estabilidade das missões da Companhia de Jesus no Maranhão e no Pará.
1 6 5 8 - 1 6 6 0
As missões jesuíticas terão começado a florescer, com maior ou menor sucesso, logo após a publicação da lei e do regimento de 1655.
Segundo Vieira44, entre esta data e 1660, várias missões foram leva-das a cabo:
1655: a missão dos Tupinambás, Guarajus e Catingas, pelo rio Toca-tins, empreendida pelos Padres Francisco Veloso e Tomé Ribeiro; a mis-são dos Nheengaíbas, no Pará, pelos Padres João de Sotomayor e Salva-dor do Vale, em contexto de guerra; e a missão dos Tapajós, Juruúnas e Nunhuúnas, ao longo do rio Amazonas, pelo Padre Manuel de Sousa;
1656: a missão dos Pacajás e Pirapés, pelo Padre João de Sotomayor, no rio Amazonas; a missão à serra de Ibiapaba, pelos Padres Manuel Nunes e Tomé Ribeiro, por mar, e António Ribeiro e Pedro Pedrosa, por terra;
1657: a missão dos Aroaquis, pelos Padres Francisco Veloso e Manuel Pires, no rio Negro;
1658: missão dos Aroaquis, pelos Padres Manuel Pires e Francisco Gonçalves, no rio Negro;
1659: missão dos Carajás, Potiguaras, Tupinambás e Catingas, pelos Padres Tomé Ribeiro, Ricardo Careu e Manuel Nunes, no rio Tocantins; a missão dos Nheengaíbas, Mamaianás, Aruãs e Tucujús, pelos Padres António Vieira e Tomé Ribeiro;
1660: missão à serra de Ibiapaba, pelo Padre António Vieira; missão dos Aroaquis, pelo Padre Manuel de Sousa, ao longo do rio Amazonas.
A área geográfica compreendida pelas missões é vastíssima, sobretudo se tivermos em conta os reduzidos meios humanos de que dispunha a Companhia. Como é óbvio, elas desenvolveram-se em diferentes con-textos e os resultados práticos não foram igualmente satisfatórios em todas elas.
43 “Provisão sobre a liberdade do gentio do Maranhão” in Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 66, 1.ª parte, 1948, p. 29.
44 Vieira apresenta uma lista resumida das missões empreendidas na sua “Resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia o Procurador do Maranhão, Jorge de Sampaio”, capítulo xxv.
35
Nos textos deste período, como nos que posteriormente dedicou ao mesmo assunto, Vieira procurou demonstrar que as missões, para além de serem formas moralmente mais corretas de “descer” índios do sertão, desempenhavam um papel pacificador e civilizador crucial. Em suma, para além de constituir um desígnio inquestionável do império português, a evangelização era, aos olhos de Vieira, a única solução viável para os problemas económicos e militares do Estado do Maranhão e do Pará.
Por outro lado, é também significativo que Vieira tenha começado durante este período, em alguns momentos em pleno sertão, a redigir as suas Esperanças de Portugal45, a primeira grande concretização do seu pensamento profético. O regime de administração jesuítica das aldeias de índios, à semelhança do que era verificável no Paraguai, seria, pois, no pensar de Vieira, mais do que uma grande vitória pessoal ou da ordem religiosa a que pertencia sobre os seus opositores, um passo relevante para a concretização de um plano providencial universal. Com efeito, a associação de esperanças escatológicas e proféticas à evangelização do Novo Mundo não é, de todo, específica do pensamento de Vieira ou das missões do Maranhão e do Pará46, mas constitui, com os contornos que o pregador lhe conferia, um importante elemento identitário e motivador, com notórias implicações políticas47.
Os textos incluídos neste volume não permitem, contudo, dema-siadas extrapolações sobre a importância das esperanças proféticas nas missões do Maranhão e do Pará.
A “Visita do Padre António Vieira” consiste num regulamento deta-lhado do desempenho dos padres missionários, tanto no que diz res-peito à sua conduta enquanto religiosos da Companhia, como no que interessava à administração das aldeias de índios.
Este regulamento apresenta diferenças significativas no que respeita às formas de relação entres colonos e indígenas que seriam vigentes na região. O intuito de não ferir demasiado as suscetibilidades dos indíge-nas, sem que se abdique, ao mesmo tempo, de enormes transformações do seu quotidiano e do seu imaginário, é também bastante claro. Por exemplo, no ponto 18 da segunda parte, relativo à “cura espiritual das almas”, prescreve-se: “Para que os índios fiquem capazes de assistir aos ofícios divinos e de fazer conceito da doutrina como convém, se lhes
45 Texto publicado no t. iii, vol. iv, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2014, pp. 63-106.46 Ver, por exemplo, a este respeito, John Leddy Phelan, The millennial kingdom of the franciscans in the
New World: a study of the writings of Gerónimo de Mendieta (1525-1604), 2.ª ed., Berkeley, University of California Press, 1970.
47 Cf. “Capítulo iv. Se o Reino de Cristo é espiritual ou temporal” in A Chave dos Profetas, t. iii, vol. v, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 206-236.
introdução
36 padre antónio vieira
consentirão os seus bailes nas vésperas dos domingos e dias santos até às dez horas ou onze da noite somente; e para que acabem os tais bailes, se tocará o sino e se recolherão às suas casas”.
Significativamente, os preceitos relativos às relações laborais e comerciais visam a aplicação das deliberações de 1655 e são enriqueci-dos com diversos exemplos práticos.
Mesmo que tenhamos em conta que muito do que nele lemos per-tence ao domínio do ideal, este texto fornece-nos um importante retrato do funcionamento sob administração jesuítica das aldeias índias da periferia das cidades do Estado do Maranhão e do Pará.
Na “Visita”, como noutros textos do presente volume, surpreendemos Vieira num registo estilístico e discursivo que não lhe é recorrente, salvo em algumas peças da sua epistolografia. Em períodos curtos, de uma clareza sem artifício e sem demonstrações explícitas da sua vasta erudição ou até mesmo da sua enorme cultura bíblica, encontramos Vieira lidando, pela palavra, com o domínio do quotidiano, ordenando mais do que sugerindo, informando mais do que deliciando.
A “Relação da Missão da serra de Ibiapaba” constitui, por motivos diversos, um caso peculiar no contexto da obra de Vieira. À partida, ela contém os elementos da missiva jesuítica48, nomeadamente, das cartas gerais ou das ânuas: o relato dos feitos de um conjunto de padres pertencentes a uma região circunscrita, que oscila entre a narrativa de aventura e a narrativa piedosa e com um forte carácter identitário e autorrepresentativo. Mas difere de uma carta geral ou de uma ânua, na medida em que se refere a diferentes épocas, não fornece dados sobre a situação concreta da Província ou da sua casa-mãe e não se apresenta como um documento interno da ordem. Nesse sentido, a “Relação” poderia ser vista como uma pequena crónica, com o forte carácter apologético de que as crónicas de missionação são habitual-mente investidas. Protagonizando um género misto, entre a missiva, a crónica e o livro de viagem, a “Relação” é bastante explícita no que respeita às suas intenções: informar sobre os avanços da missionação do Maranhão e do Pará após a vigência da lei e do regimento de 1655 e sublinhar as vantagens políticas e económicas que ela trazia ao Estado e ao Reino, procurando angariar apoio político e financeiro.
48 Alcir Pécora, “Epistolografia jesuítica no Brasil, Grão-Pará e Maranhão”, Revista de Estudos Amazônicos, vol. iii, n.º 1, 2008, pp. 39-46; Ricardo Ventura, “A epistolografia missionária: género e instrumento: da autorrepresentação ao discurso institucional”, op. cit., pp. 77-100; Zulmira Santos, “Discorso, po-tere e evangelizzazione: le cartas di Vieira fra 1651 e 1661” in António Vieira, Roma e o universalismo das monarquias portuguesa e espanhola, Pedro Cardim e Gaetano Sabatini (org.), Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2011, pp. 85-96.
37
Os primeiro capítulo é dedicado aos antecedentes da missão em curso. A evocação dos padres pioneiros, Francisco Pinto e Luís Figueira49, serve o propósito institucional, mas, por comparação, contribui também para exaltar os sucessos das missões mais recentes.
Seguidamente, Vieira introduz uma alusão aos tempos heroicos da tomada de Pernambuco, onde assinala, como fizera na Ânua de 1626 e em várias cartas e pareceres, a fidelidade dos indígenas cristianizados à Coroa portuguesa e a grande importância que eles poderão ter na defesa dos seus interesses na América.
Passa então de imediato à narração dos factos que seguiram a chegada de André Vidal de Negreiros e ao relato das missões no sertão.
É difícil fazer justiça às linhas que Vieira dedica ao relato da sua expe-riência como missionário e à descrição da paisagem natural e humana de Ibiapaba. Ao descrever as peripécias vividas pelos missionários, heróis que suplantam as dificuldades impostas pelo meio circundante, pelos seus inimigos e pelo demónio, Vieira demonstra grande domínio de técnicas de narrativa, adquiridas, possivelmente, através da leitura das narrativas de missionação, tão cultivadas pela Companhia.
A redução do gentio à fé católica e aos costumes portugueses é apre-sentada como o desenlace de quase todos os episódios e, por fim, como plano político do Estado do Maranhão e do Pará.
Não desempenhando o papel de protagonista, que é assumidamente atribuído aos missionários, o índio é todavia um elemento-chave de toda a narrativa. A sua resistência, ou até mesmo a sua indiferença, à conversão engrandecem os feitos missionários. É-lhe concedida a capa-cidade de desafiar continuamente o missionário a uma postura ainda mais heroica, com a sua “invencível ignorância”50, e de o surpreender com interrogações sobre verdades que ele consideraria evidentes e fun-damentais: “Exortava o padre a certo gentio velho que se batizasse, e ele respondeu que o faria para quando Deus incarnasse a segunda vez; e dando o fundamento do seu dito, acrescentou que assim como Deus incarnara uma vez em uma donzela branca para remir os brancos, assim havia de incarnar outra vez em uma donzela índia para remir os índios, e que então se batizaria. Consoante a esta profecia é outra, que também acharam os padres entre eles; porque dizem os seus letrados que Deus quer dar uma volta a este mundo, fazendo que o céu fique
49 A propósito das primeiras missões jesuíticas no Maranhão, ver: Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-1620), Paris/Lisboa, Centre Culturel Calouste Gulbenkian/CNCDP, 2000, pp. 43-75.
50 A este respeito, ver Introdução de Pedro Calafate (ponto 10: A questão do pecado filosófico nos povos americanos: fora da Igreja pode haver salvação), ao t. iii, vol. v, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 113-122.
introdução
38 padre antónio vieira
para baixo e a terra para cima, e assim os índios hão de dominar os brancos, assim como agora os brancos dominam os índios”.
Apresentado ora como bom selvagem, ora como pedra bruta que aguarda o escopo, o índio é, na mente de Vieira, um signo profético, promessa da possibilidade de edificar um mundo novo e de retirar bons frutos de um campo estéril. Como mostrou Álcir Pécora51, este retrato dirá talvez mais sobre Vieira, o império português e o homem moderno, suas esperanças, angústias e contradições, do que sobre o “índio” que lhes serve de espelho.
Com efeito, a escassez de textos escritos por mão de indígenas neste período não implica que estes não procurassem fazer valer os seus interesses, mas a documentação torna patente a situação extremamente desfavorável em que as populações das aldeias se encontrariam face ao poder bélico e à capacidade de autorrepresentação dos grupos inte-ressados na sua mão de obra. Ter em conta esta relação desigual é um bom ponto de partida para ler não só este, como também os restantes textos deste volume.
1 6 6 1 - 1 6 6 2
Este núcleo ilustra uma fase muito conturbada da vida de Vieira, em que a contenda com os moradores do Maranhão viria a atingir o seu ápice.
A “Representação da Câmara do Pará”, apresentada a 15 de janeiro de 1661, publicada em apêndice, pode ser vista como o primeiro tes-temunho de um processo que determinaria, perto do final do ano, a expulsão dos jesuítas do Estado do Maranhão e do Pará e o regresso de Vieira a Lisboa, a 8 de setembro de 1661.
Na palavra dos moradores, a escassez de escravos indígenas provocada pela lei de 1652 estagnara a produção, aumentara o preço não só dos escravos, mas também dos bens essenciais, para valores incomportáveis e conduzira os moradores a uma situação preocupante. Solicitavam, por isso, a Vieira, Visitador-Geral das missões do Estado, que permitisse a realização de uma entrada, para tentar “remediar” a miséria em que se encontravam.
51 Alcir Pécora, “O bom selvagem e o boçal: argumentos de Vieira em torno à imagem do ‘índio boçal’” in José Eduardo Franco (coord.), op. cit., pp. 49-60. Também sobre a descrição do “outro” como uma “egologia”, na literatura missionária, ver Mario Cesareo, Cruzados, mártires y beatos: emplazamientos del cuerpo colonial, Lafayette, Purdue University Press, 1995.
39
Através deste documento, constata-se, que, por esta altura, Vieira deteria e exerceria, efetivamente, poder de decisão sobre a realização das entradas e sobre a distribuição dos escravos. Na “Resposta que deu o Padre António Vieira ao Senado da Câmara do Pará sobre o resgate dos índios do sertão”52, de 12 de fevereiro de 1661, o padre alega que, nos últimos anos, teriam chegado à cidade, trazidos pelas missões, cerca de mil e oitocentos escravos e três mil índios forros (livres) e que os moradores terão recusado uma proposta de distribuição pro rata, pro-porcional ao número de moradores, pelo preço de menos de quatro mil réis. Sugere, por fim, aos moradores a participação numa missão que já estaria projetada, ao longo do rio Tocantins, junto dos Pirapés e dos Tupinambás, que se dizia que tinham então muitos escravos.
A “Resposta da Câmara do Pará”, publicada em apêndice, apresentada três dias mais tarde, demonstra que as intenções dos moradores iam num sentido bem diferente. Em resumo, recusam a proposta de Vieira, colocando em causa todo o sistema de captura e distribuição dos escra-vos sob a administração jesuítica. Na sua visão, os padres manipulavam a captura, a distribuição e, portanto, também o preço dos cativos, por forma a venderem-nos a particulares, em vez de os colocarem ao serviço de todos os vassalos, como estava previsto na lei. Pretendiam, por isso, a realização de uma entrada autónoma, no rio Amazonas, área mais vasta e que permitiria maior número de capturas, que seriam, por sua vez, distribuídas por toda a população.
Não conhecemos qualquer resposta de Vieira a esta invetiva. Atra-vés das cartas que Vieira escreveu ao Padre Geral da Companhia53, em março desse ano, percebe-se, no entanto, que teriam chegado a Roma rumores acerca da situação do Maranhão e Pará. Em concreto, Vieira refere-se à oposição interna de Ricardo Careu, um jovem missionário “estrangeiro” que não só colocara em dúvida a veracidade da lei de 1655, como também se tinha mostrado incomodado com o facto de os padres do Maranhão e do Pará se ocuparem de “negócios seculares”54. O visitador desvaloriza, contudo, o caso, afirmando que Careu ainda não se encontrava familiarizado com o modo de missionar dos jesuítas do Maranhão.
No mês seguinte, os índios da aldeia do Maracanã apresentaram ao Capitão-Mor Pedro de Melo uma petição, que se publica em apêndice, em que acusavam Vieira de ter mandado prender injustamente o seu principal, Lopo de Sousa, ou Guaquaíba, e exigiam a sua libertação.
52 Também publicada no t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 300-302 (carta 107).53 Cartas 108 e 109, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 303-306 e 307-311.54 Carta 108, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 303-306.
introdução
40 padre antónio vieira
Pedro de Melo ordenou um processo de inquirição, que decorreu entre os dias 23 e 26 de abril de 1661. Os atos do processo, que publicamos na sequência da petição, em apêndice, incluem certidões do comissário dos frades de Santo António, dos provinciais das ordens de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Mercês, uma petição da Câmara do Pará e três testemunhos de moradores, todos eles favoráveis à pessoa de Lopo de Sousa ou confirmando a versão dos factos apresentada na petição, alertando ainda para os graves prejuízos à Fazenda Real, que poderiam decorrer do descontentamento dos índios do Maracanã, por nesta aldeia laborar uma importante salina.
Eis os factos em questão. No dia 22 de janeiro de 1661, Vieira enviara uma carta amistosa ao principal55, em que lhe pedia que viesse ao seu encontro, no colégio do Pará, para que conversassem pessoalmente. Ao chegar ao colégio, Lopo de Sousa foi desarmado, desprovido do hábito de Cristo, que envergava, e levado para o forte de Gurupá, onde ficou preso, por ordem de Vieira.
De acordo com Vieira56, Lopo de Sousa recusara cumprir a lei de 1655 e beneficiaria da proteção dos “poderosos”, por serviços que lhes prestava, cativando violentamente índios forros. Para além disso, o prin-cipal recusaria receber os sacramentos ou qualquer ordem dos padres e viveria com duas irmãs, casado com uma e amancebado com a outra. Estes atos pareceram suficientes a Vieira para exercer a sua autoridade, provavelmente extrapolando a sua jurisdição, e decretar o aprisiona-mento provisório do principal. Porém, a cilada que montou teve efeitos desastrosos, fornecendo a todos os seus inimigos, moradores, religiosos e principais, mais um argumento contra si.
Acedendo ao despacho do ouvidor-geral, Pedro de Melo ordenou a transferência de Guaquaíba para o forte do Pará, onde seriam ouvidas as queixas de Vieira e ponderado o eventual castigo a ser dado ao principal.
Entretanto, em São Luís do Maranhão e arredores, rebentam motins contra os padres da Companhia. Numa carta enviada a Vieira por via secreta, de 23 de maio de 166157, publicada em apêndice, Pedro de Melo
55 Carta 106, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, p. 299. Em apêndice, publicamos a versão que consta do processo de inquirição, em conjunto com os restantes documentos.
56 Carta 111, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 323-328.57 Na verdade, o governador já teria comunicado os acontecimentos a Vieira oficialmente. Em carta
ao Rei D. Afonso VI, de 22 de maio de 1661 (carta 111, t. i, vol. ii, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 323-328), Vieira apresenta as causas que, na sua opinião, estiveram na origem dos tumultos: a emulação gerada pela publicação, às custas régias, da carta ao Rei de 1659 (António Vieira, Copia de hvma carta para El Rey N. Senhor. Sobre as missões do Searà, do Maranham, do Parà, & do grande Rio das Almasónas, Lisboa, Henrique Valente de Oliveira, 1660; carta 100, t. i, vol. i, Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013, pp. 268-286); a publicação de cartas ao Bispo do Japão, André Fernandes, que continham afirmações ousadas a propósito da realidade do Maranhão e do Pará; a detenção de Guaquaíba; e, acima de todas as outras causas, a cobiça.
41
avisa-o de que, após uma semana agitada, a população se encontrava amotinada contra os padres da Companhia, ameaçando também o próprio governador. Os tumultos teriam começado uma semana antes, entre os índios da aldeia de São José, em reação a palavras ditas pelo Padre António Ribeiro. No dia seguinte, os moradores comunicaram ao governador que queriam expulsar os padres da Companhia. D. Pedro de Melo ordenou à guarda que contivesse a turba, gerando escaramuças. A desproporção de forças (cinco ou seis guardas para cerca de seiscentos moradores) não lhe permitira mais do que tentar demover os rebeldes, dramaticamente, à janela da sua morada. Entretanto, o Padre Ricardo Careu tinha sido obrigado a assinar, perante a Câmara, um termo em que os padres aceitavam abdicar da administração dos índios das aldeias.
Em conclusão, Pedro de Melo aconselha Vieira, que se encontra em viagem, de Belém do Pará para São Luís do Maranhão, a desviar cami-nho e refugiar-se em Gurupá, onde os moradores lhe eram favoráveis.
Vieira terá acolhido o conselho, mas a 21 de junho de 1661 está já em Belém do Pará, onde tenta impedir que o senado da Câmara do Pará se alie à revolta. Na “Representação que fez o Padre António Vieira ao Senado da Câmara do Pará”, Vieira evoca os frutos alcançados nas diversas missões que os padres tinham empreendido e pede à Câmara que vigie as vias de ligação entre o Maranhão e o Pará, para evitar a passagem de rebeldes.
Em apêndice publicamos a “Resposta da Câmara do Pará” a este requerimento, que foi positiva, no entanto, sem deixar de relembrar quão prejudicados se sentiam os moradores com a administração jesu-ítica das aldeias de índios.
Com efeito, os acontecimentos não corriam a favor de Vieira. A 17 de julho, os moradores de Belém do Pará em tumulto dirigem-se ao colégio de Santo Alexandre e prendem Vieira com outros padres jesuítas. Nessa condição, é levado à Câmara da cidade e obrigado a assinar, tal como Careu fora no Maranhão, um termo em que se comprometia a “ajuntar os religiosos que estavam pelas aldeias ao seu convento desta cidade em termo de três dias, e que não entendessem mais com as missões das aldeias, por causas que tinham por bem deste Estado”58.
Detido numa caravela com outros irmãos, Vieira redigiu, a 18 de agosto de 1661, o “Protesto que o Padre António Vieira fez à Câmara e mais nobreza da cidade de Belém do Pará, para não serem expulsos daquela conquista os padres missionários da Companhia de Jesus”, em que procurou apelar às consciências dos senadores do Pará, e, em data
58 Cópia em AHU, Conselho Ultramarino, Maranhão, cx. 4, doc. 436 (anexo).
introdução
42 padre antónio vieira
desconhecida, a “Petição que fez o Padre António Vieira ao Governador Dom Pedro de Melo”, em que para tentar garantir que a travessia para Lisboa fosse feita de forma mais segura, numa nau, e não num “barco sardinheiro de Setúbal”, se viu obrigado a um exercício de autorrepre-sentação. O governador e a Câmara aceitaram o pedido, mas os jesuítas tiveram de pagar 320 mil réis ao dono da nau, o próprio Pedro de Melo59.
Já em Lisboa, Vieira não ficara livre da perseguição dos moradores do Maranhão e do Pará. O futuro das missões jesuíticas estava ainda em discussão. Perto do final de 1661, é intimado a responder a um conjunto de papéis apresentados pelo Procurador dos moradores, Jorge de Sampaio de Carvalho60, ao Conselho Ultramarino. No “Bilhete” de 25 de dezembro, ainda sem ter tomado contacto com os papéis, Vieira responde com visível asco.
Entre estes papéis, estariam, muito provavelmente, os “Capítulos apresentados pelo Procurador do povo do Maranhão, Jorge de Sampaio de Carvalho, contra os padres da Companhia de Jesus”, que se publica em apêndice, a mais completa súmula dos argumentos dos moradores do Maranhão contra os padres da Companhia.
Como indica no seu “Bilhete”, Vieira terá tomado tempo para redi-gir uma refutação de fôlego. Na sua “Resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia o Procurador do Maranhão, Jorge de Sampaio”, o pregador apresenta uma detalhada retrospetiva dos acontecimentos do Maranhão, desde a sua chegada, cerca de nove anos atrás, até à expulsão. Os “Capítulos” de Jorge de Sampaio de Carvalho e a “Resposta” de Vieira são, portanto, peças-chave absolutamente incontornáveis para a compreensão da contenda entre moradores e jesuítas no Maranhão.
Entretanto, a guerra revelava-se praticamente perdida por Vieira para os interesses dos moradores. Apesar da “Carta” de repreensão remetida em fevereiro de 1662 pelo ministro António Luís de Menezes, Marquês de Marialva, ao senado da Câmara do Pará, o Governador Rui Vaz de Sequeira, nomeado no mês seguinte, emitiu um “Perdão” ao povo do Maranhão, no dia 2 de junho do mesmo ano. Para além destes dois textos, inclui-se também em apêndice a “Carta” da Câmara do Pará ao Rei, solicitando o seu perdão.
A 12 de setembro em 1663, a Coroa emitiu, finalmente, o seu parecer. Em suma, devolvia às Câmaras a administração das aldeias e o poder de decisão sobre as entradas e a distribuição dos índios pelos morado-
59 José Couceiro da Costa, “O expulsor e a expulsão do P.e António Vieira do Maranhão”, Armas e troféus: revista de História, Heráldica, Genealogia e Arte, viii série, t. ii, 1998, p. 162.
60 A respeito de Jorge de Sampaio de Carvalho, ver ibidem, pp. 159-168.
43
res, através da figura de um “repartidor” que por elas seria eleito. Por outro lado, autorizava o regresso dos padres da Companhia de Jesus ao Maranhão, excluindo o Padre António Vieira, “por não convir ao meu serviço que torne àquele Estado”61.
A turbulenta situação política vivida no reino em meados de 1662, motivada pela destituição da Regente D. Luísa de Gusmão, terá contri-buído para a relativa demora da resolução. A contenda política entre os nobres do reino, que se inicia por esta altura, e o facto de Vieira se encon-trar próximo do partido do Duque do Cadaval, opositor aos interesses do Conde de Castelo Melhor, não isentaria Vieira de novas atribulações. Tendo perdido o apoio da Corte, o pregador foi desterrado para o Porto e, depois, para Coimbra, para ser interrogado pela Inquisição.
Os três documentos que encerram este núcleo, ainda relacionados com a contenda entre Vieira e os moradores do Maranhão e do Pará, e talvez também boa parte da “Resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia o Procurador do Maranhão, Jorge de Sampaio”, foram redigidos neste contexto.
Através da “Consulta” de 27 de julho de 1662, que publicamos em apêndice, ficamos a saber que António Marapirão e Alexandre de Sousa, alegados principais de aldeias de índios, se encontravam, pelo menos desde outubro do ano anterior, na metrópole, procurando garantir junto da Corte a concessão de benefícios, em reconhecimento dos serviços prestados ao Reino. A turbulência política que se vivia no Reino e a sua frágil condição de vassalos indígenas não correram a seu favor. De acordo com a sua petição, os índios viram-se obrigados, durante a sua estadia na metrópole, a viver de esmolas de conventos. O Procurador Jorge de Sampaio de Carvalho empreendeu então diligências junto do Conselho Ultramarino para que a petição fosse atendida e fossem con-cedidas aos índios condições dignas de regresso à América. Vieira terá sido chamado a dar o seu parecer sobre a questão, ao qual o procurador respondeu prontamente. Os dois pareceres, que publicamos com os títulos genéricos de “Papel sobre os índios Principais, António Marapi-rão e Alexandre de Sousa” e de “Parecer do Governador do Maranhão, Jorge de Sampaio de Carvalho, sobre António Marapirão e Alexandre de Sousa” (em apêndice), têm o interesse de testemunhar a disputa entre Vieira e Jorge de Sampaio de Carvalho, mas sobretudo fornecem-nos dados interessantes para pensar a condição dos peticionários.
61 “Provisão em forma de ley sobre a liberdade dos Indios do Maranhão” in Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 66, 1.ª parte, 1948, pp. 29-31.
introdução
44 padre antónio vieira
O caso assemelha-se ao do Principal Guaquaíba. Na opinião de Vieira, Marapirão e Alexandre de Sousa eram indivíduos devassos, de honestidade duvidosa e opositores aos interesses portugueses, com responsabilidades óbvias nos levantamentos de 1661. Deveriam, por isso, ser degredados para a região do Rio de Janeiro, onde não pudessem continuar a exercer a sua influência nefasta sobre as populações. Para Jorge de Sampaio de Carvalho, os dois índios eram válidos servidores dos interesses da Coroa, o que, no caso de Marapirão, se confirmava ainda pelo facto de envergar o hábito da Ordem de Cristo. Como tal, de acordo com o procurador, justificar-se-ia a atribuição dos benefícios requeridos.
Como acontecia no retratos de Guaquaíba feitos por vários agentes imperiais, os retratos de Marapirão e de Alexandre são contraditórios. Mas estas contradições não resultam apenas da diferença óbvia que exis-tia entre as posições de Vieira e de Carvalho. Em boa medida, elas depen-dem também da condição complexa, em certos pontos indiscernível, destes principais indígenas. Recorde-se, por exemplo, que este “Mara-pirão”, tão elogiado pelo procurador dos moradores, é muito provavel-mente o mesmo que, na década de 40, se queixava ao Rei acerca das violências e tiranias exercidas pelos capitães sobre a população indígena. Assim, para além de testemunharem que o “índio”, confrontado com o império, se dividia também em diferentes grupos de poder e de inte-resse, com maior ou menor representatividade junto da Corte, estes documentos alertam-nos também para o dinamismo e complexidade das relações entre indivíduos e grupos no espaço colonial. Marapirão e Alexandre de Sousa, como Guaquaíba, laborariam nas fronteiras entre a sociedade colonial e os indígenas, assumindo uma condição híbrida, que podia ser entendida como a de um ilustre servidor do Reino ou como a de um dissoluto fora-da-lei. Essa condição híbrida permitiu-lhes escapar ao total silêncio e anonimato. Com efeito, no que respeita à participação dos indígenas no processo histórico de que temos tratado neste volume, eles serão a ponta de um imenso icebergue.
c . 1 6 6 9 ? / 1 6 7 8
Os dois textos que compõem este núcleo consistem em pareceres emitidos por Vieira a pedido do Conselho Ultramarino, a respeito do Maranhão.
A data do “Parecer ao Príncipe Regente sobre o aumento do Estado do Maranhão e missões dos índios” é incerta. De acordo com Hernâni
45
Cidade62, a sua redação terá ocorrido por volta do ano de 1669. Sigamos, pois, o raciocínio de Cidade, com pequenas adendas e reservas nossas. O parecer é dirigido ao “Príncipe Regente”, designação que D. Pedro II manteve desde o golpe de 1667 até à morte do seu irmão, D. Afonso VI, em 1683. Em 1668, Vieira, libertado pelo Santo Ofício, sai da casa da Companhia de Pedroso, perto do Porto, onde se encontrava com resi-dência fixa. Por influência do Duque do Cadaval, passa a residir em Lisboa, na Casa do Noviciado da Cotovia. No final de 1669, parte para Roma, onde viria a obter, do Papa Clemente X, o Breve que decre-tou a suspensão do Tribunal do Santo Ofício. Portanto, para Cidade, o “Parecer” terá sido escrito, neste período, entre a chegada a Lisboa e a partida para Roma. O facto de Vieira referir o Duque do Cadaval no início do parecer tornaria menos provável a hipótese de ele ter sido escrito num segundo período de estadia em Lisboa, durante a regência de D. Pedro II, entre 1675 e 1681, na medida em que o Duque do Cadaval se terá exonerado do cargo de presidente do Conselho Ultramarino, que ocupava desde 1670, em 1673. Todavia, não é certo que o Duque se tenha ausentado em absoluto das juntas do Conselho após essa data.
O segundo texto integrado neste núcleo, “Informação que por ordem do Conselho Ultramarino deu sobre as coisas do Maranhão ao mesmo Conselho o Padre António Vieira”, foi escrito a 31 de julho de 1678, precisamente, durante esta estadia em Lisboa. Neste momento, Vieira prepararia já o seu regresso à Baía, desta vez, com objetivos diferentes: a preparação da edição dos seus Sermões e a redação de A Chave dos Profetas63.
Mesmo que o “Parecer” e a “Informação” tenham sido escritos em momentos diferentes, nele Vieira apresenta posições anteriormente defendidas a respeito do Estado do Maranhão. Anos após as revoltas e a expulsão dos jesuítas do Maranhão e do Pará, o problema da mão de obra mantinha-se e a situação económica parecia não ter melhorado substancialmente. Vieira reitera, portanto, as suas principais orientações estratégicas: a escravatura de índios devia ser gradualmente abolida; o problema do Maranhão só poderia ser resolvido através do fortaleci-mento das missões da Companhia de Jesus.
A provisão de 1 de abril de 168064, em que o Rei decretou a devolu-ção da administração das aldeias de índios aos padres da Companhia e a abolição da escravatura indígena, não terá sido, por certo, alheia à
62 Hernâni Cidade, op. cit., p. 316.63 Ver ts. ii (vols. i-xv) e iii (vols. v e vi), Obra Completa Padre António Vieira, op. cit., 2013-2014.64 “Provisão sobre a repartição dos Indios do Maranhão e se encarregar a conversão d’aquella gentilidade
aos Religiosos da Companhia de Jesus” in Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 66, 1.ª parte, 1948, pp. 51-56.
introdução
46 padre antónio vieira
influência que António Vieira parece ter exercido junto do Conselho Ultramarino no final da década de 70.
Em 1684, encontrando-se Vieira na Baía, eclode um novo motim no Maranhão, com contornos muitos semelhantes ao de 166165. O novo Governador, Gomes Freire de Andrade, desembarca em São Luís do Maranhão a 15 de maio de 1685, com mandato para travar a revolta. Os moradores não ofereceram resistência. Em novembro do mesmo ano, o antigo procurador do Maranhão, Jorge de Sampaio de Carvalho, e os irmãos Manuel e Tomás Beckman, identificados como líderes do movimento, são condenados à morte e enforcados.
1 6 9 4
O texto que constitui, isolado, o sexto e último núcleo que apresentamos no presente volume, “Voto do Padre António Vieira sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo acerca da administração dos índios”, foi redigido por Vieira na Baía, cerca de três anos antes da sua morte. Enquanto Visitador-Geral do Brasil e do Maranhão, cargo que não exerceria no terreno, devido à sua avançada idade, Vieira tinha sido chamado a expressar a sua posição sobre o intuito dos moradores de São Paulo de assumirem o controlo sobre a administração das aldeias de índios e de empreenderem capturas de escravos índios, em claro desafio à lei de 1680.
Em suma, o padre encontrava-se perante uma reedição da questão maranhense, sobre a qual tantas linhas escrevera.
No entanto, o povo de São Paulo tinha, no final do século xvii, argumentos de peso, para imposição dos seus intentos. O facto de ter pertencido à capitania de São Paulo a descoberta e exploração das jazi-das de ouro de Minas, que tanta importância viriam a ter na economia portuguesa do século xviii, terá sido um argumento determinante. A imagem que se impunha, muitas vezes fomentada por penas jesuíti-cas, do paulista como civilizador e repressor dos indígenas revoltosos, beneficiava também, fortemente, as suas posições. Por fim, não terá sido despiciendo o importante contributo de jesuítas ilustres, como Alexandre de Gusmão e João António Andreoni66, que se opunham a Vieira, engrossando as fileiras dos moradores.
65 A propósito desta revolta, ver Maria Liberman, O levante do Maranhão. Judeu cabeça de motim: Manoel Beckman, São Paulo, Centro de Estudos Judaicos/USP, 1983; Rafael Chambouleyron, “‘Duplicados clamores’. Queixas e rebeliões na Amazônia colonial (século xvii)”, op. cit.
66 Juarez Donizete Ambires, “Antônio Vieira e Antonil: práticas e representações na América portu-guesa”, Projeto História, São Paulo, n.º 37, 2008, pp. 95-114.
47
Consciente dos argumentos em causa e sem capacidade de intervir in loco, Vieira recorreu, neste seu “Voto”, a uma estratégia argumentativa diferente daquela que utilizara nos textos relativos ao Maranhão. Aqui, o visitador opta por não centralizar tanto a sua argumentação nos termos concretos da situação económica e social colonial, mas mais em princí-pios do direito natural e do jus gentium (direito das gentes). À cabeça da argumentação, Vieira coloca o direito à liberdade e autodeterminação dos povos indígenas, evocando, em seguida, tópicos recorrentes das fontes do direito das gentes, como o direito à fuga, o direito à resistência e o direito à propriedade. A este tipo de abordagem não será estranho o estudo implicado n’A Chave dos Profetas, onde Solórzano, a autoridade mais citada no “Voto”, é também abundantemente referido. Para mais, a perspetivação providencialista da missionação e da questão indígena, que Vieira apresenta na sua obra magna profética, também poderá não ser alheia a uma certa tendência para privilegiar os princípios sobre a prática neste texto sobre a questão paulista.
Porém, o “Voto sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo” não deixa, por isso, de ser um dos mais contundentes e revoltados textos de Vieira, contra o horror da escravatura. Por duas vezes ao longo do texto, Vieira compara os cativos de São Paulo com os cativos de Argel, o que, por inerência, implicava uma comparação dos paulistas com os corsários otomanos67. Tal como acontece em alguns textos sobre o Maranhão, Vieira desenvolve aqui também expressivas descrições das condições de vida dos cativos. Por fim, consegue aferir, da sua reflexão baseada em princípios, inesquecíveis sentenças, como aquela em que é dito que importa “igualmente para a soberania da liberdade tanto a coroa de penas como a de ouro, e tanto o arco como o cetro”.
Ricardo Ventura
CLEPUL, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
67 Ibidem, p. 109.
introdução