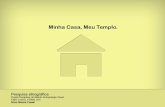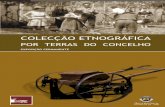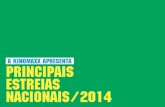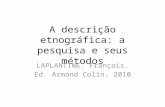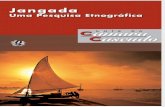“Estreias” enquanto experiência etnográfica. · filmes como pertencentes aos cults/arte por...
Transcript of “Estreias” enquanto experiência etnográfica. · filmes como pertencentes aos cults/arte por...
O público de cinema em foco: a realização do documentário
“Estreias” enquanto experiência etnográfica.
Bianca Salles Pires
Mestra em Sociologia – PPGS/UFF
Palavras-chaves: Experiência etnográfica; filme etnográfico; público de cinema; estreias.
Introdução
As antigas grandes salas de cinema da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro estão
presentes nas lembranças de infância e adolescência recheadas pelos filmes de aventuras
e animações. Ainda que a década de 80 tenha sido marcada pelo declínio das antigas salas
de exibição, anteriormente com capacidade de até 2500 lugares e largamente frequentadas
(GONZAGA: 1996), que foram sendo pouco a pouco substituídas pelo padrão de
complexos e multiplex1 a partir da década de 90, a percepção do cinema enquanto uma
prática social está fortemente presente nos relatos dos entrevistados. Em 2006, cursando
a graduação em Ciências Sociais, passei a frequentar os cinemas localizados em
Botafogo, também na Zona Sul, e me deparei com a existência de 18 salas de exibição na
região próxima à Praia de Botafogo (ver Anexo I, Mapa I) e com variedade de filmes que
eram oferecidos.
A região é apelidada por alguns como sendo a “Nova Cinelândia Carioca” fazendo
referência às antigas salas de rua que compunham a região central da cidade no início do
século XX2. No caso de Botafogo, a diversidade se dava a partir da existência de quatro
complexos de cinemas administrados por três grupos de exibidores que possibilitam uma
programação plural e com características diferenciadas. Neste sentido, notava que a
afluência ao cinema se dava em função dos filmes que desejava assistir e estes estavam
diretamente associados ao tipo de frequentação que pretendia realizar sendo sozinha ou
acompanhada. Estes diferentes arranjos nas companhias possibilitavam distintas maneiras
1 Segundo R. Braga (2010, p.83) existem três categorias de salas de exibição: a composta por uma sala;
complexos que tem entre duas e cinco salas; e multiplex compostos por mais de seis salas. 2 As salas da Cinelândia tinham uma programação diversificada que atraia milhares de indivíduos ávidos
pela novidade trazida pelos cinemas, que ajudavam a compor o clima de modernização da cidade (idem:
1996, p.114).
de assistir aos filmes, que em alguma medida estavam associadas também à própria sala
de exibição escolhida.
Encontrava-me então intrigada pelas diferentes formas de agir nos espaços dos
cinemas e nas maneiras como os indivíduos se referirem aos filmes assistidos, quando
comecei em 2007 uma pesquisa acerca do público de dois dos cinemas da região. As salas
de exibição escolhidas foram o Estação Rio, que no período se chamava Espaço de
Cinema, e o Cinemark Botafogo. O interesse da pesquisa era perceber diferenças e
semelhanças entre os tipos de frequentação possíveis nos espaços, apreendidos como
cinemas que atraiam públicos distintos e produziam sociabilidades específicas. Estas
diferenças estavam associadas aos “tipos de filmes exibidos”, uma vez que os cinemas se
enquadrariam como pertencentes a “circuitos de exibição”3 diferentes. O Estação Rio
pertenceria ao circuito chamado de “cult/arte” e/ou “alternativo”, enquanto que o
Cinemark passaria os filmes do denominado “circuito comercial”. Esta classificação é
compartilhada e reafirmada tanto pela mídia nacional e internacional, que separaram os
filmes como pertencentes aos cults/arte por meio de matérias e críticas, quanto pelas
propagandas que tais espaços fazem de seus serviços. Contudo tais categorizações não
foram pensadas enquanto automáticas e por isso buscou-se por meio da observação
perceber em que medida cada espaço produzia práticas sociais particulares e o quanto
estas estavam referidas à classificação das películas entre “tipos de filmes”.
A pesquisa se deu por meio de uma etnografia nos ambientes dos cinemas que foi
realizada entre os meses de janeiro a agosto de 2007, contando com aproximadamente 67
entrevistas e com o acompanhamento da exibição de 32 filmes em cerca de 80 sessões. O
material analisado compõe a monografia de Bacharelado defendida na Universidade
Federal Fluminense em 2008 intitulada “Pipoca, diversão e arte: pesquisando dois
públicos de cinema”. No entanto, o proceder da investigação para elaboração da
monografia apontou a existência de um terceiro cinema no bairro que se caracterizaria
como “híbrido” quando pensado a partir dos filmes exibidos. Era o Unibanco Arteplex,
atualmente Espaço Itaú de Cinema, e segundo os entrevistados este contemplaria
“qualidades” dos outros dois espaços estudados. Ele era quase sempre citado por
frequentadores quando questionados sobre uma segunda opção de cinema na região. Tal
3 O termo circuito foi considerado uma categoria nativa a ser analisada. Não ignoramos as caracterizações
provenientes dos livros e registros da história da distribuição de películas no Brasil (GONZAGA: 1996;
BRAGA: 2010), mas procuramos perceber em que medida estes circuitos são acionados nos diferentes
discursos e como possibilitam constituir experiências específicas dentro dos espaços dos cinemas.
associação nos levou a ampliar as discussões que vinham sendo realizadas sobre os
espaços de cinema e seus públicos, permitindo construir um novo objeto de investigação
que incluía o terceiro cinema. O foco da investigação foi apreender as sociabilidades e
usos sociais do cinema, buscando perceber de que forma as referências aos “circuitos de
exibição” eram utilizadas e o que diziam acerca das experiências dos frequentadores junto
aos filmes e aos espaços.
Contudo, o primeiro contato com o “novo objeto” de investigação se deu a partir
da realização de um curta metragem sobre as ocasiões de estreias de filmes – Estreias,
2013 - que teve como argumento acompanhar três lançamentos de películas em três salas
de cinema em outras regiões da cidade. Optamos por acompanhar os momentos que
antecedem a entrada nas salas de exibição, procurando compor em imagens e sons as
sociabilidades e diferentes formas de agir diante da aproximação temporal do início da
exibição da película. As estreias das películas foram observadas como produzindo
ocasiões sociais (GOFFMAN: 2010) que revelam nuances importantes acerca dos
engajamentos e interações face a face entre os indivíduos participantes das interações.
Os termos são empregados pelo autor para se referir a “qualquer conjunto de dois ou mais
indivíduos cujos membros incluem todos e apenas aqueles que estão na presença imediata
uns dos outros num dado momento” e “ao ambiente espacial completo em que ao adentrar
uma pessoa se torna um membro do ajuntamento que está presente” (idem, 2010: p.28).
Neste sentido os espaços dos cinemas foram analisados enquanto ambientes que
possibilitavam interações entre desconhecidos e conhecidos que ao entrarem em contato
estabeleciam trocas comunicativas verbais e não verbais nos termos descritos pelo autor.
Tal abordagem nos permite perceber as várias ocasiões sociais que ocorrem nos espaços
dos cinemas, suas regras de comportamento, interações e os significados sociais das
sessões de filmes para os atores sociais envolvidos.
As três estreias escolhidas foram selecionadas a partir de ocasiões que haviam sido
observadas em 2007 e apresentam três possibilidades de lançamentos de filmes em
diferentes contextos de cinemas.
A primeira filmagem deveria ser considerada uma superestreia4, são filmes que
normalmente se baseiam em livros ou quadrinho e preveem várias sequências que ajudam
4 É comum que as Superestreias, forma como são denominadas pelos cinemas, ocorram na noite de quinta
para sexta em uma sessão pouco depois da meia noite.
a compor a continuidade. Havia observado algumas superestreias durante a pesquisa em
2007 no Cinemark Botafogo e esses eram momentos muito esperados pelo cinema e
também pelos fãs, que desde cedo ocuparam os espaços externos às salas de exibição
aguardando pelo lançamento do filme. Esses eventos se caracterizam pela grande
afluência de jovens, que faziam das filas momentos de intensa interação e de trocas de
informações sobre a saga. Estas peculiaridades quanto ao horário de chegada e as formas
de interação do público eram os motivadores para acompanharmos uma estreia deste tipo.
A segunda filmagem se deu em um cinema de rua do mesmo grupo exibidor do
Estação Rio, Grupo Estação, e se estabelece como uma estreia no contexto do “circuito
alternativo”. O que havíamos observado na pesquisa anterior era que as motivações e
comportamentos dos participantes destes eventos diziam muito sobre o que ir ao cinema
significa para eles. Estas estreias possibilitam refletir sobre como os indivíduos se referem
aos “circuitos de exibição” da cidade e de que forma organizam suas experiências no
cinema a partir desta relação entre “tipo de filme” que assistem e sala de exibição que
frequentam.
A terceira filmagem a ser acompanhada deveria construir um contraponto com a
primeira na medida em que se caracterizasse como uma estreia também aguardada, mas
que não contasse com uma sessão de lançamento à meia noite. Acompanhamos assim, a
parte da tarde do primeiro dia de exibição de um filme em um cinema localizado em
shopping center. O que havia sido observado durante a pesquisa em 2007 é que estes eram
momentos em que existia uma grande afluência de adolescentes e crianças ao cinema,
normalmente depois da escola. Tais ocasiões nos possibilitavam refletir sobre a relação
que as crianças e adolescentes estabelecem com os cinemas, assim como as relações que
os adultos constituem com as demais faixas etárias.
Paralelamente à montagem do filme5 no ano de 2012, retomamos a pesquisa no
bairro de Botafogo incluindo o terceiro cinema. A etnografia foi desenvolvida durante o
período de abril a dezembro de 2012 tendo sido realizadas 34 entrevistas, contando ainda
com nove reentrevistas com uso de gravador e conversas com os representantes dos
cinemas.6 A observação incluiu também o acompanhamento de 26 sessões de oito filmes
5 “A definição técnica da montagem é simples: trata-se de colar uns após os outros, em uma ordem
determinada, fragmentos de filme, os planos, cujo comprimento foi igualmente determinado de antemão.”
(AUMONT, MARIE: 2003) 6 Foram entrevistados dois gerentes dos multiplex e dois sócios com diferentes funções no processo de
programação e administração.
que ajudam a compor o material analisado na dissertação. O processo de realização do
filme juntamente com a pesquisa de campo possibilitou que diálogos fossem criados entre
as duas formas de aproximação ao objeto de estudo, neste paper refletiremos acerca dos
usos do recurso audiovisual no percurso da etnografia e sua importância junto ao texto
final da dissertação.
Produzindo o filme
A experiência de realizar um filme etnográfico que abordasse questões pertinentes
à pesquisa foi proposta pelo NECTAR (Núcleo de Estudos Cidadania, Trabalho e Arte)
da Universidade Federal Fluminense como parte de um curso de qualificação intitulado
“Olhar da câmera - 2011” que prevê a formação de cientistas sociais no uso de
equipamentos audiovisuais. A sugestão inicial era de que fosse indicado um argumento
para um curta metragem que pudesse ser realizado coletivamente pela equipe, composta
por outros cinco estudantes da graduação e pós-graduação de ciências sociais e arte, além
de uma graduada em cinema que deveria nos ajudar dando o suporte técnico e artístico na
realização do filme, sempre sob a supervisão e orientação da professora coordenadora do
projeto7.
A primeira questão que surgiu logo no início de nossos encontros foi o que propor
enquanto filme dentro do tema da pesquisa. Que enfoque dar? O que filmar? Em qual(is)
sala(s) de cinema(s)? Levando em conta o fato de que a pesquisa etnográfica voltada
especificamente para a dissertação ainda não estava em curso, frequentava então o
primeiro ano do mestrado ainda atrelado às disciplinas, e não querendo que meus
primeiros contatos com o campo de pesquisa se desse a partir das situações deflagradas
pela presença da câmera, resolvemos propor um argumento que se baseasse nas hipóteses
da pesquisa. Na realidade, a opção pelos momentos das estreias dos filmes estava inscrita
no que pretendíamos observar no decorrer do trabalho de campo, mas antes de tudo,
estava diretamente atrelada ao que havia sido observado na etnografia para realização da
monografia de bacharelado.
Contudo, além da produção de um filme, o curso de formação vislumbrava
propiciar uma discussão da linguagem cinematográfica e suas possibilidades ao se atrelar
7 Coordenadora: Professora Dra Lígia Maria Dabul; Suporte técnico e artístico: Raquel Valadares; Equipe
de estudantes envolvidos: Ana Carolina Accorsi, Carolina Soares, Lucas Moratelli, Patrícia Freire, Renan
Prestes.
a uma pesquisa acadêmica. Neste sentido, a elaboração do filme foi adotada como um
recurso heurístico, na medida em que nos permitia interações com o objeto pesquisado
possibilitando apreender nuances e aspectos das situações sociais analisadas por meio dos
recursos audiovisuais. No embate entre a função do filme e seus limites como parte de
uma outra linguagem que expressa e apreende a realidade, mas que como o texto
etnográfico não é o real, Ana Ferraz aponta que:
Através das imagens, a experiência do etnógrafo em campo tangencia a experiência
dos sujeitos estudados. No texto etnográfico, tecemos aproximações. Configura-se o
projeto compreensivo de apreender o sentido da vida do outro. A imagem garante
outra forma de conhecimento, mais sensorial. As ações que filmamos em campo
trazem a densidade dos corpos em movimento em seus gestos, expressões, posturas e
das relações, das quais participamos. (FERRAZ, A.: 2009, p. 83)
Quando referimos à “densidade dos corpos em movimento”, captamos aspectos sensoriais
que quando descritos em palavras não causam necessariamente o mesmo estranhamento
e aproximação como acontecem com as imagens do filme. A ilustração audiovisual,
dependendo naturalmente de como foi obtida e confeccionada, produz no leitor/audiência
da dissertação relação diferente com o objeto estudado.
Outro ponto importante no uso do recurso audiovisual está na possibilidade dos
desdobramentos para os atores sociais filmados do que está sendo apresentado para a
câmera. Segundo P. Henley (1999) o filme concatena em imagens “os aspectos
performáticos da cultura”, por meio dos impactos emocionais e psicológicos que as
experiências têm para os filmados, ou mesmo dando a eles a oportunidade de “apresentar
suas próprias interpretações delas” (idem: 1999, p.39). O Estreias possibilita assim que o
texto etnográfico possa se utilizar de suas imagens para traçar aproximações e
diferenciações, como elucidação dos sentimentos e acontecimentos possíveis de serem
vistos nestes momentos em uma antessala de cinema.
Durante o relato de pesquisa, A. Torresan (2011) descreve a importância da
realização do filme Round Trip como um dispositivo fundamental na análise quanto à
imigração de brasileiros em Portugal, uma vez que as filmagens possibilitaram a
percepção da construção narrativa da memória da entrevistada de forma diferente da
pesquisa etnográfica sem o uso do recurso. A câmera funcionava como catalisadora de
autoapresentações, na medida em que era utilizada pela entrevistada para expressão
performática de si mesmo, ajudando a pesquisadora a compreender as autorepresentações
(selfrepresentations) e autoteorizações que a interlocutora expressava sobre suas
vivências como imigrante, sua relação com o Brasil, sua casa e com sua vida em Portugal.
Podemos supor que o Estreias também funcionou como um dispositivo de
autorepresentação na medida em que a câmera juntamente com as minhas questões
possibilitavam que os entrevistados falassem não apenas de suas experiências, mas
apontassem no ambiente a partir de gestos e olhares quais aspectos eram importantes
naqueles eventos, o que eles queriam apresentar para a câmera como autoimagem e de
que forma agiam nos espaços de acordo com essas autorepresentações. Esta relação com
a câmera ficou ainda mais evidente entre os jovens. Em alguns momentos podíamos
perceber o olhar de lado discretamente realizado com o intuito de saber se estavam sendo
filmados. Sinaliza também a dificuldade de entrevistar crianças e o quanto observá-las
em suas ações diz muito acerca de suas interações com os filmes e o ambiente.
Outra questão salientada por P. Henley (1999) na utilização dos recursos
audiovisuais na pesquisa é o fato de que “Qualquer produção de filme etnográfico exige
que o cinegrafista tome uma série de decisões sobre quando, onde e por quanto tempo
filmar, onde posicionar a(s) câmera(s), como enquadrar a cena, como determinar sua
duração.” (idem: 1999, p. 30). Neste sentido, a produção do filme exige uma percepção
espacial do ambiente observado que possibilite prever onde e quando posicionar a câmera.
Ao realizarmos o processo de identificar e informar à equipe o que deveríamos fazer com
o passar do tempo em cada um dos espaços observados, nos víamos tomando consciência
do porquê optávamos por filmar determinados espaços e situações nos cinemas, o que
nossas escolhas quanto à forma na captação poderiam representar para a montagem final
ou ainda, como compor em imagens o que se passava nos espaços dos cinemas.
O Estreias surge como um produto que constrói sua própria dimensão dos eventos
filmados, ao mesmo tempo em que suscita reflexões importantes que foram utilizadas no
decorrer do texto da dissertação. Ele é parte constitutiva desta última na medida em que
o recorte final do trabalho escrito esteve relacionado com a vivência na produção do filme
e com formulações a que cheguei por meio dele e que estão incluídas na sua forma final.
Nesta relação entre a pesquisa do passado, desenvolvida em 2007, e o novo trabalho de
campo, realizado em 2012, o filme desempenhou não só uma ponte entre os dados, mas
possibilitou uma reflexão das situações sociais que eram ou não recorrentes.
Neste sentido, ao propor compor em imagens e sons algumas hipóteses a partir do
que havíamos observado em 2007 e ao produzir um filme em um outro contexto espacial
e temporal, nos víamos tendo que captar os eventos que se desenrolavam com as
aproximações das estreias sem que com isso pudéssemos dar conta de filmar tudo o que
acontecia. Nesta relação entre escolhas e ajustes possíveis o filme me forçava a pensar
“no próximo investimento no campo”, na medida em que ao escolher estudar três espaços
diferentes me via impelida e ter que decidir onde iria acompanhar determinados filmes, a
me questionar a todo o momento quando e o porquê de minhas escolhas durante a
pesquisa. O recorte da análise que privilegiava as interações que ocorriam nos espaços de
cinema me mantinha sempre com a sensação de que algo muito interessante poderia estar
acontecendo no outro cinema, durante a minha ausência. Estes sentimentos reavivavam a
percepção de que a pesquisa é a todo o momento recortes no tempo, onde o pesquisador
só é capaz de se aproximar de uma parte do todo, uma vez que só é capaz de estar presente
e recolher informações de um número limitado de eventos.
Sendo assim, o processo de realização do curta se deu a partir da escolha prévia
de que acompanharíamos três estreias de filmes em diferentes salas de cinemas, como
descrito na introdução. A decisão quanto aos eventos que filmaríamos deveria ajudar a
produzir um contraponto entre os diferentes tipos de estreias que uma película pode ter,
sendo importante que as opções dos filmes a serem acompanhados e os cinemas onde
seriam exibidos dialogassem com as salas de Botafogo. A partir da escolha dos “tipos”
de estreias que iríamos acompanhar, passamos a observar nos sites dos cinemas o
calendário das próximas estreias de filmes. Enquanto desenvolvíamos a busca procurando
as melhores opções, uma parte da equipe procurava possíveis locações a partir das
referências que havíamos delimitado. O que caracterizou o recorte foram os filmes que
iríamos acompanhar, seguido dos lugares onde poderíamos filmar, este último devendo
propiciar tomadas adequadas ao que gostaríamos de registrar. Foi assim que, guiados
pelas hipóteses da pesquisa anterior, a equipe foi pouco a pouco compreendendo as
intenções a cada dia de filmagem, quais eram as questões diante de cada estreia, mas
acima de tudo, foi compreendendo que os eventos que iríamos acompanhar se encerrariam
naqueles breves instantes antes da entrada na sala de cinema.
Esse recorte baseado no “acompanhar os acontecimentos” poderia nos levar a uma
abordagem positivista na forma de filmar, na medida em que visasse exclusivamente a
documentação visual, com intuito de reconstrução dos dados da maneira mais objetiva
possível na montagem. Não foi esse o caminho escolhido para o Estreias. Ainda que
possamos apresentar uma abordagem que privilegiou seguir os eventos e manter na
montagem uma linha temporal no desenrolar dos acontecimentos, a escolha narrativa
deixa as imagens falarem por si. A possível linearidade se dá para compor o clima de
apreensão e ansiedade próprios dos eventos acompanhados, sem se preocupar em narrar
ou explicar o que se passava com os atores sociais por meio do uso de recursos, como por
exemplo o voice over8. Aqui a escolha foi no caminho do que P. Hanley (1999) elege
como uma abordagem interpretativista, na qual a tentativa de estruturação do sentido no
filme se dá a partir do argumento que supomos emanar da própria ação. Por meio dele o
pesquisador ou cineasta faz uso dos recursos próprios da linguagem cinematográfica para
transmitir seus entendimentos sobre as situações retratadas, sem com isso se sentir
“distorcendo o material”.
A montagem contou assim com o uso de recursos tais como a trilha sonora
instrumental (optou-se por uma música para cada cinema filmado), aceleração da
velocidade (trecho no qual a fila “anda” e as pessoas recompõem a sua organização em
outro espaço) e justaposição de trecho de imagens que apresentadas sequencialmente
ajudam a remontar as muitas ações que ocorriam nestes momentos. Destarte, a montagem
apresenta não apenas as escolhas que fizemos na captação, mas também a forma que
utilizamos para organizar em sons e imagens os eventos dos quais participamos. O
processo de montagem foi realizado por uma aluna que ficou responsável, mas reuniões
conjuntas com ela ocorreram, e me via no papel de explicar o que queria comunicar, que
imagens achava importante incluir, os ajustes quanto ao tempo e muitos outros detalhes
que deveriam sair ou entrar na montagem final.
O Estreias contou com três dias de filmagem. As captações foram realizadas em
horários bem diferenciados em função das sessões escolhidas, mas de modo geral
tínhamos uma pessoa responsável pela câmera, alguém responsável por pedir todas as
autorizações de uso das imagens e alguém responsável pelo som. O trabalho em equipe
foi fundamental nesta primeira empreitada como realizadora de um filme. A opção por
8 “A voz do comentário em voice over utilizada em alguns documentários é uma voz sem corpo, autoral,
em geral gravada em estúdio, não tendo nenhuma relação com o espaço mostrado na imagem. Ela estabelece
uma relação direta com o espectador; é para ele que essa voz se dirige e ela sabe tudo e nos revela a sensação
de ressoar dentro de nós.” (GUIMARÃES: 2008, p.13) Muitas vezes o recurso é utilizado para explicar ao
espectador o que se passava no momento retratado nas imagens do filme, ou ainda para construir sentidos
interpretativos à narrativa.
acompanhar eventos que tinham uma duração breve, em alguns casos, nos levava a ter
que trabalhar intensamente num curto período de tempo. Poder contar com uma divisão
do trabalho me permitiu conduzir as escolhas do que filmar e as entrevistas sem ter que
me preocupar tanto com a captação de áudio, com possíveis ajustes técnicos da câmera
ou mesmo com os pedido de autorização do uso de imagens. Os constantes
questionamentos da equipe quanto ao que filmar e o porquê das tomadas também foram
fundamentais neste processo.
O primeiro dia de filmagem foi o mais longo, por isso contamos com o apoio de
um motorista contratado para fazer o transporte de todo o equipamento até o cinema e o
nosso transporte para casa pós filmagem. Chegamos ao Norte Shopping por volta das 14h
para acompanharmos a sessão de meia noite e para surpresa da equipe os primeiros
espectadores já se encontravam sentados na fila. O filme estreou em quatro salas dentro
do complexo do cinema e vimos a afluência de aproximadamente 1330 pessoas para
assisti-lo. Apesar de longo esse foi o dia mais tranquilo, afinal tínhamos tempo para fazer
imagens dos frequentadores, entrevistá-los e podíamos acompanhar toda a movimentação
sem pressa.
O segundo dia de filmagem teve uma dinâmica bem diferente. O local de
filmagem escolhido foi o Odeon, que se localiza na Cinelândia, um cinema de rua.
Tratava-se de uma estreia com a presença do diretor e todo o evento, desde a chegada do
público à entrada na sala, durou pouco mais de uma hora. A equipe precisou se deslocar
bastante durante a filmagem e optamos pelo uso do monopé para agilizar a
movimentação, o que tornou a câmera um pouco mais instável. O monopé foi mantido
porque queríamos que os possíveis contrastes entre os espaços viessem das ações filmadas
nestes e não da forma que escolhemos para captá-las. Este último entendimento fez com
que toda a equipe trabalhasse de forma ágil e os reflexos desta curta duração do “antes da
estreia” pode ser percebido no ritmo dos atores sociais e nas suas interações.
O terceiro dia de filmagem foi menos corrido, e tivemos tempo para chegar à
locação e acompanhar a movimentação com mais tranquilidade. A dificuldade se deu com
relação à abordagem das crianças e dos recém-saídos desta fase. Aqui privilegiamos a
ação e o fazer nos espaços filmados, na medida em que estes formulavam pouco sobre o
significado das idas ao cinema, estabelecendo como algo rotineiro e associado ao contexto
do grupo e das famílias.
A direção deste processo me pareceu exaustiva e estimulante, na medida em que
me via impelida a tomar decisões nem sempre segura sobre quais seriam os resultados.
Acredito que a pouco ou nenhuma experiência da equipe sobre todas as fases do processo
de produção de um filme, assim como minha própria inexperiência enquanto diretora,
foram minimizadas por meio das trocas que possibilitaram reflexões sobre a pesquisa. L.
Dabul (2013), ao analisar a realização do filme Night Café, produzido em 2011 pelo
NECTAR, e sua recepção nos momentos de exibição, aborda as especificidades das
produções fílmicas relacionadas à pesquisas em ciências sociais. Segundo a autora a
realização de filmes não consiste “em etapa subsequente à da descoberta ou produção
propriamente dita do conhecimento” (idem: 2013, 5), mas sim apresentam uma outra
maneira de produzir conhecimentos sobre o objeto estudado. Paralelos foram traçados no
decorrer da dissertação com as imagens do Estreias, e algumas questões foram tratadas a
partir dos depoimentos recolhidos durante a pesquisa de campo nos cinemas de Botafogo
em analogia às imagens do filme.
Considerações finais
A elaboração da pesquisa contou com algumas abordagens que colaboram para a
composição do material analisado durante a dissertação. A aproximação com o objeto de
estudo que primeiramente se deu a partir da elaboração do filme – Estreias -, adotado
como um recurso heurístico, nos permitiu interações com o objeto pesquisado que
possibilitaram apreender nuances e aspectos das situações sociais que ocorrem pouco
antes das entradas nas salas de exibição, além de reflexões quanto ao uso do recurso
audiovisual na pesquisa sociológica. O filme apresenta sua própria dimensão dos eventos
filmados, captamos aspectos sensoriais e performáticos, ao apreender os deslocamentos
dos corpos nos ambientes e as autorepresentações dos indivíduos retratados, que quando
descritos em palavras não produzem necessariamente o mesmo impacto sobre o
leitor/espectador. Neste sentido o Estreias suscitou formulações importantes que foram
utilizadas no desenvolvimento do texto, traçando paralelos entre as imagens e
depoimentos obtidos com o uso da câmera e o trabalho de campo posterior.
A observação participante realizada nos espaços internos e externos às salas de
exibição de Botafogo, suscitou reflexões quanto aos limites na realização de pesquisas
comparadas, uma vez que nos levava a percepção de que a pesquisa é a todo o momento
recortes no tempo, onde o pesquisador só é capaz de se aproximar de uma parte do todo.
O uso de diferentes recursos – filme, panfletos, reentrevistas - durante a pesquisa
etnográfica possibilitou uma percepção dos ambientes dos cinemas como marcados por
inúmeras interações que variavam segundo o horário, filme que estrearia, faixa etária dos
frequentadores, entre outros. O recorte escolhido foi ao encontro das estreias dos filmes,
que haviam sido elencadas durante o Estreias, e as interações que ocorrem entre crianças,
entre adolescentes, entre adultos e entre membros das várias faixas etárias. Essa escolha
se deu pela opção metodológica de acompanharmos as ações dos indivíduos durante as
interações e ocasiões sociais. As formulações sugeridas por Goffman (2010; 2011) nos
levaram a observar às variações nas tolerâncias quanto as condutas nas ocasiões
observadas. Assim como, os diferentes engajamentos provenientes dos eventos estudados
e o aspecto performático dos atores sociais, o que nos possibilitou perceber as
experiências partilhadas pelos indivíduos nestes eventos.
Sendo assim, ainda que tenha sido colocado como um anexo ao final da
dissertação, o Estreias representou um papel fundamental junto ao texto escrito, não
apenas por ser um recurso audiovisual ao que é descrito por meio das palavras, mas
porque influenciou no próprio caminhar da pesquisa e da redação final.
Referências bibliográficas
BRAGA, Rodrigo S. “Distribuição cinematográfica”. In: DIAS, Adriana; SOUZA Letícia
de (Org.) Film business O negócio do cinema. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
DABUL. Lígia. Questões sobre experimentos audiovisuais em pesquisas. Anais SLAS -
Society for Latin American Studies - Annual Conference 2013 - University of
Manchester, Manchester, UK, 2013.
FERRAZ, Ana Lúcia M. C. “‘No decorrer da luta, você vai se descobrindo’: Experiências
com o vídeo etnográfico na representação de processos sociais”. In: Revista
ANTHROPOLÓGICAS, ano 13, vol. 20(1+2): 81-96, 2009.
GOFFMAN, Erving. Comportamento em lugares públicos: notas sobre a organização
social dos ajuntamentos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
------. Ritual de interação. Ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2011.
GONZAGA, Alice. Palácios e Poeiras 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, Record: FUNARTE, 1996.
GUIMARÃES, Clotilde Borges. A introdução do som direto no filme documental
brasileiro na década de 1960. Dissertação de Mestrado em Comunicação, São Paulo,
2008.
HENLEY, Paulo. “Cinematografia e pesquisa etnográfica”. In: Cadernos de Antropologia
e Imagem. Rio de Janeiro, nº 9 (2): 29-50, 1999.
PIRES, Bianca Salles. Pipoca, diversão e arte: Pesquisando dois públicos de cinema.
Monografia de Bacharelado, Niterói, 2008.
------. Público de cinema em foco: Um olhar acerca das salas de exibição do bairro de
Botafogo e seus frequentadores. Dissertação de Mestrado em Sociologia, Niterói, 2013.
TORRESAN, Angela. “RoundTrip: Filming a Return Home”. In: Visual Anthropology
Review. Vol. 27, Issue 2: 119-130, 2011.