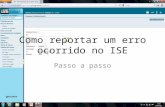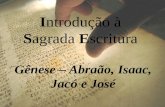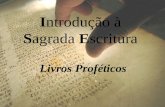Estrutura e Funcionamento Da Comunidade Ise de Goreth
-
Upload
irenecibelle -
Category
Documents
-
view
33 -
download
29
description
Transcript of Estrutura e Funcionamento Da Comunidade Ise de Goreth
-
ISE DE GORETH SILVA
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA COMUNIDADE
FITOPLANCTNICA EM AMBIENTES LACUSTRES DO
ESTADO DE RORAIMA, BRASIL
Recife 2008
-
ii
ISE DE GORETH SILVA
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA COMUNIDADE FITOPLANCTNICA EM AMBIENTES LACUSTRES DO
ESTADO DE RORAIMA, BRASIL
Tese apresentada ao Programa de Ps-
Graduao em Botnica (PPGB) da
Universidade Federal Rural de Pernambuco,
como pr-requisito para obteno ao ttulo de
Doutor em Botnica.
Orientadora:
Dra. Ariadne do Nascimento Moura
Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Conselheira:
Dra. Maria do Carmo Bittencourt Oliveira
Universidade de So Paulo/ ESALQ
Recife 2008
-
FICHA CATALOGRFICA
CDD
S586e Silva, Ise de Goreth Estrutura e funcionamento da comunidade fitoplanctnica em ambientes lacustres do estado de Roraima Brasil / Ise de Goreth Silva. -- 2008. 92 f. : il. Orientadora: Ariadne do Nascimento Moura Tese (Doutorado em Botnica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Departamento de Biologia. Inclui anexo e bibliografia.
CDD 589. 4 1. Fitoplncton 2. Densidade 3. Nictemeral 4. Sazonal 5. Lagos amaznicos 6. Plancie 7. Inundao I. Moura, Ariadne do Nascimento. II. Ttulo
-
iii
ISE DE GORETH SILVA
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA COMUNIDADE
FITOPLANCTNICA EM AMBIENTES LACUSTRES DO ESTADO DE
RORAIMA, BRASIL Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao
em Botnica (PPGB) da Universidade Federal
Rural de Pernambuco, como pr-requisito para
obteno ao ttulo de Doutor em Botnica.
Tese defendida e aprovada pela Banca examinadora:
Orientadora: Dra. Ariadne do Nascimento Moura - UFRPE
Presidente
Examinadores: Dra. Enide Eskinazi Lea - UFRPE
Titular
Dr. Jos Zanon de Oliveira Passavante - UFPE Titular
Dr. Naithirithi T. Chellappa - UFRN Titular
Dr. Srgio de Melo - INPA Titular
Dra. Sigrid Neumann Leito - UFPE Titular
Data da Aprovao: 21 / 02 / 2008
Recife - 2008
-
iv
Aos meus pais, Ismael Silva e Odete Gomes da Silva e aos meus irmos e irms pelo apoio, solidariedade e incentivo nesta jornada.
Dedico.
-
v
AGRADECIMENTOS
Universidade Federal de Roraima (UFRR) e Coordenao de
Aperfeioamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), pelo apoio financeiro
indispensvel para realizao deste trabalho e pela concesso da bolsa de doutorado, atravs
do Programa de Qualificao Institucional (PQI).
Ao Programa de Ps-Graduao em Botnica da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (PPGB), nas pessoas das ex-coordenadoras, Profa. Ariadne do N. Moura e Profa.
Carmen S. Zickel, e ao atual coordenador Prof. Ulysses P. de Albuquerque, pelas facilidades
concedidas no uso das suas instalaes.
Ao Departamento de Biologia da Universidade Federal de Roraima, na pessoa da
Profa. Luclia Pacobahyba, por ter permitido meu afastamento das atividades docente para
realizao do curso de doutorado.
Profa. Ariadne do Nascimento Moura, pela orientao, sugestes e
oportunidade de realizao deste trabalho.
Profa. Maria do Carmo Bittencourt-Oliveira, pela co-orientao.
Ao Prof. Marcos Vital, coordenador do PQI na instituio de origem (UFRR),
pelo apoio e esforos indispensveis para a realizao deste trabalho.
Profa. Enide Eskinazi Lea, exemplo de profissionalismo e tica, sempre
presente com seu apoio, incentivo, sugestes e entusiasmo.
Ao Prof. Jos Zanon de O. Passavante, orientador sempre, pelos ensinamentos,
amizade e pela leitura crtica de parte deste trabalho.
A@s Professor@s do Curso de Doutorado em Botnica, pelos ensinamentos e
pelas palavras de conforto.
Ao Prof. Carlos Eduardo Freitas, amigo e companheiro, pelo apoio indispensvel
nas infinitas, mas agradveis, horas de trabalho de campo.
Aos amigos Mrcio Sena e Pricles de Arajo, pelo auxlio nos trabalhos de
campo.
A@s Professor@s do Departamento de Biologia da UFRR, por terem me
substitudo em minhas atividades docente durante meu afastamento.
Margarida Clara da Silva, secretria do Curso de Ps-Graduao em Botnica,
pela ateno e disposio em ajudar sempre.
Ao funcionrio Manasss Arajo Silva (Seu Mano) por sua simpatia e presteza no
decorrer do curso.
-
vi
Ao Rubem Arajo, companheiro de todas as horas, pela prontido e dedicao nos
trabalhos de campo.
A@s amig@s de sempre: France Rodrigues, Gardnia Cabral, Luiza Cmara,
Luiz Pessoni e Parmnio Cit, pelas palavras de carinho e incentivo nos momentos mais
difceis desta caminhada.
Ao querido amigo Marcelo Alves, por sua disposio em sempre atender s
minhas solicitaes nos momentos mais crticos e, principalmente, pela amizade construda
com base no respeito, carinho e admirao.
A@s coleg@s e amig@s do Laboratrio de Taxonomia e Ecologia de Microalgas
do PPGB: Arthur de Paula, Edson Jnior, Emanuel Cardoso, nio Wocyli, Helton Soriano,
Joo da Silva, Micheline de Arajo, Pricles Ferraz e Silvana Dias, pela colaborao e
convvio alegre, tornando os dias de trabalho verdadeiros momentos de pura descontrao.
s colegas e amigas de turma de doutorado, Elizamar Silva e Ftima Carvalho,
pelo companheirismo e pelas palavras de incentivo e conforto.
Aos amigos Antnio Travassos e Giulliari de Lira, pela presena amiga nas horas
de sufoco.
Ao Juarez Monteiro, companheiro de laboratrio nas inmeras anlises qumicas.
A@s amig@s Danielle Gomes, Douglas Burgos, Ftima Carvalho, Paula Regina,
Roberta Sampaio e Suellen Brayner pelo carinho e pelos agradveis almoos durante o curso.
A@s amig@s Ernani Neto, Juliana Ribeiro, Hugo Henrique, Manoel Messias,
Marcelle Almeida, Mrcio Martins, pela solidariedade e pelos momentos de alegrias e
descontrao, em especial ao Eric Beserra, por sua alegria, companheirismo e ajuda nos
momentos finais deste trabalho.
Elizabeth Bandeira Pedrosa, pela amizade e apoio durante nossa permanncia
em Recife.
A@s amig@s do Curso de Mestrado e Doutorado em Botnica, pelo estmulo e
carinho demonstrados.
Enfim, a tod@s que direta ou indiretamente contriburam para a finalizao deste
trabalho.
-
vii
SUMRIO
AGRADECIMENTOS
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
RESUMO
ABSTRACT
INTRODUO........................................................................................................................ 16
REVISO BIBLIOGRFICA................................................................................................. 18
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ..................................................................................... 23
CAPTULO 1. Variao nictemeral e sazonal do fitoplncton de um lago amaznico (lago
Caracaran, estado de Roraima, Brasil)
RESUMO ................................................................................................................................. 28
ABSTRACT ............................................................................................................................. 28
Introduo................................................................................................................................. 29
Material e Mtodos................................................................................................................... 30
rea de estudo ................................................................................................................... 30
Metodologia....................................................................................................................... 30
Resultados e discusso ............................................................................................................. 32
Agradecimentos ........................................................................................................................ 38
Referncias bibliogrficas ........................................................................................................ 38
CAPTULO 2. Estrutura e funcionamento da comunidade fitoplanctnica de um ecossistema
lacustre da plancie de inundao do rio Branco, estado de Roraima, Brasil
ABSTRACT ............................................................................................................................. 56
RESUMO ................................................................................................................................. 57
Introduo................................................................................................................................. 57
rea de estudo .......................................................................................................................... 58
Metodologia.............................................................................................................................. 59
Resultados................................................................................................................................. 60
-
viii
Discusso.................................................................................................................................. 64
Agradecimentos ........................................................................................................................ 66
Referncias ............................................................................................................................... 66
CONSIDERAES FINAIS ................................................................................................... 82
ANEXOS
-
ix
LISTA DE FIGURAS
Manuscrito 1
Figura 1. Variaes mensais de precipitao pluviomtrica (mm) e temperatura do ar
(C), no perodo de janeiro de 2005 a outubro de 2006, no municpio de Boa Vista, estado de Roraima, Brasil. 44
Figura 2. Variao vertical e nictemeral de oxignio (mg.L-1) e temperatura (C), no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil (A: oxignio dissolvido no perodo chuvoso/2005; B: temperatura da gua no perodo chuvoso/2005; C: oxignio dissolvido no perodo seco/2005 e D: temperatura da gua no perodo seco/ 2005). 45
Figura 3. Variao vertical e nictemeral de oxignio (mg.L-1) e temperatura (C), no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil (A: oxignio dissolvido no perodo chuvoso/2006; B: temperatura da gua no perodo chuvoso/2006; C: oxignio dissolvido no perodo seco/2006 e D: temperatura da gua no perodo seco/2006). 46
Figura 4. Variao nictemeral da densidade fitoplanctnica (ind.mL-1), no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil (A: perodo chuvoso/2005, B: perodo seco/2005, C: perodo chuvoso/2006 e D: perodo seco/2006). 47
Figura 5. Ordenao cannica (ACC) das unidades amostrais com base nas variveis abiticas no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil. As unidades foram identificadas de acordo com os horrios (12h; 16h; 20h; 00h; 06h; 04h; 08h; e 12h) e as profundidades (S=Superfcie; M=Meio e F=Fundo). (Abreviaes: Tem= Temperatura da gua; pH=pH; O2=Oxignio dissolvido; Tur=Turbidez; Cond. =Condutividade eltrica; NO3=Nitrato e PTD=Fsforo total dissolvido). (= chuvoso 2005; = seco 2005; =chuvoso 2006; =seco 2006). 48
Figura 6. Ordenao cannica (ACC) das variveis biolgicas no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil. (Abreviaes: Bte=Botryococcus terribilis; Csp =Chlorococcum sp; Cna=Closterium navcula; Cre=Coelastrum reticulatum; Cco=Cosmarium contractum; Cra=Cylindrospermopsis raciborskii; Mgr=Monoraphidium griffithii; Tem=Merismopedia tenuissima; Pma=Pinnularia maior; Ssc=Sphaerocystis schroeteri; Sob=Staurastrum boergesenii; Snu=Staurastrum nudibrachiatum; Tsp=Tabellaria sp.). 49
-
x
Manuscrito 2
Figura 1. Variaes mensais de precipitao pluviomtrica (mm) e de temperatura do ar (C), no perodo de janeiro de 2005 a outubro de 2006, no municpio de Caracarai, estado de Roraima, Brasil. 71
Figura 2. Variao vertical e nictemeral de oxignio (mg.L-1) e temperatura (C), no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil (A: oxignio dissolvido no perodo chuvoso/2005; B: temperatura da gua no perodo chuvoso/2005; C: oxignio dissolvido no perodo seco/2005 e D: temperatura da gua no perodo seco/ 2005). 72
Figura 3. Variao vertical e nictemeral de oxignio (mg.L-1) e temperatura (C), no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil (A: oxignio dissolvido no perodo chuvoso/2006; B: temperatura da gua no perodo chuvoso/2006; C: oxignio dissolvido no perodo seco/2006 e D: temperatura da gua no perodo seco/2006). 73
Figura 4. Variao nictemeral da densidade fitoplanctnica (ind.mL-1 ), no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil (A: perodo chuvoso/2005, B: perodo seco/2005, C: perodo chuvoso/2006 e D: perodo seco/2006). 74
Figura 5. Ordenao cannica (ACC) das unidades amostrais com base nas variveis abiticas no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil. As unidades foram identificadas de acordo com os horrios (12h; 16h; 20h; 00h; 06h; 04h; 08h; e 12h) e as profundidades (S=Superfcie; M=Meio e F=Fundo). (Abreviaes: Tem= Temperatura da gua; pH=pH; O2=Oxignio dissolvido; Tur=Turbidez; Cond. =Condutividade eltrica; NO3=Nitrato e PTD=Fsforo total dissolvido). (= chuvoso 2005; = seco 2005; =chuvoso 2006; =seco 2006). 75
Figura 6. Ordenao cannica (ACC) das variveis biolgicas no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil. (Abreviaes: Agr = Aulocoseira granulata; Aan = Aulocoseira granulata var. angustissima; Ahe = Aulocoseira herzogii; Aco = Anabaena constricta; Asp = Aphanocapsa sp; Dse = Dinobryon sertularia Cls = Closterium sp; Cmi = Chroococcus minor; Cfe = Crucigenia fenestrada; Fit = Fitoflagelados; Klu = Kirchneriella lunaris; Lov = Lepocinclis ovum; Mva = Melosira varians; Tem = Merismopedia tenuissima; Mar = Monoraphidium arcuatum; Mct = Monoraphidium contortum; Mgr = Monoraphidium griffithii; Pes = Peridinium sp; Psp = Phormidium sp; Squ = Scenedesmus quadricauda; Ssc = Sphaerocystis schroeteri; Ssp = Scenedesmus sp; Tsp = Tabellaria sp). 76
-
xi
LISTA DE TABELAS
Manuscrito 1
Tabela 1. Variveis abiticas, concentraes de nutrientes e ndice de estado trfico (IET) no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil em dois ciclos nictemerais (2005 e 2006) (S Superfcie; M Meio e F Fundo). * A coleta do perodo chuvoso/05 das 04h00minh foi realizada s 06h00minh. 50
Tabela 2. Txons fitoplanctnicos identificados no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil em dois ciclos nictemerais (2005 e 2006) (C: perodo chuvoso; S: perodo seco; FO: freqncia de ocorrncia MF: muito freqente F: freqente, PF: pouco freqente e E: espordico).. 51
Tabela 3. Espcies abundantes e respectivas densidades totais (ind.mL-1) no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil, durante os perodos chuvoso e seco de 2005 e 2006. 52
Tabela 4. Sntese dos resultados da anlise de correspondncia cannica (ACC) baseada nas varveis abiticas e nas espcies abundantes no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil. 53
Tabela 5. Coeficientes cannicos e correlaes intra-set das variveis abiticas para os eixos 1 e 2 no lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil. 54
Manuscrito 2
Tabela 1. Variveis abiticas, concentraes de nutrientes e ndice de estado trfico (IET) no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil em dois ciclos nictemerais (2005 e 2006) (S Superfcie; M Meio e F Fundo). * A coleta do perodo chuvoso/05 das 04h00minh foi realizada s 06h00minh. 77
Tabela 2. Txons fitoplanctnicos identificados no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil em dois ciclos nictemerais (2005 e 2006) (C: perodo chuvoso; S: perodo seco; FO: freqncia de ocorrncia MF: muito freqente F: freqente, PF: pouco freqente e E: espordico).. 78
Tabela 3. Espcies abundantes e respectivas densidades totais (ind.mL-1) no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil, durante os perodos chuvoso e seco de 2005 e 2006. 79
Tabela 4. Sntese dos resultados da anlise de correspondncia cannica (ACC) baseada nas varveis abiticas e nas espcies abundantes no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil. 80
Tabela 5. Coeficientes cannicos e correlaes intra-set das variveis abiticas para os eixos 1 e 2 no lago dos Reis, estado de Roraima, Brasil. 81
-
xii
Silva, Ise de Goreth; Dra; Universidade Federal Rural de Pernambuco; fevereiro de 2008; Estrutura e funcionamento da comunidade fitoplanctnica em ambientes lacustres do estado de Roraima, Brasil; Ariadne do Nascimento Moura; Maria do Carmo Bittencourt Oliveira.
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar, em escala nictemeral e sazonal, a estrutura
da comunidade fitoplanctnica e a influncia das variveis limnolgicas sobre esta
comunidade, em dois lagos amaznicos: lago Caracaran (035041 N e 5946'52,1 W) e
lago dos Reis (013059,5 N e 6115'50,4" W). Foram realizadas amostragens com
freqncia nictemerais, em intervalos de 4 horas, completando dois ciclos de 24 horas em dois
perodos climatolgicos distintos: perodo chuvoso (agosto e setembro/2005 e junho/2006) e
perodo seco (dezembro/2005 e novembro/2006). As coletas foram feitas em uma estao
central dos lagos, na subsuperfcie (0,20 m), meio e aproximadamente 30 cm acima do fundo
da coluna dgua, utilizando-se garrafa de van Dorn. As variveis abiticas analisadas foram:
temperatura, oxignio dissolvido, pH, condutividade eltrica, turbidez, nitrognio total,
nitrito, nitrato, fsforo total, fsforo total dissolvido e ortofosfato. A comunidade
fitoplanctnica foi avaliada em relao composio e densidade. A relao entre as variveis
abiticas e a comunidade fitoplanctnica foi avaliada atravs da anlise de correspondncia
cannica (ACC). O lago Caracaran apresentou-se oxigenado com predomnio de perfil do
tipo ortogrado, guas levemente cidas, polimtico com estratificao diurna e circulao
noturna durante o perodo chuvoso e camada homognea no perodo seco e baixas
concentraes de nutrientes caracterizando-o como um ambiente oligotrfico. Um total de 60
txons foi identificado, com predomnio das desmdias (50% dos txons). As espcies
Botryococcus terribilis J. Komrek & P. Marvan e Sphaerocystis shroeteri Chodat
apresentaram freqncia de ocorrncia de 92,86%. As variaes nictemerais de densidades
populacionais tenderam formao de gradientes verticais com valores ligeiramente maiores
na subsuperfcie. Em relao sazonalidade, as maiores densidades ocorreram no perodo
chuvoso e as menores no perodo seco. O lago dos Reis apresentou guas com baixas
concentraes de oxignio e presena de perfil clinogrado, variando entre levemente cidas a
alcalinas, estratificadas no perodo diurno e homogneas no perodo noturno e baixas
concentraes de nutrientes. A comunidade fitoplanctnica esteve representada por 54 txons,
com predomnio das Chlorococcales (22 espcies). Reduzidas densidades fitoplanctnica
ocorreram nos dois ciclos nictemerais, com acentuado gradiente vertical. As maiores
-
xiii
densidades foram registradas no perodo seco e as menores no chuvoso. O lago dos Reis
apresenta caractersticas que permitem classific-lo como um ambiente polimtico e
oligotrfico. A anlise de correspondncia cannica mostrou que a variabilidade dos dados foi
mais importante sazonalmente do que na escala nictemeral. Em sntese, conclui-se que as
diferenas observadas na estrutura e dinmica da comunidade fitoplanctnica dos lagos esto
relacionadas s caractersticas peculiares de cada um, tais como, baixas concentraes de
oxignio dissolvido, guas turvas, pH variando de levemente cido a alcalino do lago dos
Reis, contrastando com guas bem oxigenadas, alta transparncia e pH levemente cido do
lago Caracaran.
Palavras-chave: composio florstica, densidade, ciclo nictemeral, lagos, estado de Roraima, Brasil.
-
xiv
Silva, Ise de Goreth; Dra; Universidade Federal Rural de Pernambuco; fevereiro de 2008; Estrutura e funcionamento da comunidade fitoplanctnica em ambientes lacustres do estado de Roraima, Brasil; Ariadne do Nascimento Moura; Maria do Carmo Bittencourt Oliveira.
ABSTRACT
The aim of the present study was to analyze the structure of the phytoplankton
community on the nyctemeral and seasonal scales and the influence of limnological variables
in two Amazon lakes: Caracaran Lake (035041 N and 5946'52.1 W) and Lago dos Reis
(013059.5 N and 6115'50.4" W). Sampling was performed with nictemeral frequency in 4-
hour intervals, completing two 24-hour cycles in two distinct climate periods: rainy season
(August and September 2005 and June 2006) and dry season (December 2005 and November
2006). Collections were made at a central station in the lakes at the subsurface (0.20 m),
middle and approximately 30 cm above the bottom of the water column, using a van Dorn
bottle. The following abiotic variables were analyzed: temperature, dissolved oxygen, pH,
electrical conductivity, turbidity, total nitrogen, nitrate, total dissolved phosphorus and
orthophosphate. The phytoplankton community was assessed with regard to composition and
density. The relationship between the phytoplankton community and abiotic variables was
assessed using canonical correspondence analysis. Caracaran Lake proved oxygenated, with
a predominance of an ortograde profile, slightly acidic, polymythic waters with diurnal
stratification and nocturnal circulation during the rainy season and homogeneous layers
during the dry season, with low concentrations of nutrients, characterizing an oligotrophic
environment. A total of 60 taxa were identified, with a predominance of desmids (50% of the
taxa). The species Botryococcus terribilis J. Komrek & P. Marvan e Sphaerocystis shroeteri
Chodat had a 92.86% frequency of occurrence. The nictemeral variations in population
densities tended toward the formation of vertical gradients, with slightly higher values at the
subsurface. Regarding seasonality, the greatest densities occurred in the rainy season and the
lowest densities occurred in the dry season. Lago dos Reis had low concentrations of oxygen,
a clinograde profile, waters ranging from slightly acidic to alkaline, stratified during the day
and homogenous at night, with low concentrations of nutrients. The phytoplankton
community was represented by 54 taxa, with a predominance of Chlorococcales (22 species).
Small densities of phytoplankton occurred in both nictemeral cycles, with an accentuated
vertical gradient. The highest densities were recorded in the dry season and lowest densities
were recorded in the wet season. Lago dos Reis exhibit characteristics that classify it as a
-
xv
polymythic, oligotrophic environment. The canonical correspondence analysis demonstrated
that the variability in the data was more important seasonally than on the nictemeral scale. It
was concluded that differences found in the structure and dynamics of the phytoplankton
communities are related to the particular characteristics of each lake, such as low
concentrations of dissolved oxygen, turbid waters, pH ranging from slightly acidic to alkaline
at Lago dos Reis, contrasting the well-oxygenated waster, high transparency and slightly acid
pH in Caracaran Lake.
Key words: floristic composition, density, nictemeral cycle, lakes, state of Roraima, Brazil.
-
16
INTRODUO
A Regio Amaznica caracterizada por apresentar o maior sistema fluvial da
Terra, constituda por um imenso nmero de rios, igaraps, cachoeiras e lagos que se formam
pelo represamento de alguns rios. No que diz respeito ao estado de Roraima, este apresenta
uma bacia hidrogrfica com uma grande variedade de sistemas aquticos continentais que se
distinguem uns dos outros por apresentarem caractersticas fsicas, qumicas e biolgicas
bastante peculiares. Toda essa diversidade faz da regio um ambiente com grande potencial
para o desenvolvimento e aprofundamento dos estudos limnolgicos.
Dentre estes ecossistemas, encontram-se as reas alagveis. Estas reas so
caracterizadas por apresentar suaves depresses, freqentemente ocupadas por lagos e brejos.
Estes lagos podem ocorrer em cabeceiras de drenagem, em ramos de primeira ordem,
podendo alguns deles estar ligeiramente desligados dos canais de escoamento, que a partir
deles estendem-se para jusante, sublinhados progressivamente por vegetao fina e alongada
(AbSaber 1997).
A maioria desses lagos est localizada em depresses da Formao Boa Vista
cujas bacias so geralmente de pequena dimenso e afastadas da influncia de descargas
fluviais de grande e mdio porte, podendo ser originada pelo acmulo de guas de chuva,
neste caso, com carter temporrio; pelo afloramento do lenol fretico ou pela drenagem de
alguns igaraps. Estes lagos apresentam, geralmente, guas claras, podendo ser ocupados por
vrias espcies de macrfitas aquticas, pela presena de depsitos de algas filamentosas ou
podendo ser desprovidos de vegetao (Filho et al. 1997).
No estado de Roraima, embora se reconhea a importncia dos sistemas lacustres
como reservatrios de gua para o abastecimento domstico e lazer dos povos que habitam as
savanas roraimenses, como reas de produo de peixes, alm da beleza paisagstica que estes
ecossistemas proporcionam, sua existncia est sendo comprometida a cada dia por grandes
interferncias antrpicas, tais como, aterros para fins imobilirios, contaminao de suas
guas por carga agrcola difusa, que tm levado degradao paisagstica da regio e perda
da diversidade biolgica.
Conhecer e avaliar a biodiversidade destes ambientes , portanto, uma atitude
necessria e urgente, haja vista que nenhum estudo desta natureza foi realizado nestes
ambientes.
-
17
Segundo Nogueira & Couto (2004), a amostragem limnolgica em reas
sazonalmente inundveis bem mais complexa, pois tanto o aspecto espacial quanto o
temporal tm importncia decisiva para a dinmica de funcionamento do sistema.
A comunidade algal considerada como um bom indicador das mudanas que
ocorrem em um ambiente aqutico, devido s suas respostas rpidas e a intervalos de tempo
curto, principalmente no que diz respeito aos processos reprodutivos. Neste sentido, o
conhecimento da estrutura e funcionamento dessas comunidades, assim como sua interao
com o meio fsico, tornam-se essenciais para o entendimento do comportamento desses
ambientes, visando utilizao sustentvel de seus recursos e ao acesso s geraes futuras.
A grande variabilidade temporal e espacial da estrutura e funo da comunidade
fitoplanctnica assume relevante papel em estudos sobre a dinmica de ecossistemas
aquticos, sendo que suas flutuaes podem adquirir carter preditivo sobre as possveis
mudanas do meio onde vivem (Huszar 2000).
Segundo Tundisi (1999), o desenvolvimento econmico e social de qualquer pas
est fundamentado na disponibilidade de gua de boa qualidade e na capacidade de
conservao e proteo dos recursos hdricos. O estado de Roraima, como j mencionado,
privilegiado em sistemas hdricos, entretanto, nas ltimas dcadas, devido ao rpido
crescimento populacional, alguns corpos de gua comeam a apresentar sinais de alteraes
em suas caractersticas, comprometendo a qualidade e quantidade de suas guas. Neste
sentido, desenvolver estudos que visem contribuir para implementao de instrumentos de
gesto destes recursos hdricos faz-se necessrio, principalmente devido ao valor ecolgico,
gentico, paisagstico, e, acima de tudo, social, cultural e econmico que representam para o
Estado.
Dessa forma, este trabalho objetivou analisar a estrutura e a dinmica espao-
temporal da comunidade fitoplanctnica, em amostragens nictemerais, em ambientes lacustres
no estado de Roraima relacionando-as s variveis fsicas e qumicas da gua.
-
18
REVISO BIBLIOGRFICA
Estudos taxonmicos e ecolgicos sobre a comunidade fitoplanctnica em reas
alagveis, mais precisamente em lagos de plancie de inundao e outros lagos naturais, so
considerados recentes.
O conhecimento da flora fitoplanctnica nesses ambientes, nos ltimos dez anos,
est contido nos seguintes trabalhos: Izaguirre et al. (2001), Takano et al. (2001), Maberly et
al. (2002),Komrkov & Tavera (2003), Rodrigo et al. (2003), Domitrovic (2003), Schagerl
& Oduor (2003), Kangurt et al. (2003), Roozen et al. (2003), Schemel et al. (2004), Walks &
Cyr (2004) e Pinilla (2006). Estes trabalhos foram realizados em plancie de inundao das
bacias hidrogrficas de alguns rios da Argentina, Mxico, Estados Unidos, Espanha, Japo,
Colmbia, dentre outras.
A temtica abordada nestes trabalhos se refere, principalmente, estrutura e
dinmica da comunidade fitoplanctnica, enfocando os principais efeitos da variao do nvel
da gua como fator preponderante na composio e funcionamento dessas comunidades. Ela
enfoca, tambm, a influncia do padro sazonal sobre o comportamento ecolgico dos lagos,
uma vez que as concentraes de nutrientes, oxignio, e outras variveis limnolgicas, podem
tambm ser afetadas pela flutuao do nvel da gua.
Os resultados desses estudos referentes composio fitoplanctnica demonstram
que Cyanobacterias e Chlorophyta constituem grupos importantes nesses ambientes, sendo
muitas vezes grupos dominantes.
Estudos sobre a ecologia da comunidade fitoplanctnica, nos ltimos dez anos, em
lagos de plancie de inundao e outros lagos naturais brasileiros ainda so poucos, se
comparados a outros ecossistemas aquticos continentais.
Barbosa et al. (1995), em uma resenha realizada sobre publicaes que enfocam
estudos sobre a comunidade fitoplanctnica no Brasil, mostram que de 79 publicaes, 11
dizem respeito a lagos naturais (lagos de vrzea). A reviso de literatura sobre as pesquisas da
estrutura da comunidade fitoplanctnica em ecossistemas continentais, realizada por Huszar
& Giani (2004), comprova os poucos trabalhos sobre lagos de inundao e outros lagos
naturais, principalmente os localizados na regio Norte.
Os estudos abordando aspectos ecolgicos da comunidade fitoplanctnica no
Brasil iniciaram com as pesquisas de Braun (1952), em lagos de vrzeas da bacia do rio
Tapajs, onde foi descrito o fitoplncton de quatros lagos de guas claras (Mureta, Caxambu,
-
19
Jurucu e Salgado). O grupo das desmdias dominou nesses ambientes, com distribuio nas
camadas mais profundas dos lagos (Barbosa et al. 1995).
Um considervel aumento dos trabalhos ocorreu durante os anos 90 (36
trabalhos). Muitos destes foram realizados nos lagos naturais da bacia do Vale do Rio Doce,
regio sudeste do Brasil, na plancie de inundao do rio Araguaia, na plancie de inundao
do Pantanal Matogrossense e nos lagos de vrzea e de inundao da regio amaznica
(Espndola et al. 1996; Reynolds 1997; Tundisi et al. 1997; Oliveira & Calheiros 2000;
Nabout et al. 2006).
Na lagoa Albuquerque (Pantanal Matogrossense), Espndola et al. (1996)
verificaram o efeito da flutuao do nvel da gua sobre a dinmica da comunidade
fitoplanctnica. A densidade fitoplanctnica foi maior no perodo de guas baixas e menores
quando o ambiente encontrava-se no nvel de guas altas, principalmente, como conseqncia
da disponibilidade de nutrientes e luz que tambm so influenciados pela variao no nvel de
gua.
Os estudos desenvolvidos nos lagos naturais do trecho mdio da bacia do Rio
Doce-MG enfocam aspectos da qualidade fsica, qumica e biolgica das guas, inventrios da
biodiversidade, estimativas da produtividade primria do fitoplncton e bacterioplncton a
intervalos sazonais e /ou mensais (Barbosa et al. 2005). Essas pesquisas indicam que os lagos
so oligotrficos e mesotrficos, conforme as estaes do ano (seca ou chuva) e variaes
diurnas (24 horas). So, em sua maioria, monomticos quentes, estratificados entre setembro e
abril e isotrmicos de maio a agosto.
Em relao diversidade algal, estudos realizados no perodo de 2000 a 2003
registram a ocorrncia de 225 espcies nesses lagos (Barbosa et al. 2005).
Estudos limnolgicos realizados no lago Dom Helvcio, localizado no Parque
Florestal do Vale do Rio Doce, caracterizam-no como um ambiente estratificado (setembro a
maro) e isotrmico (junho e julho). Esse padro de estratificao classifica-o como um
ecossistema monomtico quente, hipolmnio anxico no perodo de estratificao e epilmnio
com elevadas concentraes de oxignio dissolvido (Matsumura-Tundisi & Tundisi 1995;
Henry 1995).
Petrucio & Barbosa (2004) avaliaram as taxas de produtividade
bacterioplanctnica e fitoplanctnica de quatro lagos do trecho mdio da bacia do Vale do Rio
Doce: Dom Helvcio, Amarela, Carioca e guas Claras. Os resultados evidenciam uma ntida
estratificao trmica e qumica nesses ambientes durante o perodo chuvoso (janeiro), com
valores baixos nas camadas mais profundas. Em relao s taxas de produtividade, os lagos
apresentam taxas variando de baixas (lago Dom Helvcio) a altas (lagos Carioca, Amarela).
-
20
Lopes et al. (2005) realizaram estudos em curto intervalo de tempo em um
pequeno e oligotrfico reservatrio situado na Reserva Biolgica Parque Estadual das Fontes
do Ipiranga (SP). Foram identificados 120 txons de algas distribudos entre as Classes
Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae, Cyanophyceae, Zygnemaphyceae.
Chlorophyceae foi a classe melhor representada, com 39 espcies. Os autores observaram a
ocorrncia de estratificao trmica temporria e circulao noturna no perodo seco e no
perodo chuvoso uma estratificao mais estvel e sem circulao noturna, exceto no 7 dia de
amostragem.
Barros et al. (2006) desenvolveram estudos no lago Dom Helvcio, focalizando a
estrutura de tamanho do fitoplncton e sua relao com as variaes sazonais. Os autores
constataram diferenas na distribuio das classes de tamanho em relao s condies de
estabilidade trmica da coluna d'gua. Em condies de estratificao, h predomnio de nano
e ultraplncton e, quando a coluna d'gua se apresentava totalmente misturada, os grupos que
dominavam eram o microplncton e o plncton de rede.
Nabout et al. (2006) estudaram a comunidade fitoplanctnica de 21 lagos da
plancie de inundao do rio Araguaia. Foram identificadas 292 espcies de algas, sendo
Chlorophyceae o grupo dominante com 106 espcies. Em relao ao biovolume, os maiores
valores ocorreram no perodo de guas baixas e menores no perodo de guas altas.
Estudos ecolgicos sobre comunidades fitoplanctnicas em lagos de plancie de
inundao e outros lagos naturais na Amaznia legal brasileira ainda so escassos,
considerando-se a importncia desses ambientes para tal regio. Estudos abordando a
taxonomia do fitoplncton, nesses ecossistemas, foram realizados por Menezes et al. (1995),
Huszar (1996a), Sophia & Dias (1996), Sophia & Huszar (1996), Kristiansen & Menezes
(1998), Keppeler et al. (1999a, 1999b), e Lopes & Bicudo (2003). Os resultados desses
estudos demonstram que em guas amaznicas Chlorophyta representa um importante grupo
na flora ficolgica, tendo as Desmidiaceae como as mais representativas, isto em funo das
caractersticas cidas que as guas dos ecossistemas amaznicos apresentam.
Trabalhos enfocando ecologia do fitoplncton, com avaliaes da biomassa,
densidade, produo primria e variveis hidrolgicas, foram desenvolvidos por Huszar
(1996b), Huszar & Reynolds (1997), Huszar et al. (1998), Ibaez (1998), Kristiansen &
Menezes (1998), Huszar (2000), Dellamano-Oliveira et al. (2003). Os resultados desses
estudos evidenciam que os padres temporais e espaciais da estrutura da comunidade
fitoplanctnica podem ser influenciados pelo pulso hidrolgico. Em relao densidade e
biomassa fitoplanctnica, as desmdias desempenham importante papel nesses ambientes
-
21
aquticos, confirmando mais uma vez a importncia desse grupo de algas em guas
amaznicas.
Estudos ficolgicos, onde so fornecidas listagens de espcies, foram feitos por
Huszar (1996b), Ibaez (1998) e Melo et al. (2004). As espcies pertencem a diversos grupos
de algas, tais como, Cyanophyta, Chlorophyta (Zygnemaphyceae), Bacillariophyta,
Xanthophyta, Chrysophyta, Dinophyta e Euglenophyta.
Dellamano-Oliveira et al. (2003) concluram que a dinmica e a estrutura da
comunidade fitoplanctnica da lagoa do Ca (MA) so determinadas pelo regime
climatolgico, com predomnio quantitativo das Chlorophyta no perodo chuvoso e das
Cianobacterias no perodo de seca. Em relao s variveis limnolgicas, estas apresentaram
distribuio espacial homognea.
Dentre os sistemas lacustres de plancie de inundao na Amaznia brasileira
intensivamente investigado at o momento, nos aspectos limnolgicos e na estrutura da
comunidade fitoplanctnica, encontra-se o Lago Batata (PA). O trabalho desenvolvido nesse
ambiente pioneiro, gerando ampla gama de informaes sobre variveis limnolgicas e
nutrientes (Panosso & Kubrusly 2000; Guenther & Bozelli 2004), fitoplncton (Huszar 1996a;
1996b; 2000), produo primria do fitoplncton (Roland 2000), zooplncton (Bozelli 2000),
bacterioplncton (Anesio 2000), enfim, informaes ecolgicas sobre o lago. No que diz
respeito ao fitoplncton este composto por representantes de Cyanophyceae, Chlorophyceae,
Zygnemaphyceae, Euglenophyceae, Raphidophyceae, Bacillariophyceae, Xantophyceae,
Chrysophyceae, Cryptophyceae e Dinophyceae, com Chlorophyta como grupo dominante.
Melo et al. (2004) estudaram a comunidade fitoplanctnica do lago Batata e lago
Mussur, dois lagos da plancie de inundao do rio Trombetas (PA), no perodo de guas
altas com amostragens nictemerais. As densidades populacionais fitoplanctnica no lago
Batata foram reduzidas e apresentaram-se distribudas verticalmente estratificadas durante o
perodo diurno e distribuio homognea no perodo noturno at ao amanhecer. Enquanto que
no lago Mussur, as densidades populacionais estiveram concentradas nas camadas mais
superficiais e foram maiores do que as do lago Batata. Os autores tambm relataram que a
diferena no comportamento nictemeral entre as comunidades fitoplanctnicas nos dois lagos
se deu em funo das diferenas hidrogrficas e hidrolgicas da regio.
Esteves et al. (1994), investigando o metabolismo de dois lagos da plancie de
inundao do rio Trombetas (PA) atravs de amostragens nictemerais, concluram que o
comportamento trmico determinou a variao diria das demais variveis analisadas, com
distribuio vertical homognea no lago Batata e estratificada no lago Mussur. As
concentraes de clorofila a foram menor no lago Batata.
-
22
Estudos ecolgicos da comunidade algal para ambientes aquticos no estado de
Roraima iniciaram-se com Gomes (dados no publicados), com o objetivo de avaliar a
estrutura da comunidade ficoperiftica em dois ambientes lticos no Municpio de Boa Vista,
durante um ciclo sazonal. Segundo a autora, as modificaes populacionais que ocorreram
nos sistemas estudados foram em funo de precipitao pluviomtrica, ocasionando elevao
do nvel da gua e, conseqentemente, alteraes na estrutura da comunidade. A flora
periftica est representada por fitoflagelados, diatomceas, algas verdes, algas azuis e outros
grupos, tendo os fitoflagelados e as diatomceas as maiores densidades relativas durante o
perodo do estudo.
At o momento, observa-se a necessidade de mais informaes sobre os sistemas
lacustres de plancie de inundao e outros lagos naturais do estado de Roraima, necessitando,
portanto, de estudos que contribuam para o conhecimento de suas caractersticas fsicas,
qumicas e biolgicas. Entende-se, ainda, que estas informaes possam contribuir em aes
de conservao e preservao desses recursos hdricos.
-
23
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Absaber, A.N. 1997. A formao Boa Vista: o significado geomorfolgico e geoecolgico no contexto do relevo de Roraima. Pp. 267-293. In: R.I. Barbosa; E.J.G. Ferreira & E.G. Castelln (eds.). Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. Manaus, INPA.
Anesio, A.M. 2000. Bacterioplncton. Pp. 75-88. In: R.L Bozelli; F.A. Esteves & F. Roland (eds.). Lago Batata: impacto e recuperao de um ecossistema amaznico. Rio de Janeiro, UFRJ/SBL.
Barbosa, F.A.R.; Bicudo, C.E. de M. & Huszar, V.L. de M. 1995. Phytoplankton studies in Brazil: Community structure variation and diversity. Pp. 19-36. In: J.G. Tundisi; C.E. de M. Bicudo & T. Matsumura-Tundisi (eds.). Limnology in Brazil. Rio de Janeiro, ABC/SBL.
Barbosa, F.A.R.; Maia-Barbosa, P.M.; Rietzles, A.C.; Garcia, F.C. & Brito, S.L. 2005. O Programa de Pesquisas Ecolgicas de Longa Durao e a Atuao da UFMG e Seus Parceiros em uma Proposta de Integrao do Conhecimento para a Tomada de Decises no Trecho Mdio da Bacia do Rio Doce, MG. Pp. 103-114. In: F. Roland; D. Csar & M. Marinho (eds.). Lies de Limnologia. So Carlos, RIMA.
Barros, C.F.A.; Souza, M.B.G. & Barbosa, F.A.R. 2006. Seasonal mechanisms driving phytoplankton size structure in a tropical deep lake (Dom Helvcio Lake, South-East Brazil).Acta Limnologica Brasiliensia 18(1):55-66.
Bozelli, R. L. 2000. Zooplncton. Pp. 75-88. In: R.LBozelli; F.A. Esteves & F. Roland (eds.). Lago Batata: impacto e recuperao de um ecossistema amaznico. Rio de Janeiro, UFRJ/SBL.
Dellamano-Oliveira, M.J.; Senna, P.A.C.; Taniguchi, G.M. 2003. Limnological characteristics and seasonal changes in density and diversity of the phytoplanktonic community at the Ca-Pond, Maranho State, Brazil. Brazilian Archives of Biology and Tecnology 46(4): 641-651.
Domitrovic, Y.Z. 2003. Effect of fluctuations in water level on phytoplankton development in three lakes of the Paran River floodplain (Argentina). Hydrobiologia 510: 175-193.
Espndola, E.G.; Matsumura-Tundisi, T. & Moreno, I.D. 1996. Estrutura da comunidade fitoplanctnica da lagoa Albuquerque (Pantanal Matogrossense), Mato Grosso do Sul, Brasil. Acta Limnologica Brasiliensia 8 :13-37.
Esteves, F.A.; Thomaz, S.M. & Roland, F. 1994. Comparison of the metabolism of two floodplain lakes of the Trombetas River (Par, Brazil) based on study of diel variation. Amazoniana 13(1/2): 33-46.
Filho, F.S.; Turcq, B.; Filho, A.C. & Souza, A.G. de. 1997. Registros sedimentares de lagos e brejos dos campos de Roraima: implicaes paleoambientais ao longo do Holoceno. Pp. 295-305. In: R.I. Barbosa; E.J.G. Ferreira & E.G. Castelln (eds.). Homem, Ambiente e Ecologia do Estado de Roraima. Manaus, INPA.
Guenther, M. & Bozelli, R. 2004. Effects of inorganic turbidity on the phytoplankton of an Amazonian lake impacted by bauxite tailings. Hydrobiologia 511: 151-159.
-
24
Henry, R. 1995. The thermal structure of some Lakes and Reservoirs in Brazil. Pp. 351- 363. In: J.G. Tundisi; C.E. de M. Bicudo & T. Matsumura-Tundisi (eds.). Limnology in Brazil. Rio de Janeiro, ABC/SBL.
Huszar, V.L.M. 1996a. Floristic composition and biogeographical aspects of phytoplankton of an Amazonian floodplain lake (Lago Batata, Par, Brasil). Acta Limnologica. Brasiliensia 8: 127-136.
Huszar, V.L.M. 1996b. Planktonic algae other than desmids, of three Amazonian Systems Lake (Lake Batata, Lake Mussur and Trombetas River), Par, Brazil. Amazoniana 14 (1/2): 37-73.
Huszar, V.L.M. 2000. Fitoplncton. Pp. 91-104. In: R.L Bozelli; F.A. Esteves & F. Roland (eds.). Lago Batata: impacto e recuperao de um ecossistema amaznico. Rio de Janeiro, UFRJ/SBL.
Huszar, V.L.M. & Giani, A. 2004. Amostragens da Comunidade Fitoplanctnica em guas Continentais: Reconhecimento de Padres Espaciais e Temporais. Pp.133-147. In: C.E. de M. Bicudo & D. de C. Bicudo (eds.). Amostragem em Limnologia. So Carlos, RIMA.
Huszar, V.L.M. & Reynolds, C.S. 1997. Phytoplankton periodicity and sequences of dominance in an Amazonian floodplain lake (Lago Batata, Par, Brazil): responses to gradual environmental change. Hydrobiologia 346: 169-181.
Huszar, V.L.M.; Silva, L.H.S.; Domingos, P.; Marinho, M. & Melo, S. 1998. Phytoplankton species composition is more sensitive than OECD criteria to the trophic status of three Brazilian tropical lakes. Hydrobiologia 369/370: 59-71.
Ibaez, M.S.R. 1998. Phytoplankton composition and abundance of a central Amazonian floodplain lake. Hydrobiologia 362: 78-83.
Izaguirre, I.; Ofarrell, I. & Tell, G. 2001. Variation in phytoplankton composition and limnological features in a water-water ecotone of the Lower Paran Basin (Argentina). Freshwater Biology 46: 63-74.
Kangur, K.; Mols, T.; Milius, A. & Laugaste, R. 2003. Phytoplankton response to changed nutrient level in Lake Peipsi (Estonia) in 1992-2001. Hydrobiologia 506-509: 265-272
Keppeler, E.C.; Lopes, M.R.M & Lima, C.S. 1999a Ficoflrula do lago Amap em Rio Branco-Acre, I: Euglenophyceae. Revista Brasileira de Biologia 59(4): 679-686.
Keppeler, E.C.; Lopes, M.R.M & Lima, C.S. 1999b. Ficoflrula do lago Amap em Rio Branco-Acre, II: Chlorophyta. Revista Brasileira de Biologia 59(4): 687-691
Komrkov, J. & Tavera, R. 2003. Steady state of phytoplankton assemblage in the tropical Lake Catemaco (Mexico). Hydrobiologia 502:187-196.
Kristiansen, J & Menezes, M. 1998. Silica-scaled Chrysophytes from an Amazonian floodplain lake, Mussar Lake, northern Brazil. Algological Studies 90: 97-118.
Lopes, M.R.M & Bicudo, C.E. de M. 2003. Desmidioflrula de um lago da plancie de inundao do Rio Acre, Estado do Amazonas, Brasil. Acta Amazonica 33(2) 167-212.
-
25
Lopes, M.R.M.; Bicudo, C.E. de M. & Ferragut, M.C. 2005. Short term spatial and temporal variation of phytoplankton in a shallow tropical oligotrophic reservoir, southeast Brazil. Hydrobiologia 542: 235-247.
Maberly, S.C.; King, L.; Dent, M.M.; Jones, R.I. & Gibson, C.E. 2002. Nutrient limitation of phytoplankton and periphyton growth in upland lakes. Freshwater Biology 47: 2136-2152.
Matsumura-Tundisi, T. & Tundisi, J.G. 1995. Limnology of a warm monomictic Lake at Rio Doce Forest Park (Lake Dom Helvecio, MG, Eastern Brazil). Pp. 245-255. In: J.G. Tundisi; C.E. de M. Bicudo & T. Matsumura-Tundisi (eds.). Limnology in Brazil. Rio de Janeiro, ABC/SBL.
Melo, S.; Huszar, V.L.M.; Roland, F.; Esteves, F.A. & Bozelli, R. 2004. Phytoplankton diel variation and vertical distribution in two Amazonian floodplain lakes (Batata Lake and Mussur Lake, Par-Brasil) with different mixing regimes. Amazoniana 18(1/2): 1-10.
Menezes, M.; Fonseca, C.G & Nascimento, E.P. do. 1995. Algas de trs ambientes de guas claras do Municpio de Parintins, Estado do Amazonas, Brasil: Euglenophyceae e Dinophyceae. Hoehnea 22(1/2): 1-15.
Nabout, J.C.; Nogueira, I.S. & Oliveira, L.G. 2006. Phytoplankton community of floodplain lakes of the Araguaia River, Brazill, in the rainy and dry seasons. Journal of Plankton Research 28(2): 181-193.
Nogueira, F. & Couto, E.G. 2004. Amostragem em plancies de inundao. Pp. 281-293. In: C.E. de M. Bicudo & D. de C. Bicudo (eds.). Amostragem em Limnologia. So Carlos, RIMA.
Oliveira, M.D. de & Calheiros, D.F. 2000. Flood pulse influence on phytoplankton communities of the south Pantanal floodplain, Brazil. Hydrobiologia 427: 101-112.
Panosso, R. & Kubrusly, L. 2000. Avaliao espacial e temporal das variveis limnolgicas bsicas e nutrientes. Pp. 57-71. In: R.L Bozelli; F.A. Esteves & F. Roland (eds.). Lago Batata: impacto e recuperao de um ecossistema amaznico. Rio de Janeiro, UFRJ/SBL.
Petrucio, M.M. & Barbosa, F.A.R. 2004. Diel variations of phytoplankton and bacterioplankton production rates in four tropical lakes in the middle Rio Doce basin (southeastern Brazil). Hydrobiologia 513: 71-76.
Pinilla, G.A. 2006. Vertical distribution of phytoplankton in a clear water lake of Colombian Amazon (Lake Boa, Middle Caquet). Hydrobiologia 79:90.
Reynolds, C.S. 1997. On the vertical distribution of phytoplankton in the Middle Rio Doce vale Lakes. Pp. 227-241. In: J.G Tundisi & Y Saijo (eds.). Limnological Studies on the Rio Doce Valley Lakes, Brazil. Brazilian Academy of Sciences, University of S. Paulo School of Engineering at S. Carlos, Center for Water Resources and Applied Ecology.
Rodrigo, M.A.; Rojo, C. & Armengo, L.X. 2003. Plankton biodiversity in a landscape of shallow water bodies (Mediterranean coast, Spain). Hydrobiologia 506-509: 317-326.
-
26
Roland, F. 2000. Produo primria fitoplanctnica. Pp. 107-117. In: R.L Bozelli; F.A. Esteves & F. Roland (eds.). Lago Batata: impacto e recuperao de um ecossistema amaznico. Rio de Janeiro, UFRJ/SBL.
Roozen, F.C.J.M.; Van Geest, G.J.; Ibelings, B. W.; Roijackers, R.; Scheffer, M. & Buijse, A.D. 2003. Lake age and water level affect the turbidity of floodplain lakes along the lower Rhine. Freshwater Biology 48: 519-531.
Schagerl, M. & Oduor, S.O. 2003. On the limnology of Lake Baringo (Kenya): II. Pelagic primary production and algal composition of Lake Baringo, Kenya. Hydrobiologia 506-509: 297-303.
SchemeL, L.E.; Sommer, T.R.; Muller-Solger, A.B. & Harrell, W. 2004. Hydrologic variability, water chemistry, and phytoplankton biomass in a large floodplain of the Sacramento River, CA, USA. Hydrobiologia 513:129-139.
Sophia, M.G & Dias, I.C. A. 1996. Algas de trs ambientes de guas claras do Municpio de Parintins, Estado do Amazonas, Brasil: Oedogoniophyceae. Hoehnia 23(2): 59-80.
Sophia, M.G. & Huszar. V.L.M. 1996. Planktonic desmids of three Amazonian systems (Lake Batata, Lake Mussur and Trombetas river), Par, Brazil. Amazoniana 14(1/2,):75-90.
Takano, K.; Ishikawa, Y.; Mikami, H.; Ban, S.; Yoshida, T.; Aono, T.; Imada, K.; Yasutomi, R.; Takeuchi & K.; Hino, S. 2001. Analysis of the change in dominant phytoplankton species in unstratified Lake Oshima-Ohnuma estimated by a bottle incubation experiment. Limnology 2: 29-35.
Tundisi, J.G.; Saijo, Y., Henry, R. & Nakamoto, N. 1997. Primary productivity, phytoplankton biomass and light photosynthesis responses in four lakes. Pp. 199- 225. In: J.G Tundisi & Y Saijo (eds.). Limnological Studies on the Rio Doce Valley Lakes, Brazil. Brazilian Academy of Sciences, University of S. Paulo School of Engineering at S. Carlos, Center for Water Resources and Applied Ecology.
Tundisi, J.G.1999. Limnologia no sculo XXI: perspectiva e desafios. So Paulo, IIE, 24p.
Walks, D.J. & Cyr, H. 2004. Movement of plankton through lake-stream systems. Freshwater Biology 49: 745-759.
-
CAPTULO 1
VARIAO NICTEMERAL E SAZONAL DO FITOPLNCTON DE UM LAGO AMAZNICO
(LAGO CARACARAN, ESTADO DE RORAIMA, BRASIL)
Manuscrito a ser submetido revista Acta Botanica Brasilica.
-
28
Variao nictemeral e sazonal do fitoplncton de um lago amaznico (lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil)
Ise de Goreth Silva1,4 Maria do Carmo Bittencourt-Oliveira2 e Ariadne do Nascimento Moura3
RESUMO (Variao nictemeral e sazonal do fitoplncton de um lago amaznico (lago Caracaran, estado de Roraima, Brasil). O objetivo deste trabalho foi analisar, em escala nictemeral e sazonal, a estrutura da comunidade fitoplanctnica no lago Caracaran, estado de Roraima (035041 N e 5946'52,1 W). Foram realizadas amostragens em perodo chuvoso (agosto/05 e junho/06) e perodo seco (dezembro/05 e novembro//06) contemplando dois ciclos nictemerais em uma estao central do lago, na subsuperfcie (0,20 m), meio e aproximadamente 30 cm acima do fundo da coluna dgua, utilizando-se garrafa de van Dorn. Foram analisadas as seguintes variveis abiticas: temperatura, oxignio dissolvido, pH, condutividade eltrica, turbidez, nitrognio total, nitrito, nitrato, fsforo total, fsforo total dissolvido e ortofosfato. A comunidade fitoplanctnica foi avaliada em relao composio e densidade. A relao entre as variveis abiticas e a comunidade fitoplanctnica foi avaliada atravs da anlise de correspondncia cannica (ACC). O sistema apresentou-se oxigenado com predomnio de perfil do tipo ortogrado, guas levemente cidas, polimtico com estratificao diurna e circulao noturna durante o perodo chuvoso e camada homognea no perodo seco e baixas concentraes de nutrientes.Um total de 60 txons foi identificado, com predomnio das desmdias (50% dos txons). As espcies Botryococcus terribilis J. Komrek & P. Marvan e Sphaerocystis shroeteri Chodat apresentaram freqncia de ocorrncia de 92,86%. As densidades populacionais tenderam formao de gradientes verticais com valores ligeiramente maiores na subsuperfcie. Em relao sazonalidade, as maiores densidades ocorreram no perodo chuvoso e as menores no perodo seco. O lago Caracaran pode ser classificado como um sistema oligotrfico, considerando as reduzidas densidades populacionais. Isto pode ser confirmado pelas baixas concentraes de nutrientes verificadas durante os dois ciclos nictemerais.
Palavras-chave: composio florstica, densidade, fitoplncton, ciclo nictemeral, lago, estado de Roraima, Brasil.
ABSTRACT (Nyctemeral and seasonal variation of phytoplankton in an Amazonian lake (Caracaran Lake, state of Roraima, Brazil). The aim of the present study was to perform a nyctemeral and seasonal analysis of the structure of the phytoplankton community in Caracaran Lake, state of Roraima (035041 N and 5946'52.1 W), Brazil. Samples were collected in the rainy season (August 2005 and June 2006) and dry season (December 2005 and November 2006), encompassing the two nyctemeral cycles in at a central station of the lake at the subsurface (0.20 m), middle and approximately 30 cm above the bottom of the water column, using a van Dorn bottle. The following abiotic variables were analyzed: temperature, dissolved oxygen, pH, electrical conductivity, turbidity, total nitrogen, nitrate, total dissolved phosphorus and orthophosphate. The phytoplankton community was assessed with regard to composition, density and biomass (chlorophyll a). The relationship between the phytoplankton community and abiotic variables was assessed using canonical correspondence analysis (CCA). The system proved oxygenated, with a predominance of an ortograde profile, slightly acidic, polymythic waters with diurnal stratification and nocturnal circulation during the rainy season and homogeneous layers during the dry season, with low concentrations of nutrients. A total of 60 taxa were identified, with a predominance of desmids (50% of the taxa).The species Botryococcus terribilis J. Komrek & P.
1 Universidade Federal de Roraima, Departamento de Biologia, Av. Ene Garcez, 2413, Aeroporto, 69304- 000 Boa Vista, RR,
Brasil; 2 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de Cincias Biolgicas, Av. Pdua Dias, 11, C. Postal 9,
13418-900 Piracicaba, SP, Brasil; 3 Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Biologia, rea de Botnica, R. Dom Manoel de Medeiros, s/n
Dois Irmos, 52171-030 Recife, PE, Brasil; 4 Autor para correspondncia: [email protected]
-
29
Marvan e Sphaerocystis shroeteri Chodat had a 92.86% frequency of occurrence. Population densities tended toward the formation of vertical gradients, with slightly higher values at the subsurface. Regarding seasonality, the greatest densities occurred in the rainy season and the lowest densities occurred in the dry season. Caracaran Lake can be classified as an oligotrophic system, considering the low population densities and concentrations of phytoplankton biomass. This is confirmed by the low concentrations of nutrients found during both nyctemeral cycles.
Key words: floristic composition, density, phytoplankton, nyctemeral cycle, lake, state of Roraima, Brazil.
Introduo
O estado de Roraima apresenta uma bacia hidrogrfica com uma grande variedade de sistemas
aquticos continentais que se distinguem uns dos outros por apresentarem caractersticas fsicas, qumicas
e biolgicas bastante peculiares. Toda essa diversidade faz da regio um ambiente com grande potencial
para o desenvolvimento e aprofundamento dos estudos limnolgicos da Regio Amaznica.
Dentre estes, encontram-se os sistemas lacustres situados nas reas de savanas na regio
nordeste de Roraima. A maioria desses lagos est localizada em depresses da Formao Boa Vista, cujas
bacias so, geralmente, de pequena dimenso e afastadas da influncia de descargas fluviais de grande e
mdio porte (Filho et al. 1997).
Tundisi et al. (2006) referem-se a lagos naturais como sendo sistemas aquticos naturais no
conectados a um rio e que tm seu funcionamento a partir de funes de fora climatolgicas, sem
interferncia de entradas de energia e material oriundos do rio.
No estado de Roraima, embora se reconhea importncia dos sistemas lacustres como
reservatrios de gua para o abastecimento domstico e reas de recreao e lazer da populao que
habita as savanas roraimenses, alm da beleza paisagstica que estes ecossistemas proporcionam, sua
existncia est sendo comprometida a cada dia por grandes interferncias antrpicas, tais como, aterros
para fins imobilirios, contaminao de suas guas por efluentes produzidos principalmente por esgotos
domsticos, resultando no comprometimento da qualidade e quantidade de suas guas e, futuramente,
perda da biodiversidade e degradao paisagstica da regio.
Muitos critrios tm sido utilizados nas avaliaes da qualidade da gua de um sistema
aqutico entre os quais, a comunidade fitoplanctnica tem merecido especial ateno e uma das razes,
que a grande variabilidade temporal e espacial da estrutura e funo da comunidade fitoplanctnica
assume relevante papel em estudos sobre a dinmica de ecossistemas aquticos, sendo que suas flutuaes
podem adquirir carter preditivo sobre as possveis mudanas do meio onde vivem (Huszar 2000).
Variaes diurnas de fatores ecolgicos podem desempenhar importncia significativa no
metabolismo de ecossistemas aquticos tropicais muito mais do que variaes sazonais (Ganf & Viner
1973; Alves et al. 1988).
-
30
Estudos ecolgicos do fitoplncton e de variveis ambientais em ecossistemas aquticos
tropicais que abordam as variaes dirias (nictemerais) podem ser considerados recentes quando
comparados com outras temticas, dentre estes, Esteves et al. 1988; 1994; Melo & Huszar 2000; Ramrez
& Bicudo 2002; 2003; 2005; Melo et al. 2004; Petrucio & Barbosa 2004; Lopes et al. 2005; Medeiros et
al. 2006; Pivato et al. 2006 e Cavalcante et al. 2007. Os resultados desses estudos demonstram que as
variaes dirias que ocorrem nas variveis ambientais e na comunidade fitoplanctnica adquirem carter
fundamental na caracterizao de ecossistemas aquticos tropicais.
Dentro deste contexto, este trabalho objetiva analisar, em escala nictemeral e sazonal, a
estrutura da comunidade fitoplanctnica e sua relao com variveis ambientais no lago Caracaran.
Material e mtodos
rea de estudo - O lago Caracaran (035041 N e 5946'52,1 W) situa-se no municpio de Normandia, a
aproximadamente 250 km ao norte de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Est localizado na
depresso da Formao Boa Vista e distribudo ao longo das reas de savanas, na regio nordeste do
estado de Roraima. O lago possui cerca de 3,8 km de circunferncia (Filho et al. 1997) e caracterizado
por apresentar guas claras, com variao sazonal de profundidade de 2,0 a 6,0 m, nos perodos seco e
chuvoso, respectivamente, e colonizado por uma densa comunidade de macrfitas aquticas emersas e
submersas.
De acordo com a classificao de Kppen, ocorre no estado de Roraima o grupo climtico A
(tropical mido). O regime de chuvas est representado por dois perodos bastante distintos: perodo
chuvoso compreendendo os meses de abril a setembro, e perodo seco, de outubro a maro (Fundao do
Meio Ambiente e Tecnologia de Roraima 1994). Durante o perodo de estudo, as condies
climatolgicas da rea estiveram caracterizadas por uma sazonalidade acentuada, tanto em relao
temperatura do ar quanto precipitao pluviomtrica. Os maiores valores de precipitao pluviomtrica
ocorreram no perodo chuvoso (abril a setembro) e os menores no perodo seco (outubro a maro). Os
maiores valores de temperatura ocorreram no perodo seco e os menores no perodo chuvoso. A mdia
mensal de precipitao pluviomtrica variou de 7 mm (fevereiro) a 643,7 mm (junho) e a temperatura
variou de 26,4 C (julho) a 29,4 C (novembro) (Instituto Nacional de Meteorologia, 2006) (Fig.1).
Metodologia - Foram realizadas amostragens com freqncia nictemerais, em intervalos de 4 horas,
completando dois ciclos de 24 horas em dois perodos climatolgicos distintos: perodo chuvoso
(agosto/2005 e junho/2006) e perodo seco (dezembro/2005 e novembro/2006). As coletas foram feitas
em uma estao central do lago, nas profundidades de subsuperfcie (0,20 m), meio e aproximadamente
30 cm acima do fundo da coluna dgua, utilizando-se garrafa de van Dorn .
-
31
As variveis abiticas analisadas foram: temperatura da gua e oxignio dissolvido (oxmetro,
modelo Handylab OX1 Schott), pH (potencimetro, modelo Handylab 1 Schott), condutividade
eltrica (condutivmetro, modelo Handylab LF1 Schott) e turbidez (turbidmetro, modelo HI 93703 -
Hanna Instruments.), mensuradas in situ. As medies de temperatura e oxignio foram tomadas a cada 2
horas, em intervalos e 0,50 m na coluna d`gua. Os nutrientes analisados foram: nitrognio total
(Valderrama 1981), nitrito (Mackereth et al. 1978) nitrato, fsforo total, fsforo total dissolvido e
ortofosfato (Golterman et al. 1978).
Simultaneamente foi determinada a transparncia da gua, estimada atravs da profundidade
de desaparecimento do disco de Secchi, a profundidade da zona euftica (Zeu), calculada atravs do
produto da profundidade do disco de Secchi, utilizando-se a constante 3,0, de acordo com Esteves (1988),
e o ndice de estado trfico (IET) de Carlson (1974), descrito em Toledo Jr. et al. (1983), calculado a
partir das concentraes de fsforo total, concentraes de clorofila a e profundidade de desaparecimento
do disco de Secchi.
O estudo da composio fitoplanctnica foi baseado em coletas realizadas com rede de
plncton, com abertura de malha de 20 m. Foram feitos arrastos horizontais subsuperfcie. As amostras
foram preservadas com soluo de Transeau. Os txons foram identificados utilizando-se a seguinte
bibliografia: Anagnostidis & Komrek (1988,1990), Bittencourt-Oliveira (1993), Bourrely (1966; 1968;
1970), Croasdale et al. (1983), De-Lamonica-Freire & Sant'Anna (1993), Forster (1969), Komrek &
Anagnostidis (1986), Krammer & Lange-Bertalot (1991a; 1991b) e Silva & Cecy (2004). Foram
confeccionadas lminas permanentes de diatomceas para melhor identificao, seguindo-se o mtodo de
Simonsen (1979), modificado por Moreira Filho & Valente Moreira (1981). Foi utilizado o Sistema de
Classificao de Round (1973) para enquadramento taxonmico das diatomceas, o de Anagnostidis &
Komrek (1988) e Komrek & Anagnostidis (1986; 2005) para Cyanophyta e o Sistema de Van Den
Hoek et al. (1995) para os demais grupos taxonmicos. As amostras foram examinadas em microscpio
Zeiss, modelo Axioskop, equipado com cmara-clara, cmara fotogrfica e ocular de medio. Foram
analisadas caractersticas morfomtricas das fases reprodutiva e vegetativa. Foram considerados
fitoflagelados as algas flageladas que no foi possvel a identificao.
As coletas para o estudo da densidade fitoplanctnica foram feitas com garrafas de van Dorn.
As amostras foram preservadas com lugol actico e a densidade do fitoplncton foi estimada segundo o
mtodo de Utermhl (1958), utilizando-se microscpio invertido, modelo Axiovert 135M - Zeiss, em
aumento 400x. A contagem dos indivduos (colnias, cenbios, filamentos e clulas) foi feita segundo a
tcnica de transectos, padronizados em dois transectos (horizontal e vertical). A densidade foi calculada
utilizando-se a frmula de Villafae & Reid (1995) e o resultado expresso em indivduos por mililitro. O
ndice de diversidade (H', bits ind. -1) foi calculado utilizando o ndice de Shannon - Wiener (Shannon &
Weaver 1948), a equitabilidade foi avaliada a partir do H' de Shannon-Wiener. A abundncia e a
-
32
dominncia dos txons foram calculadas segundo Lobo & Leighton (1986). A freqncia de ocorrncia
das espcies foi calculada segundo Mateucci & Colma (1982).
Para o entendimento das variaes do sistema foi utilizada a anlise de correspondncia
cannica (ACC), correlacionando-se os dados abiticos com os biolgicos. Somente as espcies
abundantes foram consideradas para anlise. O programa estatstico utilizado nas anlises foi PC-ORD
verso 4,14 para Windows (McCune & Mefford 1999).
Resultados e discusso
O comportamento trmico da gua nos dois ciclos nictemerais mostrou tendncia
estratificao diurna e circulao noturna durante o perodo chuvoso; enquanto no perodo seco, a coluna
dgua apresentou-se homognea, embora a camada superficial tenha apresentado valores ligeiramente
maiores de temperatura. Situao similar foi mostrada em outros estudos realizados em diversos
ambientes aquticos (Tundisi et al. 1984; Esteves et al. 1994; Petrucio & Barbosa 2004).
As temperaturas mnimas e mximas registradas durante o perodo de estudo foram,
respectivamente, 27,4 C s 10h00min (fundo) do dia 17/06/06 (perodo chuvoso) e 32 C s 14h00min
(superfcie) do dia 13/08/05 (perodo chuvoso) (Fig. 2 e 3).
Os perfis de oxignio dissolvido mostram, no geral, um sistema oxigenado com valores altos
tambm no perodo noturno. No entanto, vale salientar a ocorrncia de perfil do tipo clinogrado no
perodo chuvoso de 2006. As maiores concentraes de oxignio dissolvido foram observadas no perodo
seco, no apresentando gradientes verticais acentuados. As concentraes variaram de um mnimo de 0,0
mg.L-1, encontrado s 12h00min e 14h00min (fundo) do dia 16/06/06 (perodo chuvoso) a um mximo de
7,5 mg.L-1, s 12h00min do dia 30/11/06 (perodo seco) (Fig. 2 e 3).
Segundo Tundisi et al. (1984) o padro de mistura determinante na distribuio de oxignio
dissolvido e de nutrientes na coluna d'gua. Esses autores verificaram que a presena de uma
estratificao trmica em dois lagos amaznicos (lago Cristalino e lago Jacaretinga) conduzia a uma
reduo de oxignio dissolvido e um acmulo de nutrientes nas camadas mais profundas dos lagos. Esse
padro era mais evidente no perodo de guas altas (cheia).
Dentro desse contexto, Esteves et al. (1994) atriburam ao comportamento trmico fator
determinante na variao diria de algumas variveis limnolgicas, com distribuio vertical homognea
no lago Batata e estratificada no lago Mussur. Pivato et al. (2006) verificaram estratificao qumica
acompanhada de estratificao trmica no reservatrio de Corumb, estado de Gois, quando valores
baixos de oxignio dissolvido foram observados nas camadas mais profundas.
A presena de perfil do tipo clinogrado no perodo chuvoso de 2006 observado no lago
Caracaran pode est associado estratificao trmica, conforme observado nos estudos anteriormente
mencionados.
-
33
Os valores de pH registrados nos dois ciclos nictemerais caracterizam o lago Caracaran
como um sistema de guas levemente cidas, variando entre 5,3 s 04h00min (fundo) do dia 17/06/06
(perodo chuvoso) e 7,8 s 12h00min (superfcie) do dia 13/08/05 (perodo chuvoso). Os maiores valores
foram observados no perodo seco, com pequenas variaes na coluna dgua (Tab. 1).
Segundo Sioli (1991) as guas amaznicas so essencialmente cidas, devido principalmente
prpria caracterstica geoqumica da regio e a ausncia de substncias tamponadoras na gua. Os
baixos valores de pH verificados no lago Caracaran esto associados s caractersticas cidas dos solos
das reas de savana, decomposio de macrfitas aquticas, processo esse que libera cidos orgnicos e as
prprias caractersticas geoqumicas da regio. Em ecossistemas aquticos roraimense foram verificados
baixos valores de pH, confirmando as caractersticas cidas das guas amaznicas (Meneses, dados no
publicados). Os baixos valores de pH encontrados no lago Caracaran correspondem aos observados em
guas amaznicas (Panosso & Kubrusly 2000) e em outros ambientes aquticos (Espndola et al. 1996;
Dellamano-Oliveira et al. 2003).
A condutividade eltrica considerada um bom indicador de qualidade das guas, uma vez
que altos valores podem indicar poluio antropognica (Esteves 1988; Brigante et al. 2003). A
distribuio dos valores de condutividade eltrica indica baixas quantidades de slidos em suspenso na
coluna dgua. O padro de variao nictemeral, demonstra homogeneidade da coluna dgua. Em relao
sazonalidade, no houve um padro definido. Esses resultados so semelhantes aos verificados para
outros ambientes aquticos: lago Batata - PA (Panosso & Kubrusly 2000.); lagos localizados nas pores
oeste e sudoeste de Boa Vista RR (Meneses, dados no publicados) e menores aos encontrados por
Pivato et al. (2006) no reservatrio Corumb (GO). Os valores oscilaram entre 8,0 S.cm-1 s 16h00min
(meio) do dia 30/11/06 (perodo seco) e 27,4 S.cm-1 s 12h00min (fundo) do dia 17/06/06 (perodo
chuvoso) (Tab. 1).
O padro de variao nictemeral de turbidez foi, geralmente, mais acentuado no perodo
chuvoso, quando maiores valores foram registrados. Foram observadas pequenas diferenas entre
superfcie e fundo. Os valores oscilaram entre 1,18 UNT s 08h00min (superfcie) do dia 01/12/06
(perodo seco) e 135 UNT s 12h00min (fundo) do dia 17/06/06 (perodo chuvoso) (Tab. 1).
A transparncia da gua foi alta durante os dois ciclos nictemerais, variando entre 2,0 m
(perodo seco de 2006) e 3,3 m (perodo seco de 2005). A profundidade mxima nesses dois perodos
foram, respectivamente, 5,0 m e 4,7 m. A profundidade da zona euftica estendeu-se at o fundo em todo
o perodo de estudo. Os valores de turbidez, de modo geral, baixos, confirmam a alta transparncia da
gua.
As concentraes de fosfato, para os dois ciclos nictemerais, foram baixas. As concentraes
de fsforo total evidenciam uma pequena variao sazonal, com os maiores valores no perodo seco, sem,
contudo, ser observado um padro vertical. Foi observado que as menores concentraes desse nutriente
-
34
ocorreram nas primeiras horas da manh. As concentraes oscilaram entre 0,04 e 0,88 mol.L-1. A
menor ocorreu s 04h00min (meio), s 08h00min (superfcie), s 12h00min (meio) do dia 28/12/05
(perodo seco) e s 12h00min (meio) do dia 17/06/06 (perodo chuvoso) e a maior foi obtida s
00h00min (meio) do dia 13/08/05 (perodo chuvoso) (Tab. 1).
O fsforo total dissolvido apresentou baixas concentraes no incio da madrugada,
permanecendo baixo at s primeiras horas da manh, quando tenderam a elevar-se novamente. As
concentraes variaram de 0,04 a 0,91 mol.L-1. O valor mnimo encontrado ocorreu s 06h00min
(superfcie) do dia 14/08/05 (perodo chuvoso) e o mximo s 20h00min (fundo) do dia 16/06/06 (perodo
chuvoso). As concentraes de ortofosfato no apresentaram diferenas marcantes entre os horrios e
entre as profundidades No foi verificada variao sazonal. Os valores variaram de 0,00 a 0,10 mol.L-1.
O menor ocorreu s 04h00min (fundo), s 12h00min (fundo) do dia 17/06/06 (perodo chuvoso) e s
00h00min (superfcie) do dia 30/11/06 (perodo seco) e o maior s 04h00min (meio) do dia 01/12/06
(perodo seco) (Tab. 1).
Semelhante ao observado para as concentraes de fosfato, o nitrognio total, nitrato e nitrito
apresentaram baixas concentraes nos dois ciclos nictemerais. As concentraes de nitrognio total
apresentaram variaes sazonais, com os maiores valores no perodo chuvoso. Em relao distribuio
vertical, observaram-se, normalmente, maiores valores nas camadas mais profundas da coluna dgua. Os
valores oscilaram entre 0,28 mol.L-1 encontrado s 08h00min (meio) do dia 28/12/05 (perodo seco) e
5,34 mol.L-1 s 12h00min (fundo) do dia 16/06/06 (perodo chuvoso) (Tab. 1).
As concentraes de nitrato e nitrito apresentaram padro similar de distribuio vertical e de
sazonalidade. Ambos com maiores concentraes nas camadas mais profundas do lago. No foi verificada
variao sazonal. As concentraes de nitrato oscilaram entre 0,00 e 0,22 mol.L-1. A menor ocorreu s
12h00min (superfcie), s 20h00min (fundo), s 00h00min (fundo) do dia 16/06/06 (perodo chuvoso) e
s 04h00min (fundo), s 08h00min (superfcie e meio), s 12h00min (fundo) do dia 17/06/06 (perodo
chuvoso) e a maior s 00h00min (meio e fundo) do dia 13/08/05 (perodo chuvoso). Os valores de nitrito;
variaram de 0,001 mol.L-1, encontrado s 12h00min (meio), s 16h00min (superfcie) do dia 16/06/06
(perodo chuvoso) a 0,18 mol.L-1, encontrado s 12h00min (meio) do dia 28/12/05 (perodo seco) (Tab.
1).
As variaes na razo atmica NT: PT oscilaram entre 1,33 (00h00min., meio,13/08/05) e
122,18 (08h00min., fundo,28/12/05), ocorrendo limitao alternada de nitrognio e fsforo (Tab. 1).
Os valores obtidos para o ndice de estado trfico (IET) indicam que o lago Caracaran
apresenta condies oligotrficas durante os dois ciclos nictemerais (Tab. 1). Segundo Goulding (1997)
os lagos amaznicos geralmente apresentam guas pobres em nutrientes e /ou muito barrentas para
sustentarem cadeias alimentares base exclusivamente de plncton. A razo pela qual as guas do lago
Caracaran apresentam valores baixos de nutrientes reside no fato de que o mesmo drena terrenos
-
35
relativamente pobres neste caso, representados pelos sedimentos tercirios da Formao Boa Vista que
compem a bacia de drenagem desse lago.
Composio Fitoplanctnica a comunidade fitoplanctnica esteve representada por 60 txons,
distribudos entre Cyanophyta (6,7%), Chlorophyta (70%), Euglenophyta (1,7%), Bacillariophyta
(18,3%), Dinophyta (1,7%), Cryptophyta (1,7%), e os fitoflagelados (Tab. 2).
Chlorophyta contribuiu com a maior riqueza de espcies, totalizando 42 txons inventariados
durante os dois ciclos nictemerais. As desmdias foram, dentre as Chlorophyta, as mais importantes,
correspondendo a 50% dos txons. Os gneros com maior nmero de espcies foram Staurastrum (seis
espcies) e Cosmarium (quatro espcies). A predominncia das desmdias esteve associada ao pH
levemente cido e a baixa disponibilidade de nutrientes, condies estas adequadas ao desenvolvimento
dessas algas e que foram verificadas no lago Caracaran. As Bacillariophyta foram a segunda mais
importante em termos de nmero de espcies (11 espcies) (Tab. 2).
A anlise sazonal mostrou que o perodo seco apresentou 54 spp. e o chuvoso 53 spp.
Chlorophyta apresentou o maior nmero de espcies no perodo seco (39 spp.), enquanto que
Bacillariophyta no perodo chuvoso, com 11 espcies (Tab. 2).
Durante o perodo de estudo, 15 espcies, e os fitoflagelados foram abundantes, representadas
por nove Chlorophyta, duas Cyanophyta e quatro Bacillariophyta (Tab. 3). Dentre estas, Monoraphidium
griffithi (Berkeley) Komrkov-Legnerov, Sphaerocystis shroeteri Chodat (Chlorophyta) e
Merismopedia tenuissima Lemmermann (Cyanophyta) foram mais representativas no ambiente,
permanecendo abundantes em todas as amostragens. Os txons considerados subdominantes e
codominantes foram elevados nos dois ciclos nictemerais.
Em relao freqncia de ocorrncia, nove espcies foi muito freqente, estas pertencentes
Chlorophyta (oito espcies) e Dinophyta (uma espcie). No que tange aos txons, dez foram freqentes,
sendo uma espcie de Cyanophyta, oito de Chlorophyta e uma de Bacillariophyta. A maioria dos txons
inventariados (21 espcies) foi pouco freqente. Cyanophyta contribuiu nesta categoria com duas
espcies, Chlorophyta (11 espcies), Bacillariophyta (sete espcies) e Cryptophyta (uma espcie). Os
txons espordicos totalizaram 20 espcies, Cyanophyta esteve representada por uma espcie,
Chlorophyta por 15 espcies, Bacillariophyta por trs espcies e Euglenophyta por uma espcie (Tab. 2).
Dentre as espcies, Botryococcus terribilis J. Komrek & P. Marvan e S.schroeteri
apresentaram freqncia de ocorrncia de 92,86%.
Os resultados encontrados no lago Caracaran se assemelham aos reportados por Huszar
(1996a), Nogueira & Leandro-Rodrigues (1999), Oliveira & Calheiros (2000) e Nabout et al. (2006),
sobre a dominncia do grupo das Chlorophyta em ambientes aquticos tropicais. Em guas amaznicas,
as desmdias tm sido consideradas um importante grupo, isto em funo das caractersticas cidas que as
guas dos ecossistemas amaznicos apresentam (Huszar 1996b; 2000; Keppeler et al. 1999).
-
36
O estudo realizado no lago Camaleo entre setembro de 1987 e fevereiro de 1989 por Ibaez
(1998) cita 262 txons de algas. O grupo das Euglenophyceae apresentou grande nmero de txons (185).
Nabout et al. (2006) identificaram 292 espcies de algas em 21 lagos da plancie de inundao do rio
Araguaia, tendo as Chlorophyceae como grupo dominante. Melo et al. (2004) registram a presena de 108
txons fitoplanctnico para os lagos Batata e Mussur (PA). No lago Caracaran, o nmero de txons
fitoplanctnico foi bastante baixo em relao aos dos trabalhos acima citados, mas comparveis aos
encontrados por Espndola et al. (1996) no pantanal matogrossense (83 txons), Diaz et al. (1998) em
lagos argentinos (40 txons), Pivato et al. (2006) em um ambiente aqutico no estado de Gois (58
txons).
Densidade - a anlise da densidade fitoplanctnica total durante os dois ciclos nictemerais mostrou baixo
nmero de clulas. O valor mnimo observado foi de 116 ind.mL-1, s 12h00min do dia 28/12/05 (perodo
seco), na profundidade de 3,0 m, e o mximo de 1118 ind.mL-1, s 20h00min do dia 13/08/05 (perodo
chuvoso), no fundo da coluna de gua (Fig. 4). Embora as variaes nictemerais de densidade tenham
sido pouco acentuadas, foi possvel observar uma tendncia formao de gradientes verticais com
valores ligeiramente maiores na subsuperfcie. Em relao sazonalidade, as maiores densidades
celulares ocorreram no perodo chuvoso.
Melo et al. (2004) estudando a comunidade fitoplanctnica dos lagos Batata e Mussur (PA)
registraram baixas densidades populacionais no lago Batata (67 985 ind.mL-1 ).
A anlise da densidade fitoplanctnica mostrou que a comunidade esteve representada pelas
Cyanophyta, Chlorophyta, Bacillariophyta, Dinophyta e fitoflagelados.
As Chlorophyta foram dominantes com 48,5% da densidade total, seguidas pelas Cyanophyta,
que contriburam com 46,3% da densidade, sendo, portanto, o segundo grupo mais importante.
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolz.) Seenayya et Subba-Raju, Merismopedia tenuissima
(Cyanophyta) e Monoraphidium griffithi (Chlorophyta) contriburam com 70,9% da densidade total
durante os dois ciclos nictemerais. M. tenuissima contribuiu com 38,9%, seguida por M. griffithii (21,8%)
e C. raciborskii (10,2%). O padro de distribuio sazonal das densidades dessas espcies foi similar,
com maiores valores no perodo chuvoso. As elevadas densidades dessas espcies estiveram associadas
disponibilidade de nutrientes, altas temperaturas, alta disponibilidade de luz e tolerncia estratificao.
Estas espcies so consideradas como sendo R-estrategista (C. raciborskii) e como C-estrategista (M.
griffithii e M. tenuissima) de acordo com Reynolds (1988). So espcies que sobrevivem a essas
condies ambientais.
As variaes nictemerais dos ndices de diversidade especfica variaram de 1,05 a 2,91 bits.
cel.-1, no perodo chuvoso e de 2,15 a 3,57 bits.cel-1, no perodo seco.Importante destacar uma variao
sazonal acentuada durante o ano de 2006, quando a comunidade fitoplanctnica apresentou baixa
diversidade no perodo chuvoso (71,4% das amostras) e alta no perodo seco (71,4%) , o mesmo no
-
37
ocorrendo no ano de 2005, quando os ndices de diversidade caracterizaram a comunidade fitoplanctnica
como apresentando uma diversidade mdia.
Em relao equitabilidade, a comunidade fitoplanctnica do lago Caracaran apresentou
distribuio no uniforme durante o perodo chuvoso e distribuio uniforme no perodo seco. Esta
condio est associada ao predomnio das espcies C. raciborskii, M. tenuissima e M.griffithii que
apresentaram elevadas densidades no perodo chuvoso.
A composio e a densidade fitoplanctnica no lago Caracaran foram baixas durante os dois
ciclos nictemerais. Os baixos valores estiveram associados s baixas concentraes de nutrientes,
funcionando como fator limitante, conforme corroborado pela baixa razo NP: PT.
Os resultados da anlise de correspondncia cannica (ACC) esto apresentados nas Tabelas
4 e 5 e Figuras 5 e 6. O teste de Monte Carlo demonstrou que os eixos 1 e 2 foram estatisticamente
significativos (p 0.05), indicando que houve correlao entre as variveis ambientais e a comunidade
fitoplanctnica. Os autovalores dos eixos 1 e 2 explicaram 34,9% da variabilidade dos dados. A
correlao de Pearson para os eixos indica forte correlao entre as espcies e as variveis ambientais.
No eixo 1 ocorreu a separao das unidades amostrais entre os perodos chuvoso e seco. O
coeficiente cannico mostrou que a varivel mais importante na ordenao desse eixo foi fsforo total
dissolvido. Analisando o coeficiente de correlao intra-set, observa-se que as variveis condutividade
eltrica e turbidez associaram-se ao perodo chuvoso de 2006, enquanto que elevados valores de oxignio
dissolvido e pH estiveram associados ao perodo seco. As espcies mais importantes desse eixo e que
foram associadas ao perodo seco foram Staurastrum boergesenii Raciborski, S. schroeteri,
Chlorococcum sp., Closterium navcula (Brbisson) Ltkemller, B. terribilis, Cosmarium contractum O.
Kirchner, Tabellaria sp. e Staurastrum nudibrachiatum O.F. Borge. As espcies que estiveram associadas
ao perodo chuvoso foram M. tenuissima e Pinnularia maior (Ktzing) Cleve.
No eixo 2, as variveis mais importantes conforme as correlaes intra-set foram nitrato e pH.
As espcies associadas a este eixo foram M. griffithii, Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn. e C.
raciborskii.
A ACC evidenciou que no houve diferena nictemeral e nem espacial. No entanto, a
explicao do eixo 1 traduz as diferenas significativas na escala sazonal, associada, possivelmente, ao
regime pluviomtrico e variao no nvel da gua, ambos agindo como fatores perturbadores na dinmica
da comunidade fitoplanctnica.
A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que o lago Caracaran um sistema
oligotrfico, considerando as reduzidas densidades populacionais e as concentraes de biomassa
fitoplanctnica. Isto pode ser confirmado pelas baixas concentraes de nutrientes verificadas durante os
dois ciclos nictemerais, considerado tambm, como um ambiente polimtico, raso, com alta
disponibilidade de luz.
-
38
Agradecimentos
As autoras agradecem a Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES - PQI
42) e Universidade Federal de Roraima (UFRR) pelo apoio financeiro indispensvel para realizao do
trabalho e ao Programa de Ps-Graduao em Botnica da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(PPGB) pela utilizao dos laboratrios para analises das amostras.
Referncias bibliogrficas
Alves, V.R.E.; Cavalcanti, C.G. B & Matos, S.P. 1988. Anlise comparativa de parmetros fsicos,
qumicos e biolgicos, em um perodo de 24 horas, no Lago Parano, Braslia-DF, Brasil. Acta
Limnologica Brasiliensia 11: 199-218.
Alves-da-Silva, S.M. & Bridi, F.C. 2004. Euglenophyta no Parque Estadual Delta do Jacu, Rio Grande
do Sul, Sul do Brasil. 3. Gnero Strombomonas Defl. Acta Botanica Brasilica 18(3): 555-572.
Alves-da-Silva, S.M. & Bridi, F.C. 2004. Estudo de Euglenophyta no Parque Estadual Delta do Jacu, Rio
Grande do Sul, Brasil. 2. Os gneros Phacus Dujardin e Hyalophacus (Pringsheim) Pochmann.
Iheringia 59 (1): 75-96.
Anagnostidis, K. & Komrek, J. 1988. Modern approach to the classification system of Cyanophyta, 3:
Oscillatoriales. Algological Studies 80(1/4): 327-472.
Anagnostidis, K. & Komrek, J. 1990. Modern approach to the classification system of Cyanophyta, 5:
Stigonematales. Algological Studies (59): 1-73.
Bittencourt-Oliveira, M. do C. 1993. Ficoflrula do reservatrio de Balbina, Estado do Amazonas, I:
Chlorococcales (Chlorophyceae). Revista Brasileira de Biologia 53(1): 113-129.
Bourrely, P. 1966. Les algues deau douce. Initiation la systmatique. Tome I: Les algues vertes.
Paris: Ed. N. Boube.
Bourrely, P. 1968 Les algues deau douce. Initiation la systmatique. Tome II: Chrysophyces,
Xanthophyces et Diatomes. Paris: Ed. N. Boube.
Bourrely, P. 1970. Les algues deau douce. Initiation la systmatique. Tome III: les algues bues et
rouges, les Euglniens, Peridiniens et Chryptomonadiens. Paris: Ed. N. Boube.
BRASIL. 1996. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE. ANURIO ESTATSTICO
DO BRASIL. Rio de Janeiro, v. 56; p. 1-11.
Brigante, J.; Espndola, E.L.G.; Povinelli, J & Nogueira, A.M de. 2003. Caracterizao fsica, qumica e
biolgica da gua do Rio Mogi-Guau. Pp. 55-76. In: J Brigante & E.L.G. Espndola (eds.).
Limnologia Fluvial u