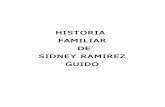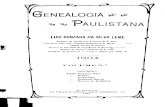GENEALOGIA DA CRÍTICA DA CULTURA · receptividade, que é marca de sua personalidade, são dignas...
Transcript of GENEALOGIA DA CRÍTICA DA CULTURA · receptividade, que é marca de sua personalidade, são dignas...
-
0
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM FILOSOFIA
RAFAEL RODRIGUES GARCIA
GENEALOGIA DA CRTICA DA CULTURA UM ESTUDO SOBRE A FILOSOFIA DAS FORMAS SIMBLICAS DE ERNST
CASSIRER
SO PAULO
2010
-
1
RAFAEL RODRIGUES GARCIA
GENEALOGIA DA CRTICA DA CULTURA UM ESTUDO SOBRE A FILOSOFIA DAS FORMAS SIMBLICAS DE ERNST
CASSIRER
SO PAULO
2010
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Filosofia do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, como requisito para obteno do ttulo de Mestre em Filosofia, sob a orientao do Prof. Dr. Caetano Ernesto Plastino
-
2
AGRADECIMENTOS
Agradeo imensamente ao meu orientador, Prof. Dr. Caetano Ernesto
Plastino, pela confiana depositada desde os tempos de iniciao cientfica, poca
em que apresentou-me filosofia de Ernst Cassirer. Sua prontido para esclarecer
dvidas, a pertinncia de seus comentrios e sugestes, alm de toda a
receptividade, que marca de sua personalidade, so dignas de nota. Sem seu
apoio e orientao este trabalho certamente no se efetivaria.
Aos professores Dr. Maurcio de Carvalho Ramos e Dr. Ricardo Ribeiro Terra,
pela participao no exame de qualificao e pelas sugestes e comentrios
oportunos para o trmino do trabalho.
Aos professores Dr. John Krois e Dr. Christian Mckel pela acolhida em
Berlim e por apresentarem-me biblioteca da Universidade Humboldt, cujo acervo
foi determinante para as minhas pesquisas.
s funcionrias da secretaria do Departamento de Filosofia da Universidade,
pela pacincia, apoio e prontido.
Aos amigos e colegas de faculdade Andr Doneux e Ricardo Zanchetta pelas
leituras, correes e sugestes, pelas conversas e pelo incentivo.
A Ariadne Machado, querida amiga e professora de alemo, pelo incentivo e
pelas aulas que me abriram as portas para as obras originais de Cassirer.
Ao CNPq, pelo apoio financeiro sem o qual nada disso aconteceria.
Aos meus pais e familiares, pelo incentivo, pacincia e confiana por toda a
vida.
-
3
Smbolos. Tudo smbolos... Se calhar, tudo smbolos...
Sers tu um smbolo tambm? Olho, desterrado de ti, as tuas mos brancas
Postas, com boas maneiras inglsas, sbre a toalha da mesa. Pessoas independentes de ti...
Olho-as: tambm sero smbolos? Ento todo o mundo smbolo e magia?
Se calhar ... E porque no h de ser?
Smbolos... Estou cansado de pensar...
Ergo finalmente os olhos para os teus olhos que me olham. Sorris, sabendo bem em que eu estava pensando...
Meu Deus! E no sabes... Eu pensava nos smbolos...
Respondo fielmente tua conversa por cima da mesa...
"It was very strange, wasn't it?" "Awfully strange. And how did it end?"
"Well, it didn't end. It never does, you know." Sim, you know... Eu sei...
Sim, eu sei... o mal dos smbolos, you know.
Yes, I know. Conversa perfeitamente natural... Mas os smbolos?
No tiro os olhos de tuas mos... Quem so elas? Meu Deus! Os smbolos... Os smbolos...
(lvaro de Campos, Psiquetipia)
-
4
RESUMO GARCIA, RAFAEL R. Genealogia da Crtica da Cultura: um estudo sobre a Filosofia
das Formas Simblicas de Ernst Cassirer. 2010, 189 f. Dissertao (Mestrado).
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2010.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as principais questes
envolvidas no projeto da Filosofia das Formas Simblicas de E. Cassirer, nome da
obra considerada sua maior contribuio para a histria da filosofia. Abordamos as
questes epistemolgicas e contextuais que motivam a elaborao da obra, sua
estrutura e seus principais postulados metodolgicos para, finalmente, entendermos
os resultados de sua proposta, qual seja, transformar a crtica da razo iniciada por
Kant numa crtica da cultura humana, entendendo por esta ltima o conjunto de
todas as manifestaes do esprito em sua atividade, caracterizada como um
processo de autolibertao em relao imediaticidade da vida. Para tanto, so
apontados os principais interlocutores de Cassirer ao longo do desenvolvimento de
seu programa filosfico, bem como as tendncias filosficas em relao s quais o
filsofo quer marcar posio.
Palavras-chave: Cassirer; neokantismo; Escola de Marburgo; formas simblicas;
crtica da cultura.
-
5
ABSTRACT
GARCIA, RAFAEL R. The Genealogy of the Critic f the Culture: a study on the
Philosophy of the Symbolic Forms of Ernst Cassirer. 2010, 189 f. Thesis (Master
Degree). Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So
Paulo, So Paulo, 2010.
This text aims to show some of the main issues involved in the Project of The
Philosophy of the Symbolic Forms of Ernst Cassirer, name of the work which turns
out to be considered as his major contribution to the history of Philosophy. We dealt
with epistemological and contextual issues that motivate the elaboration of Cassirers
work, its structure and its main methodological postulates to, eventually, understand
the results of his proposal, that is, to transform Kants critic of reason in a critic of
human culture, understanding by the latter the set of all manifestations of spiritual
activity, characterized as a process of self-liberation from the immediacy of life. To do
so, we point Cassirers main interlocutors throughout the development of his
philosophical project, as well as the philosophical tendencies which the philosopher
wants to differentiate his own work from.
Key-words: Cassirer; neokantianism; Marburg School; symbolic forms; critic of
culture.
-
6
LISTA DE ABREVIATURAS
Todas as obras de Cassirer aparecem, quando abreviadas, a partir das
iniciais que possuem na lngua em que foram escritas a maior parte em alemo, e
outras em ingls mesmo que a paginao corresponda a alguma traduo. Assim,
espera-se padronizar as citaes de acordo com o que pode ser observado nas
demais publicaes de trabalhos sobre Cassirer. O mesmo foi feito para obras de
Cohen e Kant.
Obras de Cassirer:
EGLD: Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik und Denkpsychologie
EM: Essay on Man
EP: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit
ERT: Zur Einsteinschen Relativittstheorie
KMM: Kant und die moderne Mathematik
LDST: The Influence of Language upon the Development of Scientific Thought
LKW: Zur Logik der Kulturwissenschaft
MS: The Myth of the State
PSF I: Philosophie der symbolischen Formen - Sprache
PSF II: Philosophie der symbolischen Formen Das mythische Denken
PSF III: Philosophie der symbolischen Formen Phnomenologie der Erkenntnis
PSF IV: Philosophie der symbolischen Formen - Zur Metaphysik der symbolischen Formen
SF: Substanzbegriff und Funktionsbegriff
SFAG: Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften
SM: Sprache und Mythos - Ein Beitrag zum Problem der Gtternamen
SMC: Symbol, Myth and Culture
Obras de Cohen e Kant:
KRV: Kritik der reinen Vernunft
KTE: Kants Theorie der Erfahrung
LRE: Logik der reinen Erkenntnis
-
7
SUMRIO
PARA LER CASSIRER..................................................................................................11
ORIGENS DA FILOSOFIA DAS FORMAS SIMBLICAS.........................................14
Ponto de partida: a constatao de um fracasso ...................................................... 14
Escola de Marburgo .................................................................................................. 17
Panorama filosfico ............................................................................................ 17
Retorno a Kant. Colapso do hegelianismo. Surgimento da Teoria do Conhecimento.
Ambiente poltico ................................................................................................ 20
Nacionalismo. Combate ao positivismo. Ideologia neokantiana. Cincias naturais e Cincias do
Esprito. Revolta contra a razo. Posicionamento poltico da Escola de Marburgo. Perodos do
neokantismo.
Doutrina de Marburgo ............................................................................................... 24
O mtodo transcendental .................................................................................... 25
Compromisso com as cincias naturais. Teoria da experincia. Recusa da Metafsica. Entre o
materialismo e o idealismo. Trendelenburg. O mtodo transcendental. A lgica do conhecimento
puro.
A noo de forma ................................................................................................ 28
A hipstase da forma. A cincia na histria. A priori regulativo e a priori constitutivo.
Conhecimento e construo ............................................................................... 29
Conhecimento como cpia. O debate Trendelenburg-Fischer. Eliminao do dualismo kantiano.
Limitaes do mtodo. Advento da lgica simblica.
Substncia e Funo ................................................................................................. 31
A tarefa da nova lgica ....................................................................................... 31
Viso histrica da cincia. Os recentes desenvolvimentos da lgica. Kant e a lgica tradicional.
A doutrina do conceito genrico .......................................................................... 34
A lgica e o ideal de conhecimento. A substncia aristotlica. Objetividade da lgica. Seleo de
notas caractersticas. O problema da abstrao. Psicologia da abstrao.
Os conceitos matemticos .................................................................................. 39
A matemtica e o conhecimento como construo. A atividade espiritual. A determinao da
srie.
Conceito de funo ............................................................................................. 42
Funo e metafsica. A categoria da relao. Resoluo ao problema da abstrao. A
universalidade concreta.
Sobre a lgica simblica ..................................................................................... 45
-
8
Lgica simblica e neokantismo. Frege e o a priori. Analiticidade. Razo e alienao. A cincia e
a lgica. Lgica formal e lgica transcendental.
Rupturas .................................................................................................................... 50
Para alm da matemtica; passos rumo ao homem ........................................... 50
Limites do mtodo transcendental. O infinitesimal. Acesso ao campo da psicologia. Da rigidez
matemtica flexibilidade do smbolo. Representao. As cincias do esprito.
Sobre a teoria da relatividade ............................................................................. 55
Querela com Schlick. O projeto das formas simblicas. Mudanas de vocabulrio.
Ciso ......................................................................................................................... 58
Origem comum ................................................................................................... 58
Cassirer e o Crculo de Viena. Cassirer e Carnap. Aufbau e o neokantismo.
Lgica ou cultura ................................................................................................. 61
As crticas de Carnap lgica de Marburgo. O campo da razo. Razo e cultura.
AS FORMAS SIMBLICAS E A CONSTITUIO DA CULTURA .......................... 63
Ampliao do campo epistemolgico ........................................................................ 63
O lugar da razo ................................................................................................. 63
Ampliao do programa epistemolgico. A razo metonmica. As demais formas de
conhecimento.
O homem no leito de Procrusto .......................................................................... 66
O conhecimento de si. Esprito geomtrico e esprito sutil. Logocentrismo. Nietzsche, Freud,
Marx e Darwin. Especializao das cincias e unidade do conhecimento. A crise da razo:
Husserl, Heidegger e Cassirer. O ideal grego de conhecimento. Renascimento da concepo
grega de conhecimento. Formas simblicas e filosofia da vida. Filosofia e crtica da cultura.
O mtodo na Filosofia das Formas Simblicas ................................................... 70
O fenmeno psicolgico da forma lingstica. A compreenso do fenmeno do mito. Tautegoria.
Autonomia das formas simblicas. Adequao do mtodo transcendental.
Conceito de forma simblica ..................................................................................... 74
Conceito de smbolo ........................................................................................... 74
Animal rationale e animal symbolicum. Smbolo e sntese. Smbolo e funo. Dialtica do
smbolo. Hertz: simulacros. Sinais e smbolos. Idealismo alemo: versatilidade.
Esboos de definio da forma simblica ........................................................... 80
Forma em Kant e forma simblica. Elemento intermedirio. Funo mediadora. Humboldt:
Energie des Geistes. Estrutura tridica. Leibniz: caracterstica universal. Gramtica da funo
simblica.
Delimitao das formas simblicas ..................................................................... 87
-
9
Universalidade. Construo de mundo. Organizao sistemtica dos fenmenos. Filosofia e
forma simblica.
Uma teoria da significao ........................................................................................ 89
Linguagem e Lgica ............................................................................................ 89
Mudanas no campo de investigao. Teoria do conhecimento e teoria da significao.
Linguagem, e valores de verdade. Linguagem e na histria da filosofia. Herclito e o
como condutor do universo. Plato: a efemeridade da linguagem e a busca pelo conceito.
Aristteles: a linguagem e as categorias do ser.
Linguagem e verificao ..................................................................................... 97
A linguagem como mediao. Ergon e energeia. Linguagem, lgica e semntica. Ampliao da
revoluo copernicana.
Pregnncia Simblica .............................................................................................. 101
Convencionalismo e significao ...................................................................... 103
Simbolismo natural e simbolismo artificial. Anterioridade da funo significativa.
Sensacionismo .................................................................................................. 106
A receptividade dos sentidos. Significados que transcendem os objetos apresentados. A conexo
dos contedos na conscincia. O momento temporal e o fluxo do tempo. Conexo objetiva.
Substituio da associao pela integrao. Qualidade e modalidade das relaes na
conscincia. O exemplo da linha.
Fenomenologia e intencionalidade ................................................................... 115
Dualismo de Husserl. Reviso dos postulados idealistas. Conhecimento de si e introspeco.
Cultura e praxis.
O animal symbolicum ........................................................................................ 122
O atributo distintivo da humanidade. Reaes animais e respostas humanas. O Caso Helen
Keller.
As funes de objetivao e a dialtica das formas simblicas .............................. 126
Formas simblicas e fenomenologia do esprito ............................................... 126
Formas simblicas e cultura. Dialtica das formas simblicas. Fenomenologia do Esprito e
fenomenologia do conhecimento. As funes da conscincia.
A funo expressiva .......................................................................................... 129
O primeiro degrau na escada da conscincia. Percepo e expresso. A relao entre corpo e
alma. Mito e expresso. O sentimento da unidade da vida. Fenomenologia do Eu. A
anterioridade da vida coletiva.
Funo representativa ...................................................................................... 142
Representao e linguagem. Mito e linguagem. Metfora radical. Do mito religio. Do mito
arte.
-
10
Funo significativa .......................................................................................... 149
Idealidade e liberdade do esprito. A forma da cincia. Linguagem e cincia. Scrates, Galileu,
Bohr: matemtica e cincia.
Dialtica e teleologia .............................................................................................155
Dialtica do esprito e Cincia da Lgica. Eliminao da teleologia (logocentrismo) na dialtica da
cultura. Progresso e liberdade. A perptua tenso entre as formas simblicas. Da escada de
Hegel rvore de Darwin.
O PROBLEMA DA REALIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL ....................... 159
A Realidade Simblica ............................................................................................ 159
Solilquio .......................................................................................................... 159
O valor da realidade. Atividade simblica e alienao. Registros de significao e traduzibilidade.
Autonomia e incomensurabilidade.
A tarefa simblica da cincia ............................................................................ 165
A liberdade da cincia. A cincia no conjunto da cultura. Pureza epistemolgica e isolamento
intelectual. Progresso cientfico e progresso da humanidade. A fortuna da Filosofia das Formas
Simblicas.
Da Geisteswissenschaft Kulturwissenschaft ........................................................ 171
O projeto de uma filosofia da cultura ................................................................ 171
A dimenso moral da Filosofia das Formas Simblicas. A proposta do termo Kulturwissenschaft.
Kulturwissenschaft e a Kulturphilosophie. Percepo de coisa e percepo de expresso. A
biblioteca de Warburg.
Cultura e Civilizao ......................................................................................... 180
Atividade simblica e autolibertao. Liberdade e autonomia. Cosmopolitismo. Civilizao e
progresso. Razo e homogeneidade.
Diversidade Cultural .......................................................................................... 182
Autolibertao e teleologia. Os estudos culturais e a questo da diferena. O homem no centro
da discusso.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS..............................................................................187
-
11
PARA LER CASSIRER
Obviamente, o assunto o que dito, o estilo o modo como dito.
Um pouco menos obviamente, esta frmula est cheia de falhas.
Nelson Goodman
Aps findar o texto que aqui apresento, senti a necessidade de adicionar uma
nota explicativa introdutria sobre a filosofia de Cassirer e a proposta deste trabalho.
Por uma dessas vicissitudes para as quais no vale a pena buscar razes, a
filosofia de Cassirer um campo ainda inexplorado em sua proposta e contribuio
especficas para o corpo da histria da filosofia, sobretudo na cena brasileira. Com
exceo de trabalhos isolados publicados em alguns departamentos, ou da
utilizao eventual de suas obras como bibliografia de apoio em cursos diversos, os
textos de Cassirer so pouco lidos e raramente discutidos. A situao tal que no
se pode nem ao menos dizer que o status de Cassirer como proponente de uma
filosofia prpria est assegurado entre os pesquisadores e professores brasileiros.
Com efeito, no so poucos aqueles que o vem como um mero comentador ou
historiador da filosofia. A situao se complica mais ainda quando vemos que os
prprios historiadores da filosofia contestam a validade dos escritos de Cassirer
como historiador. Segundo eles, a concepo histrica do filsofo estaria
demasiadamente comprometida com postulados tais que no permitiriam a
imparcialidade necessria a um historiador. As mesmas ressalvas valem para
Cassirer como comentador: ele no seria sistemtico e exegtico o suficiente para
ser tomado como um bom comentador deste ou daquele pensador em particular. De
outro lado, constante a referncia a Cassirer como um grande erudito e insigne
conhecedor da histria da filosofia.
-
12
parte a protocolar adulao que se deve cumprir a um pensador de obra to
vasta quanto a de Cassirer, fato que todas essas consideraes acima descritas
deixam entrever que a contribuio de Cassirer ainda no foi devidamente
dimensionada, e tampouco parece que tenha havido tempo suficiente despendido
para a anlise de sua forma particular de fazer filosofia. Da que o ttulo desta nota
aponte para a questo da leitura dos textos de Cassirer.
De fato, ler um texto de Cassirer uma tarefa que impe ao leitor algumas
dificuldades dignas de nota. Num primeiro contato, o leitor verifica a dificuldade de
discernir a voz de Cassirer das vozes de cada um dos inmeros pensadores de que
ele se vale para expor suas idias; Cassirer fala por meio dos filsofos. Essa
dificuldade tem explicaes na erudio do autor tanto quanto em sua estilstica e
em sua metodologia. Desde suas primeiras publicaes, Cassirer adota um estilo
historicista, que desenvolve os temas dos quais trata considerando diferentes
pocas e correntes de pensamento, valendo-se de extensas citaes de obras e
autores diversos, articulando-os de forma a privilegiar as proximidades e diferenas
entre autores de uma mesma poca em torno de uma temtica, ou temticas, alm
de mostrar o desenvolvimento dessas temticas ao longo do tempo. Esse estilo
historicista deve ser remetido a um postulado metodolgico, qual seja, o ideal de
conhecimento gentico que caracteriza a Escola de Marburgo, que, entre outras
coisas, entendia que o conhecimento sempre progride, sem rupturas radicais, em
direo a um termo final que nunca efetivamente alcanado. Alm disso, por conta
de questes que se referem tambm ao contexto em que a obra de Cassirer
elaborada, patente a necessidade de manter a discusso o mais aderente possvel
ao desenvolvimento concreto da cincia, o que feito por meio de referncias
diretas s mais diversas teorias em voga. por conta disso que Cassirer no tem
-
13
opo seno fundamentar seu pensamento no maior nmero possvel de referncias
histricas diacrnicas ou sincrnicas, tanto da filosofia quanto das cincias em geral.
O filsofo tem ainda um estilo direto e claro, embora a organizao de sua obra
muitas vezes no seja evidente, nem privilegie a apreenso sistemtica de suas
idias.
Considerando o estado de coisas acima descrito no que tange recepo da
filosofia de Cassirer no Brasil e ao seu modo de fazer filosofia, o presente trabalho
se coloca primeiramente a tarefa de apresentar a temtica central da obra de
Cassirer sistematicamente, considerando a tradio da qual parte, o contexto em
que se situa e as limitaes que encontra em seu percurso. Acredito que dessa
forma este trabalho possa, modestamente, contribuir para os estudos vindouros de
Cassirer no Brasil, auxiliando estudos mais aprofundados e pontuais, ou mesmo
estimulando o surgimento de discusses sobre sua obra. De fato, dada a escassez
de material sobre Cassirer no Brasil, boa parte da tarefa de pesquisa ficou por conta
de encontrar textos e autores que estudam o filsofo mundo afora. E dada a
inexistncia de discusses sobre sua obra no Brasil, um trabalho que focasse um ou
outro ponto muito especfico certamente no contribuiria nem para estimular os
estudos no filsofo, nem lograria sucesso em contrap-la perspectiva de outro
filsofo.
Certamente que o leitor encontrar aqui um ponto de vista particular sobre a
filosofia de Cassirer, que privilegia alguns aspectos de sua obra em detrimento de
outros. Todavia, o objetivo no tanto defender uma determinada interpretao
quanto apresentar sistematicamente o desenvolvimento de sua temtica principal
desenvolvida na Filosofia das Formas Simblicas em seus aspectos centrais.
-
14
ORIGENS DA FILOSOFIA DAS FORMAS SIMBLICAS
Ponto de partida: a constatao de um fracasso
O presente texto constitui o primeiro volume de uma obra cujos esboos iniciais
remontam s investigaes que se encontram resumidas no meu livro
Substanzbegriff und Funktionsbegriff [Conceito de Substncia e Conceito de Funo].
Estas pesquisas diziam respeito, principalmente, estrutura do pensamento no
campo da matemtica e das cincias naturais [Naturwissenschaften]. Ao tentar aplicar
o resultado de minhas anlises aos problemas inerentes s cincias do esprito
[Geisteswissenschaften], fui constatando gradualmente que a teoria geral do
conhecimento, na sua concepo tradicional e com as suas limitaes, insuficiente
para um embasamento metodolgico das cincias do esprito. Para que o objetivo
fosse alcanado, foi necessria uma ampliao substancial do programa
epistemolgico. (PSF I, p. 1)
Tal o texto que abre o prefcio ao primeiro volume da Filosofia das Formas
Simblicas. A informao que o fragmento traz, primeira vista meramente
circunstancial, sem grande relevncia para a investigao empreendida pela obra,
na verdade revela um ponto radical de ciso na trajetria filosfica de Cassirer. Bem
entendido, o trecho deixa evidente que a Filosofia das Formas Simblicas nasce da
constatao de um limite, de uma espcie de beco-sem-sada da epistemologia.
Trata-se de uma confisso de fracasso; confisso esta que obriga o filsofo a recuar
alguns passos em seu trajeto para que possa, ento, por outros caminhos, ou com
outras ferramentas, dar uma nova sada ao beco com o qual se deparara. E a sada
que anuncia Cassirer a ampliao substancial do programa epistemolgico: no
restringir a anlise, para os assuntos concernentes s cincias do esprito, somente
-
15
aos pressupostos gerais do conhecimento cientfico do mundo. Faz-se necessrio
agora dar voz s diversas formas fundamentais da compreenso humana do
mundo, pois somente a partir da compreenso de cada uma delas em seu modo
peculiar de manifestao possvel traar uma viso metodolgica clara que d
conta de embasar as diversas cincias do esprito.
Vemos aqui que a hiptese do filsofo para explicar o impasse ao qual
chegou a de que a concepo tradicional de conhecimento e, por conseguinte,
os mtodos que a concepo acarreta tem sido entendida de maneira estreita
demais pela tradio filosfica. Na verdade, tratar-se-ia de uma metonmia, pois que
essa concepo de conhecimento, entendido como a funo cognitiva prpria
esfera da prtica cientfica, que apenas uma das diversas formas do conhecer,
tomou a si como medida e instncia nica do verdadeiro conhecimento. E seria essa
metonmia a responsvel pelo beco que ora falvamos.
As conseqncias da ampliao do programa epistemolgico, como j se
pode suspeitar, so colossais. Todavia, no ainda neste momento da exposio
que a questo ser desenvolvida, uma vez que, para melhor entender a Filosofia
das Formas Simblicas e sua proposta de compreenso das diversas manifestaes
do esprito humano, necessrio aclarar as influncias e as circunstncias de sua
produo, razo pela qual a exposio recua primeiramente obra Substanzbegriff
und Funktionsbegriff, esta que, segundo Cassirer, apresenta os primeiros passos
que conduziram noo de forma simblica.
Destarte, neste captulo inicial ser contextualizada primeiramente a produo
intelectual da Escola de Marburgo frente ao debate epistemolgico de sua poca,
bem como a peculiaridade de sua proposta neokantiana ambas presentes na
citao de abertura na oposio entre Natur- e Geisteswissenschaft. Em seguida, j
-
16
num segundo momento da histria da prpria Escola, tratar-se- da obra Substncia
e Funo, tida como a primeira grande contribuio original de Cassirer ao corpo da
tradio filosfica, e como marca de sua ruptura com a doutrina de Marburgo. E, por
fim, dadas as consideraes necessrias desta obra, trataremos da limitao que a
mesma encontra frente s questes propostas pelas cincias do esprito e de como
isso afetou a Escola de Marburgo em geral, para ento poder situar propriamente o
leitor no magnum opus de Cassirer.
importante destacar que, como chave de leitura aqui assumida para a obra
de Cassirer, a declarao de abertura da Filosofia das Formas Simblicas acima
citada adquire papel central. Por meio daquilo que aqui chamamos de confisso de
fracasso, admitimos dois momentos radicalmente distintos na orientao do
programa filosfico do autor e, mais, que o segundo momento se d por conta do
esgotamento do primeiro, que no de todo descartado, mas que passa ento a ser
tomado como um caso particular que necessita ser articulado num campo
epistemolgico mais abrangente, embora ainda orientado pelo mtodo
transcendental. Nesse contexto, a proposta com a qual aqui se trabalha difere
significativamente daquela dos poucos comentadores de Cassirer existentes hoje. 1
Nenhum deles parece dar ateno mudana de orientao da investigao do
filsofo quando se propem a expor a sistemtica de sua obra. Ainda que
1 Dentre eles, destacamos John Krois, notrio especialista na filosofia de Cassirer, autor de Symbolic
Forms and History, e responsvel pela publicao (ora em andamento) das obras manuscritas do
autor; Christian Mckel, professor na Universidade Humboldt e responsvel pelas publicaes
pstumas ao lado de Krois; Steve Lofts, que escreveu A Repetition of Modernity e; Edward Skidelsky,
que no ano de 2008 publicou The Last Philosopher of Culture. Vale destacar que, salvo o texto de
Mckel, Das Urphnomen des Lebens, cuja proposta analisar em que medida a obra de Cassirer
pode ser aproximada da filosofia da vida, no h grandes discrepncias entre as interpretaes dos
comentadores citados, mas que h nuanas ora relevantes entre eles. Pontos especficos sobre cada
um dos textos aqui citados sero discutidos ao longo deste e dos demais captulos.
-
17
reconheam a distino ntida dos momentos anterior e posterior ao programa das
formas simblicas, parecem no dar a devida importncia aos efeitos dessa mesma
distino, por exemplo, no vocabulrio empregado pelo filsofo. Aqui sentimos a
necessidade de embasar a argumentao que tecemos considerando a poca de
publicao das obras a que nos referimos (antes ou depois da concepo do
programa das formas simblicas), sem usar de obras que no tenham sido escritas
na perspectiva do programa das formas simblicas para tal, nem de antecipar a
perspectiva da filosofia das formas simblicas em obras concebidas antes do
projeto. Com isso, acreditamos, ser possvel melhor apresentar a especificidade da
filosofia das formas simblicas como um projeto que possui suas prprias questes
e premissas e edifica um procedimento investigativo singular que a um s tempo
condio e conseqncia do sucesso desse projeto. A proposta de introduzir ao
texto das formas simblicas por meio de uma prvia abordagem de sua genealogia,
esta que dar conta de aspectos internos e contextuais que levam proposio de
uma filosofia das formas simblicas, possibilitar, cremos, deslindar seu lugar
especfico na histria da filosofia do sculo XX, bem como fornecer perspectivas de
sua aplicao a problemas filosficos contemporneos e contribuir para o debate
sobre a prpria obra de Cassirer, em seus limites e tendncias principais.
Escola de Marburgo
Panorama filosfico
A Escola de Marburgo se insere num movimento filosfico maior e
multifacetado de retorno a Kant e s tendncias idealistas do sculo XVIII em
-
18
resposta ao ambiente filosfico e cultural em que se encontrava a Alemanha. 2 Os
adeptos desse movimento arrogavam para si a reintroduo no seio da filosofia do
tipo de inquirio epistemolgica iniciado por Kant como nico meio de superar o
ambiente de anarquia, materialismo e declnio filosfico universal (KHNKE, 1986:
p. 37). J os pesquisadores e comentaristas do assunto divergem acerca do carter
especfico desse movimento. Por um lado, afirma-se que ele surge com a pretenso
de reviver a atmosfera profcua do idealismo e do humanismo do sculo XVIII frente
s tendncias msticas que se propalavam novamente na cultura alem, depois de
expulsas justamente pelo ambiente da Aufklrung.3 Outros4 atribuem seu surgimento
ao colapso do sistema hegeliano (apud POMA, 1997: p. 1), que junto de si levava
as expectativas depositadas no idealismo, favorecendo assim o florescimento das
cincias empricas (fisiologia, biologia, psicologia, antropologia etc.) e sobretudo do
2 O uso do termo movimento, em vez de escola (no singular) ou tendncia, segue a proposta de
Khnke (1986, p. 206), justamente para chamar a ateno heterogeneidade que o caracteriza.
assim que Khnke, seguindo T. K. sterreich, sistematiza o neokantismo em sete tendncias neo-
crticas: (1) tendncia fisiolgica (Helmholz, Lange); (2) tendncia metafsica (Liebmann, Volkelt); (3)
tendncia realista (Riehl); (4) tendncia lgica (Cohen, Natorp e Cassirer); (5) criticismo
transcendental dos valores (Windelband, Rickert); (6) remodelagem relativista do criticismo (Simmel)
e; (7) remodelagem psicolgica (Fries, Nelson).
3 Cf. GAWRONSKY, 1949: p. 5. Gawronsky no detalha quais so essas tendncias msticas s
quais se refere. Assim sendo, torna-se difcil precisar o que ele tem em mente, uma vez que nessa
poca digamos, entre as dcadas de 1830 e 1870, para tomar a datao analisada por Khnke
assistimos propagao, nos limites da filosofia em lngua alem, de tendncias radicalmente
diversas entre si (Schelling, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Nietzsche) e nenhuma delas ocupando
um posto notadamente mstico. Skidelsky fala de algo que pode remeter ao que diz Gawronsky (Cf.
p. 2), mas a tendncia mstica que se recorre devida alienao causada pelo avano da cincia
em termos de industrializao. Nesse caso, a recorrncia ao misticismo se d via psicologia. Khnke
(1986. esp. Introduo e cap. I) faz referncia renncia da weltanschaulich Philosophieren [o
filosofar de vises de mundo] e ao romantismo na filosofia, mas seria, do mesmo modo, temerrio
concluir disso uma preocupao com tendncias msticas.
4 Especialmente KHNKE (1986), mas tambm HOLTZHEY (2005), SKIDELSKY (2008), CROWELL
(2001) e POMA (1997).
-
19
esprito positivista. Para estes, a releitura de pensadores ilustres do sculo XVIII
Kant em especial figurava como uma alternativa tanto ao materialismo naturalista
quanto ao idealismo metafsico, situao que no configura tanto uma tentativa de
reavivar o racionalismo per se quanto retomar o projeto crtico justamente frente s
tendncias extremas de empiristas e idealistas.5 Cassirer tambm, no IV volume de
Das Erkenntnisproblem [O Problema do Conhecimento], faz um diagnstico da
situao vivida pela filosofia e sua relao com a epistemologia desde a morte de
Hegel (1832) at 1932, poca em que o livro escrito. A introduo desse texto d
especial ateno ao surgimento da teoria do conhecimento como disciplina
autnoma e como base formal para toda a filosofia. De acordo com Cassirer, dela
[da teoria do conhecimento] dever vir a deciso final sobre o mtodo adequado
para a filosofia e para a cincia em geral. (EP, IV: p. 5) Nestes termos, o filsofo
trata do vcuo deixado pela falncia da proposta hegeliana no campo cientfico,
primeiramente, e depois disso no campo da filosofia e da cultura de dar papel
central histria na realizao e verdadeira expresso de todo o conhecimento que
o esprito possui de sua prpria natureza e recursos. (Idem, p. 3) Em outras
palavras, o que fracassa com o hegelianismo a tentativa de dar primazia s
Geisteswissenschaften em relao s Naturwissenschaften, ao ponto mesmo de os
valores pendularem ao extremo oposto. Destarte, ascende o positivismo
curiosamente, segundo Cassirer, da Frana, onde o hegelianismo nunca vingou
propriamente como tentativa de responder, via investigaes calcadas firmemente
na empiria, s questes s quais o idealismo no logrou sucesso.
5 Muito embora, como aponta Holtzhey (2005, p. 6), em sua primeira fase este movimento fosse
caracterizado pelos mltiplos vnculos que guardava com o positivismo.
-
20
Ambiente poltico
No plano poltico, esse movimento, genericamente chamado de neokantismo,
coincide com ou faz parte da emergncia da Alemanha como Estado-Nao.
Nesse sentido, responde a uma necessidade nacionalista de auto-afirmao, com
vistas a combater as tendncias esquerdistas internacionalistas defendidas pelo
positivismo, que quela altura invadiam tambm a vida cultural e cvica da
Alemanha. O lugar exato do neokantismo nesse projeto nacionalista tambm alvo
de desacordo em relao a cada parte envolvida na questo. Segundo o dicionrio
filosfico da DDR,
o neokantismo emergiu e se desenvolveu nos anos 1860 e 1870 na mais ntima
associao com a aliana estabelecida entre os reacionrios feudais e a burguesia
alem contra o fortalecido e resoluto proletariado alemo e internacional. Nesse
perodo de elevados conflitos de classe e quase exatamente no mesmo ano da
Comuna de Paris a filosofia burguesa alem recorreu a Kant (apud. KHNKE,
1986, p. 3)
Esse esprito nacionalista certamente no determinante para a tarefa investigativa
da filosofia, mas nem por isso deve ser totalmente desconsiderado, ainda mais se
for levado em conta que aqui est o germe ideolgico do nazismo. Segundo viso
crtica partilhada por comentadores do incio do sculo XX, como Lwith, Korsch ou
Bloch, ou por comentadores mais recentes, como Skidelsky, Khnke ou mesmo
Holtzhey, h um peso ideolgico fundamental no neokantismo, ao ponto de permitir
a afirmao de que as escolas que dominaram as universidades alems
distorceram Kant, no ainda em um protofacista, mas num nacional-liberal, de modo
que o filsofo do esclarecimento germnico parecia um antecessor bismarquiano-
-
21
filisteu. (BLOCH apud KHNKE, 1986: p. 3) Essa afirmao, de certa forma,
corroborada pela extrapolao da crtica dirigida ao positivismo por parte de algumas
vertentes do neokantismo como o da Escola de Baden no momento em que elas
no mais se limitam a contestar a aplicao daquele em relao s
Geisteswissenschaften (e lembremos que inicialmente a discordncia em relao ao
positivismo nesse campo no se estendia em relao sua aplicao s cincias
naturais), mas passam a contest-la no que tange s cincias naturais, o que
significa contestar a prpria razo cientfica, que em sua tentativa de nos aproximar
do mundo, cada vez mais nos afasta dele.6 Um exemplo da discordncia original,
adstrita ao domnio das Geisteswissenschaften, pode ser notada pelo combate a
Buckle e Hippolyte Taine a respeito da aplicao da metodologia positivista para a
interpretao da literatura e da histria. 7 (SKIDELSKY, 2008 p. 22) Em outras
palavras, o que o neokantismo inicialmente contestava, salvo excees, no era o
mtodo positivista em relao sua aplicao s cincias naturais, mas somente a
6 De acordo com Rickert, as cincias naturais so meramente abstraes genricas da realidade, as
quais no so capazes de nos conduzir verdade das coisas. Os conceitos das cincias so apenas
roupas compradas prontas [ready-made] que servem em Paulo to bem quanto em Pedro porque
so cortadas na medida de nenhum dos dois. (1902) O posicionamento de Rickert tambm alvo
de crticas por parte de Cassirer em Substncia e Funo, na medida em que este entende o
progresso da cincia como um movimento infinito de aproximao com a realidade e Rickert como um
afastamento sempre maior. Cf. SKIDELSKY, 2008: p. 63. Interessante tambm ressaltar que,
segundo Friedman (2000, esp. cap. 3), desse irracionalismo que desponta no seio do neokantismo
surge uma das principais rupturas da filosofia do incio do sculo XX: o existencialismo de Heidegger,
aluno de Rickert.
7 H trs lugares principais onde Cassirer menciona Taine: no captulo XIV dedicado concepo de
histria no ltimo volume dO Problema do Conhecimento, no primeiro captulo do Ensaio sobre o
Homem (p. 38-40) e na segunda parte do terceiro ensaio que compe a Logik der Kulturwissenschaft
(p. 146-58). Nos dois primeiros, a perspectiva positivista tomada como uma tentativa de reduzir os
fenmenos espirituais a processos surgidos da evoluo histrica: Taine declara que estudar a
transformao da Revoluo Francesa como estudaria a metamorfose de um inseto. (EM, p. 39) No
terceiro, Cassirer se vale de Taine para mostrar a diferena entre Conceitos nas cincias naturais e
conceitos nas cincias culturais.
-
22
adoo daquele aos eventos das cincias do esprito. (Da a proximidade inicial, no
campo das cincias naturais, entre neokantismo e positivismo.) Mas foi apenas uma
questo de tempo at que esse limite fosse extrapolado e alguns passassem de
uma crtica do positivismo a uma revolta contra a prpria razo (com todas as
conseqncias que isso acarreta para a filosofia e a prpria cultura na qual esta se
inseria).8 Assim, podemos ler a disputa entre a primazia das cincias naturais ou do
esprito como padro geral epistemolgico como pano de fundo de outra, motivada
pelos interesses da classe reacionria contra os efeitos nivelantes da cincia e da
tecnologia na Alemanha, responsveis pelo seu crescimento acelerado.
(SKIDELSKY, 2008: p. 23)
O posicionamento de Cohen (muito prximo daquele que mais tarde Cassirer
seguiria) a esse respeito no se pauta tanto por um esprito nacionalista e, nesse
sentido, elitista, quanto numa espcie de socialismo que no seria um resultado
inexorvel do progresso econmico, como queria Marx, mas sim um ideal moral,
fruto de escolhas voluntrias. Este posicionamento decorre da sistemtica da Ethik
des reinen Willens, do poder constitucional reservado ao campo da tica (face ao
carter regulativo reservado s cincias naturais), que no poderia conceber a
atividade poltica como forosamente atada a quaisquer espcies de determinismo.
Importante notar que o posicionamento poltico de Marburgo, em particular, tenta
balancear os extremos da poca em que vive: cincia e religio, indstria e
aristocracia, liberdade e tradio. uma tentativa de humanizar a cincia,
racionalizar a religio, e liberalizar o socialismo. (SKIDELSKY, 2008: p. 42) O
8 Para muitos nomes importantes da poca, como Dilthey, a questo se encerrava na relao com as
cincias naturais. Contudo, a nfase exagerada na imparidade das humanidades se converteu em
instrumento ideolgico e tornou-se revolta contra a prpria racionalidade. essa extrapolao que d
margem ao surgimento, anos depois, da Lebensphilosophie de Bergson, Simmel e, sobretudo, de
Heidegger.
-
23
desenrolar dos fatos mostrou como tal posicionamento no frutificou nem entre as
tendncias neokantianas, nem como perspectiva poltica em geral. Entretanto, o
posicionamento moderado e, por assim dizer, conciliador, foi marca indiscutvel da
vida e da filosofia de Cassirer, defensor dos ideais da repblica de Weimar e
reconhecido mediador de tendncias filosficas.
Em termos histricos, no possvel datar precisamente o neokantismo,
tampouco eleger seu fundador. Nestes pontos, tambm, os comentadores divergem.
Por conta disso, tomar-se- aqui como incio do neokantismo a poca da morte de
Hegel (dcada de 1830), para seguir tanto a proposta de Cassirer em Das
Erkenntnisproblem IV, quanto para seguir a proposta de Khnke (1986), e como seu
final, o momento da partida de Cassirer da Alemanha, quando da ascenso de Hitler
ao poder em 1933. Tal datao pode ser dividida em quatro perodos distintos. O
primeiro (1832-1848) compreende a pr-histria do neokantismo, desde o abandono
do idealismo alemo e a emerso da teoria do conhecimento como disciplina
autnoma, at o surgimento das primeiras publicaes com o imperativo de retorno
a Kant (Zeller e Liebmann). O segundo (1848-1871), dividido entre a fase fisiolgica
(Helmholtz, Lange), as geraes cticas9 e a disputa Trendelenburg-Fischer em
torno da questo da experincia em Kant. O terceiro momento (1871-1914)
marcado pela apario e consolidao das duas tendncias principais do
neokantismo as escolas de Baden e Marburgo , bem como, relevante
particularmente para o presente trabalho, dos principais trabalhos elaborados pela
Escola de Marburgo no campo da lgica (o Sistema de Cohen e as obras de Natorp
e Cassirer). O quarto momento (1914-1933) fortemente marcado por crises
intelectuais e morais teoria da relatividade, mecnica quntica, aumento
9 Cf. KHNKE, 1986: cap. 3.
-
24
exponencial do antissemitismo na Alemanha, ocaso da Repblica de Weimar e, por
fim, ascenso de Hitler ao poder , que, alm de provocarem uma fisso no interior
da prpria Escola de Marburgo (a ontologia de Natorp face antropologia de
Cassirer), ainda fazem surgir tendncias que visam superar o neokantismo tanto no
campo filosfico (especialmente o existencialismo e o empirismo lgico), quanto em
sua viabilidade poltica (pelas razes acima citadas). 10
Doutrina de Marburgo
O retorno a Kant que Cohen prope bastante peculiar e motivado por
razes muito precisas. Para os objetivos do presente trabalho, necessrio destacar
trs pontos desse retorno, que so as marcas essenciais da teoria da experincia
que Cohen prope: (1) a preocupao com a cincia, que conduz formulao do
mtodo transcendental; (2) a noo de forma, depurada das interpretaes
equivocadas dos ps-kantianos e; (3) a noo de conhecimento como construo,
resultado da eliminao do dualismo kantiano entre as faculdades da sensibilidade e
do entendimento. Nestes trs tpicos pretendemos sintetizar o ncleo da doutrina de
Marburgo para que se possa entender de que forma Cassirer se apropria dessa
doutrina e em que medida sua obra pode ser considerada uma superao das
limitaes iniciais do mtodo traado por Cohen, bem como os fatores que levaram
necessidade de extrapolar tais limitaes.
10
No objetivo deste trabalho expor pormenorizadamente o desenvolvimento histrico do
neokantismo. Para mais detalhes sobre o neokantismo, Cf. esp. KHNKE, 1986. Como notvel ao
leitor familiarizado com a histria do neokantismo, as divises aqui marcadas no correspondem
exatamente a nenhuma das estabelecidas pelos historiadores da filosofia aqui mencionados. Todavia,
o recorte proposto se justifica pela articulao dos temas centrais dos quais trata o neokantismo,
ainda que, de algum modo, o recorte seja feito privilegiando a perspectiva de Marburgo.
-
25
O mtodo transcendental
De todas as correntes de pensamento neokantianas, a Escola de Marburgo ,
talvez, a mais comprometida com as cincias naturais.11 Desde o incio da Escola12,
que se d com a publicao de Kants Theorie der Erfahrung [Teoria da Experincia
de Kant] em 1871, fica evidente o objetivo de Cohen de mostrar como a filosofia
transcendental , de fato, plenamente apta a responder a questes demandadas
pela cincia sem recorrer a postulados de ordem metafsica. De fato, esse o intuito
de Cohen ao formular o mtodo transcendental (o qual, diga-se de passagem, ele
atribua ao prprio Kant) como aquele que parte dos fatos e ento busca suas
condies a priori de possibilidade. Mas preciso lembrar que, ainda que Cohen
esteja preocupado em dar respostas plausveis s questes advindas do campo da
cincia, nem por isso ele abre mo de tomar a si mesmo como um idealista. Assim,
ao mesmo tempo em que sua filosofia no pode ser meramente uma especulao
descolada da realidade, no pode, tanto quanto, bastar-se com o realismo ingnuo,
nas palavras de Cassirer, que limitava a filosofia ao materialismo triunfante da
11
Este ponto, da influncia da prtica cientfica na obra da Escola, que tem seu maior exemplo nas
consideraes que Cassirer faz acerca da teoria da relatividade de Einstein, mostra a proximidade da
Escola em relao ao positivismo (posicionamento este severamente criticado por outros setores do
neokantismo, uma vez que, atrelando o sucesso da filosofia ao desenvolvimento cientfico, faz
daquela serva desta).
12 De acordo com Philonenko (1974), a histria da Escola pode ser dividida em trs momentos
distintos: (1) a volta a Kant (1871-78), momento no qual Cohen se esfora por mostrar a relao
estreita entre a filosofia transcendental e as cincias. (2) (1878-1914) perodo no qual Cohen edifica
seu System der Philosophie, pice do desenvolvimento metodolgico de Marburgo. nessa fase que
Natorp e Cassirer passam a integrar a Escola. Neste perodo Cassirer desenvolve suas pesquisas
focado principalmente nas cincias naturais, como j dito acima, presentes principalmente em sua
obra de 1910 Substanzbegriff und Funktionsbegriff. (3) (1914-1933) perodo de crise moral, intelectual
e cientfica. Nesse momento, Natorp e Cassirer extrapolam os limites metodolgicos traados por
Cohen, cada qual num sentido diverso. o incio do esfacelamento da Escola. desta fase a
Filosofia das Formas Simblicas (1923-1929).
-
26
cincia 13 (POMA, 1997: p. 56). Dito de outro modo, trata-se do mesmo ideal
proposto por Trendelenburg, qual seja, o de estabelecer o ideal no real.14
A ateno ao mtodo a principal marca da Escola de Marburgo. (De fato, a
questo metodolgica to marcante que chega ao ponto de Natorp ser chamado
por Hans-Georg Gadamer, seu orientando para a tese de doutorado, de
Methodenfanatiker15) Para Cohen, a investigao transcendental essencialmente
uma questo metodolgica: ela se volta no aos contedos do conhecimento, mas
nossa maneira de conhecer os objetos na medida em que esse modo de
conhecimento [Erkentnissart] possvel a priori (KTE: p. 180, nota). por isso que
Cohen enxerga na filosofia de Kant a proposta de uma nova teoria da experincia
nome de sua primeira grande obra. Importante ressaltar que essa obra foi
concebida com a pretenso de esclarecer equvocos no entendimento acerca das
idias de Kant, de tal sorte que Cohen toma para si a tarefa de advogar em nome de
Kant. Eu senti a necessidade urgente de apresentar o Kant histrico e de defend-
lo de seus oponentes em sua fisionomia genuna, tanto quanto eu era capaz de
entend-la. (Idem, p. iii-iv)
Em que se pesem as crticas que se seguiram ao posicionamento de
Cohen16 , sua leitura epistemologista o leva a repensar o dualismo contido na
13
Materialismo no nada alm de realismo dogmtico KTE, p. 46. Apud POMA, 1997: p. 58.
14 A referncia a Trendelenburg se deve ao fato de que, segundo Poma (1997, cap. I) e Khnke
(1986, cap. V), a obra de Cohen deve ser tomada na perspectiva direta do debate Trendelenburg-
Fischer, no qual Cohen se posiciona notadamente de modo mais prximo a Trendelenburg, mas sem
rechaar Fischer completamente. Adiante falaremos mais das implicaes do debate para a doutrina
de Marburgo.
15 Apud Kim, Alan, "Paul Natorp", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = .
16 A interpretao de Kant proposta por Cohen alvo de crticas contundentes, por exemplo, por parte
de Khnke (1986: esp. cap. 5, p. 178-97). Para ele, Cohen v na KRV seu exato oposto, o que
significa no tanto resgatar o sentido original da Crtica quanto oferecer uma crtica ao empirismo,
-
27
separao entre as faculdades da sensibilidade e do entendimento (da mesma
forma que o faz a Escola de Baden, sob a direo de Windelband e Rickert), j que,
de sua necessidade de responder ameaa ctica das interpretaes psicologistas
da Crtica (de Lange e Fischer), devm a necessidade de provar como os conceitos
no derivam da experincia portanto, da sensibilidade , mas apenas da faculdade
lgica do entendimento. por conta disso que a doutrina de Marburgo comumente
conhecida como idealismo lgico, o que se torna aparente at mesmo pela
considerao do ttulo da obra de Cohen, Logik der reinen Erkenntnis (1902) [Lgica
do Conhecimento Puro], ou mesmo pela proposta do projeto da reine Logik17, um
reino ideal de estruturas lgicas atemporais e formais18.
a partir do projeto do idealismo lgico delineado por Cohen que sero
produzidas as principais obras daquilo que aqui chamamos de segunda fase da
histria da Escola de Marburgo, pice da aplicao do mtodo transcendental s
cincias naturais, lgica e matemtica. a partir desses pressupostos que foram
publicadas as primeiras obras de Cassirer os dois primeiros volumes dO Problema
do Conhecimento e Substncia e Funo. Antes, porm, de passar considerao
das obras dessa primeira fase de produo intelectual de Cassirer, h mais dois
positivismo e materialismo da poca. Lebrun tambm parte de uma crtica ao posicionamento de
Cohen em Kant et la Fin de la Mtaphysique, como podemos notar pela leitura do primeiro captulo da
obra. Diz Lebrun: Desde ento [da publicao do texto de Cohen], a teoria da possibilidade da
experincia constituiria o centro da Crtica... Ora, no desequilibr-la ver nela essencialmente uma
legitimao das cincias da natureza pela anlise dos elementos transcendentais do conhecimento?
Tal a dvida da qual ns partiremos. (1970, p. 19)
17 certo que a idia de uma lgica pura no nasce com os neokantianos. Tanto estes quanto
Husserl admitem ser Bolzano, Lotze, Herbart e Meinong suas fontes. Mais tarde, poca do
aparecimento das Investigaes Lgicas, o posicionamento neokantiano se mostrar prximo ao de
Husserl a respeito da recusa do psicologismo.
18 Friedman alerta (2000, p. 28) para o fato de que o termo formal, para o caso da Escola de
Marburgo, dever ser tomado como transcendental, dada a distino fundamental para a escola
entre a lgica meramente formal e a lgica transcendental. Falaremos a respeito adiante.
-
28
pontos a esclarecer sobre a doutrina de Marburgo, ambos decorrentes dos traos
gerais que apresentamos do mtodo transcendental.
A noo de forma
Uma das tarefas que Cohen precisava cumprir para estabelecer o idealismo
lgico era depurar o a priori tanto quanto possvel de qualquer implicao metafsica,
de modo a tornar a filosofia completamente aderente ao desenvolvimento da cincia.
por conta disso que Cohen toma o a priori como condio formal de possibilidade
da experincia. No se trata de um rgo, como queriam os fisiologistas, mas
meramente de uma forma; o ato da intuio considerado independentemente de seu
contedo. O espao uma intuio a priori significa: uma condio constitutiva
da experincia. No aparece a priori por ser inata, mas aparece inata por ser a priori.
Assim, a experincia passa a ser no uma coisa em si mesma, independente da
mente, mas a sntese dos fenmenos. Trata-se de uma fundao formal em
oposio a uma ontolgica da experincia, na qual o sujeito transcendental
tambm perde seu carter ontolgico para se tornar meramente uma forma
transcendental.
Deixemos ento de nos preocuparmos se essas condies [espao e tempo] so
inatas; porque embora saibamos que certas peculiaridades da conscincia so, no
fim das contas, denotadas pelo espao e pelo tempo. Essas peculiaridades da
conscincia [Bewusstsein], como conscincia [Bewusstheit], no so capazes de
gerar cincia. E nosso interesse est direcionado a essa ltima questo, somente; o
interesse no inato est, portanto, suplantado pelo interesse nas condies que
constituem a unidade da experincia. (KTE, p. 216)
-
29
De fato, nessa reconsiderao da experincia como forma, toda a orientao
do programa kantiano muda de referencial, passando da eternidade para o
desenvolvimento histrico. Assim,
Anschauung se torna um sinnimo de matemtica, Erfahrung, de cincia emprica e
Bewusstsein, dos princpios a priori que embasam a matemtica e as cincias
empricas. A funo de constituio do objeto transferida do sujeito transcendental
kantiano para as prticas evolutivas da fsica. (SKIDELSKY, 2008: p. 30)
Alm disso, a prpria coisa-em-si perde seu estatuto ontolgico (a priori constitutivo)
para tornar-se um ideal irrealizvel de conhecimento da realidade (a priori
regulativo)19, para o qual o desenvolvimento progressivo do conhecimento tende,
mas jamais alcana efetivamente a assim chamada concepo gentica de
conhecimento.
Conhecimento e construo
H ainda uma caracterstica importante que surge da teoria da experincia
exposta por Cohen: o conhecimento no e no pode ser uma cpia do mundo
19
A diferena entre a priori constitutivo e regulativo remete s faculdades da sensibilidade e do
entendimento, de um lado, e da razo e do juzo, de outro. Os princpios constitutivos (como a fsica
newtoniana, ou a geometria euclidiana), devem se realizar na experincia sensvel, por serem
condies necessrias da intersubjetividade, ao passo que os regulativos (como os princpios da
coerncia e da mxima simplicidade) so ideais, ou metas, que jamais se realizaro na experincia.
Os primeiros surgem da aplicao das faculdades intelectuais faculdade da sensibilidade, enquanto
os ltimos, das prprias faculdades independentemente de tal aplicao. Assim, da rejeio da
independncia da faculdade da sensibilidade em relao do entendimento, segue-se que o a priori
constitutivo foi substitudo por um ideal puramente regulativo.
-
30
(este o realismo ingnuo do qual fala Cassirer), mas sim, tem de ser uma
construo. Levando-se a revoluo copernicana de Kant em considerao s
conhecemos das coisas aquilo que ns mesmos colocamos nelas , tem-se que a
experincia no pode ser entendida como um datum, frente ao qual o sujeito
passivo. O conhecimento efetivamente produzido como experincia, da mesma
forma que o gemetra constri o tringulo com o qual o fsico mede as dimenses
da natureza.
Esse princpio bsico da doutrina de Marburgo, remetido a uma interpretao
de Kant, tal qual aqui exposto, deve ser remetido ao debate Fischer-Trendelenburg.
Segundo Khnke, esse princpio
repousa numa interpretao de Kant que desejava fechar o 'gap' que Trendelenburg
afirmava existir na prova kantiana sem ao mesmo tempo cair no outro extremo de um
idealismo subjetivo. Fischer permitiu s 'formas da razo' produzir suas representaes
mentais, Trendelenburg contribuiu para repelir a negao ctica da objetividade foi de
ambos que Cohen desenvolveu sua teoria da 'produo do objeto'. por isso que o teorema
no deve ser legitimado pela Crtica da Razo Pura, somente, como se sustenta usualmente,
mas, antes, deve ser entendido como um resultado do debate Fischer-Trendelenburg.
(KHNKE, 1986: p. 178)20
Vale ainda lembrar que o ideal de conhecimento como construo devm
diretamente da eliminao do dualismo kantiano. Nesse sentido, negar a
passividade da sensibilidade conduz inevitavelmente a admitir que o conhecimento
fruto de construo lgica, a partir das estruturas formais a priori do entendimento.
20
Khnke tambm v problemas no uso que Cohen faz dessa noo de construo, que Kant, afirma
ele, admitia exclusivamente no caso das matemticas, mas essa questo no cabe para a presente
ocasio.
-
31
A idia de construo cara a Cassirer. Num primeiro momento, sua
aplicao restrita ao domnio das cincias naturais, dadas as limitaes do mtodo
tal qual formulado por Cohen. De fato, como veremos na prxima seo do texto,
da limitao do mtodo que surgem as primeiras rupturas na Escola e essas,
somadas aos desenvolvimentos da cincia (como o advento da lgica simblica, por
exemplo), conduzem a alteraes significativas dos pressupostos do mtodo. A
mesma idia de construo usada por Cassirer tambm em suas obras de
maturidade, mas l as molduras do mtodo aqui exposto j haviam sido
substancialmente modificadas.
Substncia e Funo
A tarefa da nova lgica
Cassirer, j no segundo perodo da Escola de Marburgo, parte das bases
fundadas por Cohen para dedicar-se ao problema do conhecimento nome de sua
primeira grande obra. Com efeito, essa obra monumental (quatro tomos e cerca de
1300 pginas) pode ser entendida como um exemplo de aplicao dos postulados
da doutrina de Marburgo. A viso da obra acerca do desenvolvimento da cincia
desde o renascimento expressa, implicitamente, o ideal metodolgico do
desenvolvimento sempre contnuo da cincia. certo que os tomos da obra no
foram todos escritos mesma poca (os dois primeiros so de 1906 e 1907, o
terceiro de 1920 e o quarto, postumamente publicado, foi escrito em 1932), alm
de serem comumente relegados ao status de obra escolar dentro do corpus de
-
32
Cassirer21, contudo, nela, desde os primeiros volumes, ficam evidentes a erudio, o
domnio e a capacidade de articulao da histria da filosofia por Cassirer, o que
vem a se confirmar pelas demais obras que escreveria mais tarde.
Mas na obra Conceito de Substncia e Conceito de Funo (aqui abreviada
para Substncia e Funo, para seguir a proposta de traduo para a lngua
inglesa), principal obra de sua fase de juventude, que os postulados de Marburgo
so levados ao extremo, numa tentativa de consolidar o idealismo lgico junto aos
avanos recentes no campo da prpria lgica matemtica, concretizando assim sua
promessa de criar uma lgica do conhecimento objetivo.22
O ponto de partida de Substncia e Funo so os recentes
desenvolvimentos na lgica, estimulados pelas ou resultantes das questes
levantadas pelos avanos na teoria matemtica. Assim, a lgica, que se encontrava
h sculos isolada em sua profunda modorra, foi novamente integrada s novas
investigaes da filosofia. Desta forma, a lgica foi levada a reavaliar seus
postulados, praticamente inalterados desde Aristteles.
O impacto disto, para a filosofia e para a cincia, como se pode imaginar,
radical. Para tomar um exemplo deste impacto, particularmente relevante para o
trabalho presente, basta lembrar que Kant abre o prefcio 2 edio da Crtica da
Razo Pura justamente com um elogio da lgica como exemplo de cincia:
Pode reconhecer-se que a lgica, desde remotos tempos, seguiu a via segura [das
cincias], pelo fato de, desde Aristteles, no ter dado um passo atrs, a no ser que
21
Cf. Krois, J. A Note about Philosophy and History: The Place of Cassirer's Erkenntnisproblem.
22 O termo aparece no texto de 1907, Kant und die moderne Mathematik [KMM]: Ento, no ponto
onde a lgica simblica [Logistik] termina comea uma nova tarefa. O que a filosofia crtica procura e
o que ela a partir de agora precisa de uma lgica do conhecimento objetivo [Logik der
gegenstandlichen Erkenntnis] (p. 44)
-
33
se leve conta de aperfeioamento a abolio da algumas subtilezas desnecessrias
ou a determinao mais ntida do seu contedo, coisa que mais diz respeito
elegncia que certeza da cincia. Tambm digno de nota que no tenha at hoje
progredido, parecendo, por conseguinte, acabada e perfeita, tanto quanto se nos
pode afigurar. (KrV: B VIII)
Tal ponto de vista corroborado por Cassirer logo na abertura de Substncia e Funo:
Na lgica o pensamento filosfico parece ter feito uma firme fundao; nela um
campo parecia ter sido delimitado, o qual estava assegurado contra todas as dvidas
levantadas por vrios pontos de vista e vrias hipteses epistemolgicas. O
julgamento de Kant parecia verificado e confirmado, que aqui o reto e seguro caminho
da cincia tinha finalmente sido alcanado. (SF, p. 3)
O fato de Cassirer iniciar seu texto chamando a ateno de seu leitor para este
dado, de que a lgica aristotlica era o grande paradigma de cincia para Kant, um
importante ndice do carter que a obra ter, dado que ela inegavelmente
neokantiana. como se Cassirer dissesse que necessrio fundamentar a filosofia
crtica em bases inteiramente novas, e estas no podem ser jamais as da lgica
tradicional, dada a infeliz aproximao desta com a linguagem, como ser discutido
em seguida. As conseqncias que acarretam a reformulao da lgica, entretanto,
so sentidas no apenas desde o ponto de vista (neo)kantiano; com efeito, todo o
corpus da filosofia aqui colocado em questo, dado que a derrubada deste nico
alicerce de fato slido faz ruir tambm tudo aquilo que se encontra em cima dele.
Destarte, o prprio modelo de racionalidade que est em questo: O trabalho de
sculos na formulao de doutrinas fundamentais parece dissolver-se, ao passo que
-
34
novos grupos de problemas, resultantes da teoria matemtica geral, colocam-se em
primeiro plano. (Idem, ibidem)
A doutrina do conceito genrico
A crtica dos postulados da lgica est atrelada, para Cassirer, s profundas
alteraes no ideal do conhecimento (Idem, ibidem) ou seja, levando-se em conta
as j abordadas contendas entre idealismo e empirismo, mas sobretudo pela recusa
de aplicao de postulados de carter metafsico, implcitos na lgica aristotlica
atravs da doutrina tradicional do conceito, tomado como a a partir da qual os
elementos acidentais se agrupam e se organizam hierarquicamente em outras
palavras, a relao coisa-atributo. Assim sendo, nas palavras de Lofts, a estratgia
de Cassirer a de descentralizar a lgica centrada na substncia, no tomando o
ser como o terminus a quo do juzo, mas como o terminus ad quem (2000, p. 37),
donde se segue que o foco deve recair inicialmente sobre o paradigma clssico da
formao de conceitos: a noo de conceito genrico [Gattungsbegriff], resultado de
processo de abstrao por notas caractersticas.
Nada pressuposto [na doutrina do conceito genrico], salvo a existncia de coisas
em sua inexaurvel multiplicidade, e o poder do intelecto de selecionar a partir dessa
riqueza de existncias particulares aquelas feies que so comuns a vrias delas.
(...) As funes essenciais do pensamento, nesse contexto, so meramente aquelas
de comparar e diferenciar uma diversidade dada na sensibilidade. (Idem, p. 4,5)
Mas justamente nesses pressupostos que se encontra o cerne do problema do
conceito genrico. Em primeiro lugar, h a pressuposio da existncia das coisas
-
35
e por essa razo que Cassirer afirma que a lgica aristotlica a verdadeira
expresso e o espelho da metafsica aristotlica, onde o conceito tem o papel de
elo entre ambos os domnios. O sistema lgico de Aristteles tem, em ltima anlise,
uma concepo metafsica de substncia [ ] que serve de referencial e de
suporte para suas afirmaes. Assim sendo, a concepo aristotlica de natureza
precondiciona as formas fundamentais de pensamento, as categorias, e o prprio
sentido do ser.
Somente em substncias dadas, existentes, as vrias determinaes do ser so
pensadas. Somente num substratum fixo do tipo coisa, que primeiramente precisa ser
dado, podem as variedades lgica e gramatical do ser em geral encontrar seu
fundamento e sua real aplicao. (Idem, p. 8)
Em segundo lugar, para que a ligao entre natureza e pensamento, por meio
do conceito, se efetive, h de se afirmar que a funo do intelecto simplesmente a
de comparar as qualidades que esto nas coisas elas mesmas, na medida em que
os conceitos devem corresponder s divises do real. O processo de comparar as
coisas e agrup-las de acordo com as propriedades similares, tal qual expressa
antes de tudo na linguagem (...) termina na descoberta da essncia real das coisas.
(Idem, p. 7) isso, somente, que pode assegurar que a seleo das notas
caractersticas no seja um mero esquema subjetivo, mas seja simultaneamente
uma expresso formal e objetiva das relaes teleolgica e causal das coisas
reais.23
23
A mesma questo relativa lgica tradicional tambm abordada no captulo Linguagem e
Conceituao do texto Sprache und Mythos ein Beitrag zum Problem der Gtternamen [SM], escrito
14 anos mais tarde e, portanto, posterior publicao da Fenomenologia da Linguagem, primeira
parte da Filosofia das Formas Simblicas. L, sem referncia direta a Aristteles, Cassirer questiona
-
36
Dessa forma em terceiro lugar , o problema se transfere para o processo
de reunio das notas caractersticas. temerrio afirmar que tal processo
totalmente livre de arbitrariedades: escolhemos aquilo que nos , para o momento,
mais relevante, em detrimento daquilo que julgamos sem importncia. como se a
conceituao operasse por negaes: O ato essencial aqui pressuposto que ns
renunciamos certas determinaes, que at ento havamos mantido; que ns
abstramos delas e as exclumos de considerao como irrelevantes. (Idem, p. 18)
Se toda a construo de conceitos consiste em selecionar a partir de uma
pluralidade de objetos diante de ns somente as propriedades similares, enquanto
negligenciamos o resto, fica claro que por meio desse tipo de reduo o que
meramente uma parte toma o lugar do todo sensvel original (Idem, p. 6)
a validade da lgica tradicional a partir de uma abordagem fenomenolgica: A formao de um
conceito genrico pressupe a limitao destas caractersticas; somente quando existem certos
traos fixos, mediante os quais as coisas podem ser reconhecidas como semelhantes ou
dessemelhantes, coincidentes ou no-coincidentes, torna-se possvel reunir em uma classe os
objetos similares entre si. Como porm no podemos deixar de nos perguntar podem existir
semelhantes notas caractersticas, antes da linguagem, antes do ato de denominao? No seria
melhor afirmar que elas so apreendidas por meio da linguagem, no prprio ato de nome-las? Caso
se aceite esta ltima suposio, segundo que regras e critrios se desenvolve tal ato? O que induz ou
obriga a linguagem a reunir justamente estas representaes numa unidade e design-las com uma
determinada palavra? O que a leva a selecionar certas configuraes nas sries sempre fluentes e
uniformes de impresses que ferem nossos sentidos ou brotam dos processos espontneos da
mente, fazendo com que se detenha diante delas e lhes confira uma significao particular? Logo
que se aborda o problema neste sentido, a lgica tradicional abandona o pesquisador ou o filsofo da
linguagem, pois a explicao que d sobre o surgimento das representaes gerais e dos conceitos
genricos pressupe aquilo que aqui se procura e de cuja possibilidade indagamos, ou seja, a
formao das noes lingsticas. (SM, p. 42-3)
Outro ponto, que no ser desenvolvido agora, mas ao qual se deve chamar ateno a
concepo de conhecimento enquanto cpia, que est implcita aqui. Como se pode entrever,
Cassirer prepara o terreno para apresentar a noo de conhecimento como construo, cara
Marburgo, como j dito.
-
37
Para exemplificar o problema, Cassirer toma um exemplo famoso de Lotze: se
agruparmos cerejas e carne sob os atributos vermelho, suculento e comestvel, no
alcanaremos um conceito lgico vlido, mas uma combinao de palavras sem
sentido, completamente intil para a compreenso dos casos particulares. (Idem, p.
7) E, se o problema for considerado mais profundamente, admitir-se- que a escolha
lgica no evidente, mas apenas uma das tantas possveis o que abre espao
para a atividade, propriamente falando, do esprito na formao dos conceitos. Aqui
notamos, portanto, que o modelo de conhecimento como construo o que norteia
o posicionamento de Cassirer. Na necessidade de depurar a lgica dos
pressupostos metafsicos, necessrio abrir mo da referncia e, em
decorrncia disso, perde-se o referencial objetivo (leia-se, de uma realidade
independente da mente) que garantiria a ela o acesso privilegiado ao conhecimento
verdadeiro.
Alm do mais, em quarto lugar, esse tipo de formao de conceitos falha na
medida em que, ao levar o processo de abstrao s suas ltimas conseqncias,
cria conceitos que, em um extremo, so objetos concretos em particular e, em outro,
so simplesmente algo um mero ser: quanto mais contedos particulares, menor a
extenso do conceito no limite, chegamos ao nvel do singular; ao passo que
quanto menos atento a tais particularidades, mais se torna inclusivo e, no limite,
tende total indeterminao. justamente pela indeterminao que o conceito
falha, j que a cincia espera do conceito que ele ponha fim ambigidade e
indeterminao das percepes sensveis. Ademais, o caminho da abstrao, dado
que simplesmente desconsidera a importncia de determinadas caractersticas de
objetos particulares, no pode ser refeito em direo ao objeto concreto novamente.
-
38
Noutras palavras, com o procedimento da abstrao, no se deduz o particular,
precisamente em suas particularidades, de nenhum universal.
A abstrao muito fcil para o filsofo, mas por outro lado, a determinao do
particular a partir do universal, muito mais difcil; pois no processo de abstrao ele
deixa para trs todas as particularidades, de tal sorte que no pode recuper-las,
muito menos considerar as transformaes das quais elas so capazes. (Idem, p. 19)
Noutra perspectiva, Cassirer alerta aos problemas contidos na psicologia da
abstrao, segundo a qual a determinao se d no apenas no momento particular
da percepo, mas deixam atrs de si certos traos de sua existncia no sujeito
psicofsico. (Idem, p. 11) Assim, a recorrncia inconsciente dos mesmos estmulos
gradualmente cristalizaria o conceito na mente. Essa perspectiva (e aqui o filsofo
se refere textualmente a Berkeley e Mill), de acordo com Cassirer, tem sua fundao
no ato de identificao, que tenta relacionar contedos dados em momentos ou
lugares distintos como, em alguma medida, idnticos. Mas bem se sabe que a
identificao de dois objetos distintos nada mais do que uma negao das
particularidades, caracterstica do dom do esquecimento de nossa mente
incapacidade de reter todas as determinaes particulares de todas as impresses
sensveis.
Se as imagens da memria, que permanecem conosco de experincias prvias,
fossem completamente determinadas, se elas revocassem os contedos esquecidos
da conscincia em sua natureza total, concreta e viva, elas jamais seriam tomadas
como similares nova impresso e ento nunca seriam combinadas em uma unidade
com o ltimo. Somente a inexatido da reproduo, que nunca retm o todo da
primeira impresso, mas meramente seu vago esboo, torna possvel essa unificao
-
39
de elementos que so, eles mesmos, dissimilares. Destarte, toda a formao de
conceitos comearia com a substituio de uma imagem generalizada para a intuio
sensvel individual, e no lugar da percepo atual, a substituio de sua imperfeita e
desfalecida lembrana. (Idem, p. 18)
Assim, percebe-se como o processo de abstrao, como princpio formador dos
conceitos, tomado seja em sentido de notas caractersticas, tal qual em Aristteles,
seja pela via da psicologia da abstrao, acaba por conduzir no eliminao da
ambigidade, como desejado, mas sim a um esquema superficial a partir do qual
todos os traos peculiares dos casos particulares se foram. 24
Os conceitos matemticos
Outro problema apontado por Cassirer para a lgica aristotlica, ainda no
mbito da atividade cientfica, o de que esse modelo no explica a formao dos
conceitos matemticos: o conceito de ponto, ou de linha ou de superfcie no pode
ser tomado como uma parte imediata de corpos fisicamente presentes e separados
deles por simples abstrao (Idem, p. 12). Em simtrica oposio teoria dos
nmeros de Mill, Cassirer entende os conceitos matemticos como construes do
pensamento (Denkgebilden) que, diversamente do que ocorre nos conceitos
24
necessrio tambm ressaltar que essa crtica no se limita somente ao realismo, mas se aplica
igualmente ao nominalismo. Para Cassirer, o que distingue ambos apenas a questo da realidade
metafsica dos conceitos. De fato, na deduo psicolgica do conceito, o esquema tradicional no
tanto mudado quanto transportado para outro campo. Enquanto, no primeiro, coisas exteriores eram
comparadas e a partir delas elementos comuns eram selecionados, aqui [no nominalismo] o mesmo
processo meramente transferido para representaes enquanto correlatos de coisas. (SF, p. 9)
Segundo o autor, no h nenhuma diferena fundamental no que concerne estrutura do conceito
entre os dois pontos de vista. Ambos vem o conceito como reprodutor de uma realidade seja ela
ontolgica ou psicolgica.
-
40
empricos, no podem ser entendidos como cpias de caractersticas da realidade
sensvel, tal como postula Mill. Na economia do texto de Cassirer, a necessidade de
refutar o empirismo de Mill mais um ndice da vinculao da obra programtica
neokantiana. Assim, basta dizer que Cassirer esgota a teoria sensacionista dos
nmeros de Mill que reduz os conceitos matemticos a meras expresses de
questes da realidade fsica concreta (Idem, ibidem), fazendo da geometria e da
aritmtica no mais do que declaraes referentes a grupos de representaes
(Idem, p. 13) vinculando-a indiretamente, por um lado, ao que extrai da teoria do
conceito em Aristteles (as implicaes metafsicas), e por outro, apontando
problemas internos da teoria quando seu autor tenta justificar o valor peculiar dado
experincia de numerao e mensurao no todo de nossa experincia a partir da
qual (junto da crtica que faz da psicologia da abstrao), inclusive, enxerga uma
brecha para introduzir, via matemtica, a concepo de conceito que pretende fazer
substituir aristotlica. Numa citao livre de Um Sistema de Lgica de Mill,
Cassirer diz:
no h pontos sem magnitude, nem linhas perfeitamente retas ou crculos com radii
iguais. Mais ainda, do ponto de vista de nossa experincia, no somente a realidade
atual, mas a prpria possibilidade de tais contedos deve ser negada; ela ao menos
excluda pelas propriedades fsicas de nosso planeta, seno pelas de nosso universo.
Mas a existncia psquica negada no menos do que a fsica para os objetos das
definies geomtricas. Pois em nossa mente ns nunca encontramos a
representao de um ponto matemtico, mas sempre somente a menor extenso
sensvel possvel; da mesma forma ns nunca concebemos uma linha sem
espessura, pois toda imagem psquica que podemos formar nos mostra somente
linhas com alguma espessura. (Idem, p. 13-4)
-
41
A argumentao de Mill aqui claramente contrria quela de que os conceitos da
matemtica de alguma forma remetem a situaes de observao concreta.
Percebe-se aqui uma alterao na concepo de abstrao que, at ento, tinha a
funo apenas de seccionar o ser de acordo com suas caractersticas supostamente
naturais como no caso das cincias descritivas, paradigma e interesse central de
Aristteles.
nas definies da matemtica pura, contudo, como a prpria explanao de Mill
mostra, o mundo das coisas sensveis e representaes no tanto reproduzido
quanto transformado e suplantado por uma ordem de outro tipo. Se traarmos o
mtodo dessa transformao, certas formas de relao, ou melhor, um sistema
ordenado de funes intelectuais estritamente diferenciadas, so reveladas, as quais
no poderiam ser caracterizadas, menos ainda justificadas, pelo simples esquema da
'abstrao'. (Idem, p. 14)
A transformao qual o filsofo se refere aqui no nada alm da atividade
espiritual, que ser desenvolvida em termos do conceito liberto das amarras
metafsicas a abstrao aristotlica e a matemtica emprica. E esta atividade se
evidencia no ato de identificao, como abordado no caso da psicologia da
abstrao, momento no qual o esprito sintetiza dados sensveis separados
temporalmente. Assim, de acordo com a maneira e a direo com que essa sntese
se faz, o mesmo material sensvel pode ser apreendido sob diferentes formas
conceituais. (Idem, p. 15) Da se segue que a psicologia da abstrao deve
primeiramente admitir que as percepes possam ser ordenadas logicamente em
sries de similares.
-
42
Sem um processo de arranjo em sries, sem passar por diferentes instncias, a
conscincia de sua conexo genrica e conseqentemente, de objeto abstrato
jamais poderia ser dada. A transio de membro para membro, entretanto,
manifestamente pressupe um princpio de acordo com o qual ela se d, e pelo qual
a forma da dependncia entre cada membro e seu sucessor determinada. (Idem,
ibidem)
A noo de srie aqui cara a Cassirer. Com efeito, a partir dela, junto da noo
de funo, que o novo modelo de conceito ser elaborado. Assim, o filsofo passa a
falar em relaes fundamentais gerativas [erzeugenden Grundrelation] e em formas
de sries, a partir das quais os objetos sero determinados.
Conceito de funo
Dizemos que um contedo sensvel qualquer est ordenado e apreendido
conceitualmente quando seus membros no se colocam uns ao lado dos outros sem
relao, mas procedem de um incio definido, de acordo com uma relao
fundamental gerativa, numa seqncia necessria. a identidade dessa relao,
mantida atravs das mudanas nos contedos particulares, que constitui a forma
especfica do conceito. (Idem, ibidem)
E, por esta via,
ns podemos conceber membros de sries ordenadas de acordo com igualdade ou
desigualdade, nmero e magnitude, relaes espaciais e temporais, ou dependncia
causal. A relao de necessidade ento produzida em cada caso decisiva; o
conceito meramente a expresso e a casca disso, e no a apresentao genrica,
que pode surgir incidentemente sob determinadas circunstncias, mas que no entra
como um elemento efetivo na definio do conceito. (Idem, p. 16)
-
43
Ateno merece ser dada passagem que diz: [o conceito] no entra como
um elemento efetivo na definio do conceito. isso, de fato, que o filsofo entende
por um conceito livre da necessidade de postular uma substncia como seu
fundamento, quando, ao invs, o conceito no tem validade ntica, mas meramente
funcional, expressa pela categoria da relao. A questo da categoria da relao
um ponto que necessita de esclarecimentos. Na lgica aristotlica ela ocupava um
lugar junto s demais categorias secundrias, no-essenciais. Dada a j
mencionada descentralizao do conceito orientado pela substncia o que
justificava a hierarquia das categorias, possibilitando inclusive a orientao das
notas caractersticas e todo o processo de abstrao a categoria da relao passa
a ter um lugar equivalente s demais, quando no, passa a ser a categoria central.
Na verdade, a confuso causada pela teoria da abstrao de tal ordem que no se
faz notar a diferena entre uma forma categrica, responsvel pelas definies a
serem dadas ao contedo da percepo, e partes do prprio contedo em questo.
Tudo se passa como se o pensamento estivesse limitado a selecionar de uma srie
de percepes a, a, a, . . .o elemento comum a (Idem, p. 17), quando o correto
seria afirmar que a conexo entre os membros se d por uma
lei geral de disposio [Gesetz der Zuordnung] a partir da qual uma profunda lei de
sucesso estabelecida. Aquilo que conecta os elementos da srie a, b, c, . . . no
ele mesmo um novo elemento, que estava factualmente misturado a eles, mas a
regra de progresso, que se mantm a mesma, no importa em que membro ela seja
representada. (Idem, ibidem)
-
44
Dessa maneira, o conceito passa a ter a expresso F(a,b), F(b,c), . . . , onde F
representa a lei geral de disposio, a srie, e as letras a, b, c, . . . , os elementos a