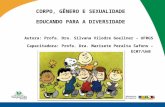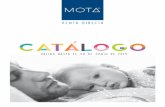Gênero Corpo e Cultura Mota
-
Upload
maria-dolores-brito-mota -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
description
Transcript of Gênero Corpo e Cultura Mota
-
GNERO E SEXO: enredos do corpo e da cultura
Maria Dolores de Brito Mota1
1. Entrando no assunto
Tudo comeou com o questionamento da diviso tradicional dos papeis
sociais entre homens e mulheres. De Marx e Engels passando por Bachofen, Kolantai,
Freud, Beauvoir, Foucault, Friedam a Joan Scott, Souza Lobo, Saffioti, Mary Castro,
dentre outras, vem se constituindo um campo especfico de reflexo nas cincias sociais,
cuja interrogao bsica reside na distino hierarquizada entre os sexos.
Segundo Oliveira (1991) o feminismo emergiu de uma crise da feminilidade
experimentada no interior de uma crise maior - uma crise de civilizao que abalou a ordem
social e o consumo ideolgico, especialmente nos anos 60. Inicialmente experimentada por
algumas mulheres sob a forma de mal estar pessoal e individual, a crise da feminilidade
pouco a pouco se exteriorizou como uma questo social, portadora de conflito e mudana.
A incurso da questo feminina nas cincias sociais, uma temtica cuja
importncia reflete o esforo real de muitas mulheres e alguns homens, feministas, para
desordenar o paradigma social da diferenciao hierarquizada dos sexos.
A mulher e o seu lugar na sociedade alternam entre si movimentos de
transformao e transfigurao, no entanto permanece o enigma de ser mulher. A
integrao das mulheres no mundo dos homens no sinnimo de igualdade, seja porque
se faz de modo desigual, seja porque ressalta as diferenas entre os sexos.
2. Sexos diferentes, gneros desiguais - afinal, que lgica essa?
Comecemos com Bourdieu (1994), para quem uma lngua no apenas para
ser falada, mas tambm um instrumento de poder que envolve relaes de fora simblica
onde os valores e significados de uma palavra se definem entre disputas. Assim, as palavras
de um lngua no apenas comunicam mas determinam significados, valores e posies
sociais. Tomando como base nas definies contidas no Dicionrio da Lngua Portuguesa,
1 Doutora em Sociologia, Professora da UFC e Pesquisadora do NEGIF-UFC.
-
de Aurlio Buarque (1988), encontramos os seguintes contedos significativos para os dois
gneros:
Feminino: referente ao sexo caracterizado pelo ovrio nos animais e plantas;
fmeo: que no macho (p.293). Feminilidade: qualidade, carter, modo de ser prprio
da mulher (p.293). Mulher: o ser humano do sexo feminino capaz de conceber e parir
pessoa outros seres humanos... a mulher na idade adulta... adolescente do sexo feminino
aps a puberdade (p.446). Adjetivaes que o dicionrio apresenta: mulher toa, mulher
da vida, mulher da rua, mulher da zona (p.446)
Masculino: que do sexo dos animais machos; macho... Prprio de macho,
msculo, varonil, enrgico, forte (p.420). Macho: animal do sexo masculino... Homem
(fsica e sexualmente)(p.405). Masculinidade: qualidade de masculino, virilidade (p.420).
Homem: o ser humano, a espcie humana, a humanidade. Homem dotada das qualidades
viris, como coragem, fora, vigor sexual....indicado para um fim. Adjetivaes:: homem de
bem, homem de ao, homem de empresa, homem de letras, homem de pulso, homem de
sete instrumentos, homem publico (p.344).
Esses contedos so sentidos que revestem as palavras que definem homem
e mulher em nossa cultura, compem representaes de homem e mulher em nossa
sociedade. E no deixam dvidas:
Homem o ser que define a espcie humana e que se auto-define. viril, forte,
msculo, amante, valente. Seus atributos e variaes so positivas.
Mulher o no macho, o ovrio ou a mulher adulta. uma negativa, a que no
ou de modo negativo. a que no homem.
As representaes de homens e mulheres esto contidas nas relaes sociais
e no so as mesmas nas diferentes sociedades (Lobo, 1989). Tais representaes guardam
significados de masculino e feminino; exprimem relaes de gnero construdas cultural e
historicamente.
As relaes de gnero so relaes sociais entre os sexos, donde emergem as
identidades e os papis sexuais. No o rgo genital que define a sexualidade humana, a
identidade sexual. Ser homem ou mulher um fazer-se homem ou mulher.
-
Como disse Beauvoir (1987), um tornar-se, pois no se nasce mulher,
torna-se. Um processo que implica no em uma escolha livre mas uma escolha socialmente
construda como uma orientao para identificaes com o masculino e feminino a partir de
jeitos de existir como homem ou mulher. Uma identificao existencialmente vivida no
corpo, no sentimento e no desejo. Os movimentos pela diversidade sexual reivindicam o uso
da palavra orientao sexual para referir a identificao das vrias formas de sexualidade
que emergem como outras em relao s formas dominantes e socialmente legitimadas a
partir da heterossexualidade e do masculino e feminino. Assim, no escolha e nem opo,
mas orientao.
Portanto, escolha intrnseca existncia, que articula identificao, desejos,
prazer, realizao e sofrimento significativos para cada um.
O gnero no natural. O gnero no o sexo, mas o encarna culturalmente.
Desse modo o gnero se faz natural simbolicamente, ao estabelecer a coincidncia entre
gnero e sexo. Mas o gnero somente existe encarnado no corpo.
3. Gnero e Sociedade
O conceito de gnero, como categoria analtica arquiteta-se em meio aos
impasses da teoria do patriarcado, das anlises marxistas centradas na produo, e das
abordagens psicanalticas que no conseguiam dar conta da origem da opresso feminina,
sua continuidade e generalidade histrica. (Bruschini, 1981).
Responder a estas questes importante para que o carter histrico de
gnero no se esvazie. Se o gnero histrico, significa que as sociedades definem gnero
de muitas formas, mantendo e transfigurando assimetrias entre homens e mulheres.
O lugar das mulheres na sociedade no um produto direto do que elas
fazem, mas do significado que suas atividades adquirem atravs da interao social, o que
diz Joan Scott (citada por Lobo, 1989)
Os significados sociais da masculinidade e da feminilidade esto nas formas
histricas das relaes sociais. No possvel visualizar esses significados nas dicotomias,
privado - pblico, reproduo - produo, como lugares de homens e mulheres. Tais
-
dicotomias precisam ser desconstrudas para que se tornem visveis as relaes de opresso
e cumplicidade que articulam os gneros em todos esses lugares.
O gnero se constitui historicamente e perpassa toda a textura social.
Constri-se na famlia, na produo, na poltica, na subjetividade, enfim nos vrios nveis de
relaes sociais. portador de mltiplas essencialidades.
Um entendimento de gnero no pode deixar de considerar as relaes
sociais entre sexos, as representaes e significados atribudos s diferenas vivenciadas por
cada sexo e nem as suas relaes de poder.
Tornar-se homem ou mulher como escolha existencialmente vivida no
coloca o sexo anterior ao gnero ou o corpo subjetividade, mas permite visualizar o
gnero mesmo antes da constituio do ego (psicanaltico). Antes de nascer j estamos nos
relacionando com o gnero, atravs dos rituais que fazem parte da gravidez: o enxoval que
j vai montando o mundo de cores e objetos prprios para meninos ou meninas; as
simpatias para adivinhar o sexo do feto (barriga redonda mulher, barriga pontuda
homem; corta o corao da galinha e pe para cozinhar, se abrir mulher se ficar fechado
homem; pede-se gestante para mostrar a mo, se a palma ficar para cima homem, se
virar para baixo mulher), expressam expectativas e representaes de gnero. Desse modo
j h um conjunto de atitudes e significados com o qual meninos e meninas vo se relacionar
desde que nascem.
Saffioti (1993) cita um estudo de Belotti numa pesquisa que observa o
comportamento de mes durante a amamentao de seus bebs - quando os meninos so
gulosos as mes deixam sugar o peito quanto queiram, quando as meninas so gulosas elas
tiram o peito e deixam chorar at que elas acostumem a comer menos. Meninas no podem
querer demais! uma situao que explicita um mecanismo de controle do desejo da
mulher, que deve ser atribudo. O desejo do homem imperativo.
Estas so formas concretas, fsicas e simblicas de relacionamento com o
gnero, antes da estrutura psquica se constituir. So registros no corpo e na mente que vo
ter seu papel na escolha do gnero de cada um.
-
O gnero se constitui com e na sociedade. No processo que marca a
passagem da natureza para a cultura, funda-se a civilizao (erguida) sobre um poder que
subjuga e exclui o outro.
As mulheres sempre carregaram outro corpo alm do seu. Admitir que a
reproduo biolgica e simblica da espcie um dos elementos da submisso feminina no
compreender a mulher como prisioneira do seu corpo. A reproduo no pode ser
encarada como a determinao biolgica da condio feminina. Mas a organizao
reprodutiva da sociedade e a forma como as mulheres a experimentam institui
representaes e significados para o corpo feminino e sua funo reprodutora de modo a
qualificar ou desqualificar a mulher.
O processo social de reconhecimento sobre quem uma verdadeira
mulher funda-se num mecanismo que retira da subjetividade feminina o espelho que
permitiria que cada mulher reconhecer-se a partir de seu desejo e de sua satisfao.
Levando-as, todas, a projetarem seu valor no desejo e na vida do outro. De modo que o
prazer e a vontade da mulher dependem de sua capacidade de dar e fazer para o outro. O
reconhecimento dessa capacidade a condio bsica de se ser uma grande mulher.
Expropria-se a identidade feminina de um contedo originrio ( de si) para transplantar um
contedo do outro.
A determinao biolgica expressa um processo social que torna natural
fatores sociais e histricos, como a prpria reproduo de espcie que s ocorre sob
condies culturais especficas.
4. Gnero, feminismo e teoria
Gnero um conceito portador de mltiplas essncialidades como relaes
sociais, representaes e poder entre sexos. Deve manter em seu contedo essa pluralidade,
porque o objeto a que se volta para apreender - a construo desigual das identidades
sexuais - constitui-se por mltiplas determinaes.
Gnero um conceito histrico que busca dar conta da construo e do
significado social da masculinidade e da feminilidade nas diferentes sociedades . Ou seja,
-
gnero ao desnaturalizar os modelos de homem e mulher, capaz de apreender os modos
como cada sociedade atribui significados e valores s atividades desempenhadas por homens
e mulheres no processo de interao social e das caractersticas especficas de cada um
desses grupos de seres.
O conceito de gnero oferece a possibilidade de anlises que articulem o
imaginrio, as representaes subjetivas com as estruturas histricas, as condies objetivas
da existncia social.
Alm disso avana entre as dicotomias clssicas que definiam espaos
prprios para homens e mulheres, opondo o privado ao pblico a produo reproduo. O
estudo da construo da subjetividade numa sociedade torna visvel a no existncia de
espaos exclusivos para o feminino e masculino j que as mulheres no tem privacidade no
privado (so violentadas) e no esto fora da produo (so trabalhadoras) e nem esto
ausentes da histria (so personagens invisveis).
No uso de gnero como categoria analtica no h como manter a separao
entre pesquisador (sujeito) e pesquisador (objeto). So todos sujeitos de saberes e de
relaes sociais entre sexos e interrogam-se como objetos de sua prpria inquietude.
Para avanar mais preciso ousar um rompimento radical com a cincia
positiva baseada na pesquisa lgica e instrumental, assumindo novas posturas investigativas
capazes de permitir que o conhecimento cientfico se conecte com outras formas de razo
como a intuio, a emoo e com outros saberes recheados de senso comum e realismo.
5.Violncia contra a Mulher: breves reflexes sobre um no ser.
A sociedade moderna contempornea parece consolidar, em suas entranhas
estruturais, a cultura da violncia. Em espaos que se interpem do mundo particular -
domstico ao pblico - institucionalizado, as respostas aos desafios, s diferenas, s
ausncias e impedimentos so constitudas atravs da violncia que quase sempre representa
a eliminao fsica do outro - que se contrape.
A lgica dessa violncia se sustenta em relaes de poder que se projetam para os
iguais e os mais fracos. Nunca, ou dificilmente se dirige aos mais poderosos.
-
Em meio perda de um projeto de civilizao - que oferecia tantas possibilidades de
felicidade atravs da democracia e do crescimento econmico e cientfico, fracassado em
suas promessas sociais e humanitrias, experimentamos a perda do outro como parte da
prpria conscincia de si. O outro se tornou o portador de uma diferena no tolerada. A
convivncia com o outro tambm faz aparecer o sujeito que se - o no-ser, as ausncias e
os impedimentos que impedem a plena expresso do ser.
Assim o dio decorre dos antagonismos, e no o inverso como pensou Arendt citada
por Enzensberger (1995). Nem sempre o dio o sentimento que articula a agresso. No
caso das mulheres, o amor tambm est presente, a violncia das paixes.
A violncia atinge preferencialmente marginalizados, excludos e discriminados -
socialmente fracos. Em meio agressividade que emerge nas diversas relaes sociais,
torna-se visvel a brutalidade da violncia contra mulheres e crianas.
Abordaremos a violncia contra as mulheres, entendida como violncia sexista
decorrente da distribuio desigual de poderes entre os sexos e que se constitui como uma
das faces do poder que sustenta as sociedades atuais (SOF, 1992).
A violncia contra a mulher comumente encarada como um problema particular e
no um problema social - diante do qual a sociedade silencia (briga de marido e mulher,
ningum mete a colher) (Castro e outras, 1994).
O movimento feminista nos ltimos trinta anos tem conseguido romper o cerco da
opresso feminina tornando visvel as formas de explorao e subordinao das mulheres,
abrindo espaos para denncias e buscando alternativas de modificao das mltiplas
situaes de discriminao sexual.
Na luta contra a violncia sexista, o movimento de mulheres tem como uma de suas
importantes vitrias a criao das Delegacias de Mulheres. A primeira foi criada em So
Paulo em 1985, e hoje j so dezenas espalhadas por todo o pas. Paralelamente s
Delegacias so construdas Casas de Abrigo e de Apoio, voltadas para o amparo das
vtimas, oferecendo assistncia social, psicolgica e jurdica, alm de orient-las para a
restruturao de suas vidas. Desse modo a sociedade vai sendo levada a encarar como social
a violncia das alcovas.
-
As mulheres se tornam vtimas da violncia sexista promovida e permita por suas
condies de existncia social - encontram-se em lugares desqualificados, frgeis, vivenciam
excluso em funo de uma desigual construo do ser homem e ser mulher (SOF, 1992).
Portanto, se na construo desigual dos gneros que se prepara o ser para a
subordinao e discriminao. preciso que a investigao sobre essa violncia trilhe os
caminhos entrecruzados das representaes simblicas e das condies de existncia social.
A sexualidade e a identidade sexual dos indivduos no determinada pelos rgos
genitais. O masculino e o feminino so construdos em cada pessoa a partir das relaes
que cada uma estabelece com esses modelos sexuais (gnero), por identificaes e
expectativas com seus smbolos e padres de conduta.
O gnero masculino oferece aos meninos a agressividade, a expresso, a fora, a
conquista, a satisfao. Esse o sexo.
O gnero feminino exige das meninas o recolhimento, a docilidade, a compreenso, a
renncia e a insatisfao. Esse o sexo oposto - o segundo sexo.
Esses atributos caractersticos a cada gnero passam por uma escala de valores
sociais que reveste de significados de superioridade o que for prprio do masculino. Desse
campo de produo (simblica) decorrem as condies para a opresso e subordinao
responsveis pela discriminao das mulheres. Discriminadas, tornam-se objetos
desqualificados do desejo (potente) masculino. Desejo para o qual legtimo tomar, usar,
deformar e castigar o seu objeto. As instituies e os meios de comunicao reforam essa
tal imagem da mulher legitimando a violncia sexista que as atinge.
Em estudo sobre a violncia contra a mulher realizado junto Delegacia de Proteo
Mulher2 - Salvador, Batista e outros (1991) refere-se existncia de uma cumplicidade
nas atitudes das mulheres vitimadas e que transparece quando elas (vtimas da agresso
domstica de seus parceiros) ressaltam qualidades do seu agressor ou buscam justificar o ato
violento por fatores externos relao amorosa e ao carter dos homens (bebida, amigos,
cansao, etc.). Estabelecendo uma complicada negociao de seus investimentos afetivos
por estratgias que possam garantir seus prprios desejos ou convenincias.
2 Delegacia de Proteo Mulher
-
Essa cumplicidade das vtimas envolve-se nas tramas do que Bourdieu (1989)
denomina como poder simblico, entendendo que o poder simblico esse poder invisvel,
o qual s pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que no querem saber que lhe
esto sujeitos ou mesmo que o exercem. Esse poder pode prescindir da fora fsica e
econmica, mas tambm pode se expressar por meio deles. A mulher vtima muitas vezes
dependente do agressor, mas outras vezes torna-se vtima da agresso masculina apesar de
sustentar a famlia e concede ao homem o papel de chefe-gestor do grupo e dela mesma.
A questo que se abre nesse momento qual a lgica especfica da estrutura
simblica que permite a construo desigual dos gneros, o desequilbrio de poder entre eles
e gera a prpria cumplicidade dos que so violentados.
As formas de violncia praticadas contra as mulheres manifestam articulaes
profundas, submersas nas teias das relaes sociais que revelam um processo civilizatrio
fundado no antagonismo dos indivduos.
Esse antagonismo produz um poder que constri a realidade - estabelece uma ordem
e um sentido para a existncia e uma identidade para os indivduos.
A lgica da violncia contra a mulher no se explica e nem explica a violncia
generalizada das sociedades modernas, mas ambas devem guardar algumas afinidades.
A existncia social da mulher marcada pela negao. O ser que define a espcie
humana o homem - a mulher quem veio depois (o outro que deve completar uma falta).
Sendo um ser cuja existncia justifica-se pela plenitude do outro, significa que a sua
condio de existncia a perda de si mesma.
A violncia praticada contra as mulheres no atinge apenas seu corpo e suas
emoes, mas alcana os smbolos e as representaes atribudas ao gnero feminino - que
se estruturam em torno da preservao e da reproduo da espcie.
A imagem clssica de um grupo nmade, cujos passos ficaram registrados em cinza
vulcnica mostra uma mulher na retaguarda do grupo, carregando uma criana. Essa
imagem sugere simbolicamente que as mulheres iam ficando para traz do movimento em
direo civilizao - seja porque no tinham a fora e a agilidade fsica dos homens ou
porque carregavam os filhos. Esse movimento se cristalizou como um processo civilizatrio
baseado no poder de uns sobre os outros. Um poder que submete e oprime, impedindo o
-
outro de ser plenamente. Se, como diz Enzensberger (op cit) o reconhecimento um fato
antropolgico fundamental, o oprimido assim se mantm como a nica possibilidade de ser
reconhecido.
O conhecimento e o reconhecimento se faz por smbolos e significados. Os smbolos
e significados que envolvem o ser mulher foi aos poucos perdendo importncia no processo
civilizatrio talvez porque no era o criador imediato do poder que estruturava esse
processo.
A diviso sexual do trabalho que atribuiu mulher a preservao e a perpetuao da
espcie, pode no ter a responsabilidade sobre os significados que tais atribuies ganharam
no imaginrio social. A tarefa feminina de cuidar e alimentar a famlia, especialmente criar os
filhos, significa fazer o outro - pelo outro e para o outro. No esforo de realizar os outros a
mulher deixa de ser (para si) - dar a si.
Desse modo, a mulher s quando deixa de ser, vivendo uma existncia negativa.
Aceitando e realizando fazer o outro, ela no faz para si. Assim a mulher o ser negado, o
no-ser esta a sua condio fundamental de existncia social.
Para Enzensberger (1995), a sociedade humana vive o fracasso do instinto de
preservao, porque perdeu todo o compromisso com a vida e o bem estar de todos. As
classes dirigentes querem o poder que lhes permite privilgios e este no depende mais da
vida e do bem estar de todos.
A identificao do gnero feminino se funda na reproduo da espcie - na vida. Se
esta perde valor social a ponto de faltar instinto de preservao, a mulher, que representa
esse instinto tambm perde valor.
Talvez exatamente porque nem a tica nem a moral estejam conseguindo limitar as
perdas concretas de justia, frustraes e preservao coletivas, e a destruio aparece como
o destino mais possvel para os excludos, a mulher renasa como smbolo fundamental - elas
s tem a ganhar porque perderam sempre, mais que qualquer outro grupo social.
Mulheres de todo o mundo, uni-vos - pode expressar o movimento das mulheres
que, especialmente nas ltimas dcadas, tm buscado novas condutas e valores que aos
poucos vo sendo assimilados pelas sociedades. Assim estamos todas conquistando o direito
ao futuro, no qual homens e mulheres participem igualmente da construo de um novo
-
projeto de civilizao onde o poder no se alimente da destruio e a humanizao de todos
seja a busca primordial.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. BATISTA, Dias e outros. A violncia contra a mulher em Salvador. Texto, 1991.
2.BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. V.1. So Paulo: Nova Fronteira, 1987.
3.BENHABIB, Sheyla e CORNELL, Drucila. Feminismo como crtica da Modernidade.
Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, 1987.
4. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simblico. Rio de Janeiro: Difel, 1989.
5.BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingsticas. In: ORTIZ, Renato. Pierre
Bourdieu. 2.ed. So Paulo: tica, 1994.
6. BRUSCHINI, Cristina. Antropologia e Feminismo. IN: Perspectivas Antropolgicas da
Mulher. Vol. 1. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
7.CASTRO, Mary e outras - Violncia contra a mulher at quando? Ba.: Cadernos do
CEAS n 150, 1994.
8.COSTA, Albertina de O. e BRUSCHINI, Cristina. Uma questo de gnero. Rio de
Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos/FCH, 1992.
9.DARCY de OLIVEIRA, Rosiska. A qualidade do feminismo. In: Mulher Educao sem
Preconceito. RJ: Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, 1991.
10. ENZENSBERGER, Hans. Guerra Civil. SP: C. Letras, 1995.
11. GREGORI, Maria Filomena. Cenas e Queixas. RJ: Paz e Terra, 1992.
12. HIRATA, Helena et alii. O sexo do trabalho. RJ. Paz e Terra, 1987.
13. MICHAUD, Yves. A violncia. SP: Ed. tica, 1989.
14. SOF. No Violncia contra as mulheres. SP., 1992
15.SOUZA LOBO, Elizabeth. Os usos do gnero. In: Relaes sociais do gnero. Relaes
de sexo. SP: USP. Ncleo de Estudos da Mulher, 1989.
16. Tempo e Presena. Mulheres. (vrios). SP: CEDI, n 248, 1989.
17. VOVELE, Michel. Ideologias e Mentalidades. SP: Brasiliense, 1991.
-
* Este trabalho foi apresentado no I Congresso Estadual De Cincias Sociais da Bahia,
realizado em 3-6 de outubro de l995 e durante a Jornada Universitria UEFS- nov/ 1995.