Golan Farmacologia Capitulo 42
-
Upload
evertonknapik -
Category
Documents
-
view
35 -
download
5
Transcript of Golan Farmacologia Capitulo 42

Farmacologia da Histamina
42
April W. Armstrong e Joseph C. Kvedar
IntroduçãoCasoFisiologia da Histamina
Síntese, Armazenamento e Liberação da HistaminaAções da HistaminaReceptores de Histamina
FisiopatologiaManifestações Clínicas da Fisiopatologia da HistaminaHistamina e Anafilaxia
Classes e Agentes Farmacológicos
Anti-Histamínicos H1Mecanismo de AçãoClassificação dos Anti-Histamínicos H1 de Primeira e de Segunda
GeraçõesEfeitos Farmacológicos e Usos ClínicosFarmacocinéticaEfeitos Adversos
Outros Anti-HistamínicosConclusão e Perspectivas FuturasLeituras Sugeridas
INTRODUÇÃO
A histamina é uma amina biogênica encontrada em numero-sos tecidos. Trata-se de um autacóide — isto é, uma molécula secretada localmente para aumentar ou diminuir a atividade das células adjacentes. A histamina é um importante mediador dos processos inflamatórios: desempenha também funções significati-vas na regulação da secreção de ácido gástrico e na neurotrans-missão. O conhecimento das diversas ações da histamina levou ao desenvolvimento de vários agentes farmacológicos importantes, que regulam os efeitos da histamina nos estados patológicos. Este capítulo trata das ações farmacológicas dos anti-histamínicos H1; os anti-histamínicos H2 são discutidos no Cap. 45.
nn Caso
Ellen, uma estudante de 16 anos de nível secundário, sofre de rinite alérgica. No início da primavera, ela vem apresentando rinorréia, prurido dos olhos e espirros. Para aliviar esses sintomas, ela vem fazendo uso de um anti-histamínico de venda livre, a difenidramina. Todavia, sente-se incomodada com os efeitos desagradáveis que acompanham a medicação antialérgica. Toda vez que toma esse anti-histamínico, Ellen sente-se sonolenta e com a boca seca. Deci-de então marcar uma consulta com o médico, que, após realizar testes para alergia, aconselha a tomar loratadina. Com essa nova medicação antialérgica, seus sintomas são aliviados, e ela não apre-senta mais sonolência nem outros efeitos adversos.
QUESTÕESn 1. Por que Ellen desenvolve rinite sazonal?n 2. Por que a difenidramina alivia os sintomas de Ellen?
n 3. Por que a difenidramina provoca sonolência?n 4. Por que a loratadina não causa sonolência?
FISIOLOGIA DA HISTAMINA
SÍNTESE, ARMAZENAMENTO E LIBERAÇÃO DA HISTAMINAA histamina é sintetizada a partir do aminoácido L-histidina. A enzima histidina descarboxilase catalisa a descarboxilação da histidina a 2-(4-imidazolil)etilamina, comumente conhecida como histamina (Fig. 42.1). A síntese de histamina ocorre nos mastócitos e basófilos do sistema imune, nas células enterocro-mafim-símiles (ECL) da mucosa gástrica e em certos neurônios no sistema nervoso central (SNC) que utilizam a histamina como neurotransmissor. As vias oxidativas no fígado degradam rapidamente a histamina circulante a metabólitos inertes. Um importante metabólito da histamina, o ácido imidazolacético, pode ser medido na urina, e o nível desse metabólito é utilizado para estabelecer a quantidade de histamina liberada sistemica-mente.
A síntese e o armazenamento da histamina podem ser divi-didos em dois “reservatórios”: um reservatório de renovação lenta e um reservatório de renovação rápida. O reservatório de renovação lenta localiza-se nos mastócitos e basófilos. Nes-sas células inflamatórias, a histamina é armazenada em grandes grânulos, e a sua liberação envolve a desgranulação completa das células. Esse processo é denominado reservatório de reno-vação lenta, visto que são necessárias várias semanas para a reposição das reservas de histamina após a ocorrência de des-granulação. O reservatório de renovação rápida localiza-se nas células ECL gástricas e nos neurônios histaminérgicos do

720 | Capítulo Quarenta e Dois
SNC. Essas células sintetizam e liberam histamina quando esta se torna necessária para a secreção de ácido gástrico e a neu-rotransmissão, respectivamente. Ao contrário dos mastócitos e dos basófilos, as células ECL e os neurônios histaminérgicos não armazenam histamina. Na verdade, a síntese e a liberação de histamina nessas células dependem de estímulos fisiológi-cos. Por exemplo, no intestino, a histidina descarboxilase é ativada após a ingestão de alimento.
AÇÕES DA HISTAMINAA histamina possui um amplo espectro de ações, que envolvem numerosos órgãos e sistemas orgânicos. Para compreender as funções da histamina, é conveniente considerar seus efeitos fisi-ológicos em cada tecido (Quadro 42.1). Esses efeitos incluem ações sobre o músculo liso, o endotélio vascular, as terminações nervosas aferentes, o coração, o trato gastrintestinal e o SNC.
As ações celulares da histamina sobre o músculo liso provo-cam contração de algumas fibras musculares e relaxamento de outras. A histamina causa contração do músculo liso brônquico nos seres humanos (embora esse efeito possa variar em outras espécies). A sensibilidade do músculo liso brônquico à histami-na também varia entre indivíduos; pacientes com asma podem ser até 1.000 vezes mais sensíveis à broncoconstrição mediada pela histamina do que indivíduos não-asmáticos. Outras ações da histamina sobre o músculo liso envolvem a dilatação ou a constrição de determinados vasos sangüíneos. A histamina dila-ta todas as arteríolas terminais e vênulas pós-capilares. Toda-via, as veias sofrem constrição com exposição à histamina. O efeito dilatador sobre o leito de vênulas pós-capilares constitui o efeito mais proeminente da histamina sobre a vasculatura. Na presença de infecção ou de lesão, a dilatação das vênulas induzida pela histamina faz com que a microvasculatura local seja ingurgitada com sangue, aumentando o acesso das células imunes que iniciam os processos de reparo na área lesada. Esse ingurgitamento explica o rubor observado nos tecidos inflama-dos. Embora outros músculos lisos — como os do intestino, da bexiga, da íris e do útero — sofram contração com a exposição à histamina, não se acredita que esses efeitos desempenhem um papel fisiológico ou clínico significativo.
A histamina também provoca contração das células endote-liais vasculares. A contração das células endoteliais vasculares
induzidas pela histamina provoca a separação dessas células, permitindo o escape de proteínas plasmáticas e líquido das vênulas pós-capilares, com conseqüente formação de edema. Por conseguinte, a histamina é um mediador-chave das respos-tas locais nas áreas de lesão.
QUADRO 42.1 Principais Ações Fisiológicas da Histamina
TECIDO EFEITO DA HISTAMINA MANIFESTAÇÕES CLÍNICASSUBTIPO DERECEPTOR
Pulmões Broncoconstrição Sintomas semelhantes aos da asma
H1
Músculo liso vascular Dilatação das vênulas pós-capilaresDilatação das arteríolas terminaisVenoconstrição
Eritema H1
Endotélio vascular Contração e separação das células endoteliais Edema, reação de pápula H1
Nervos periféricos Sensibilização das terminações nervosas aferentes Prurido, dor H1
Coração Pequeno aumento da freqüência e contratilidade cardíacas
Insignificantes H2
Estômago Aumento da secreção de ácido gástrico Doença ulcerosa péptica, pirose H2
SNC Neurotransmissor Ritmos circadianos, estado de vigília
H3
SNC, sistema nervoso central.
NH2
HO O
N
HN
OHN
HN O
NH2N
HN
NH2N
N
OHN
N O
Histidina
Histamina
Metil histamina ImAA
ImAAribosídio
Descarboxilação(L-histidina descarboxilase)
Metilação do anel(Imidazol N-metiltransferase)
Desaminação oxidativa(principalmente Diamina oxidase)
Oxidação(Monoamina oxidase) Conjugação
com ribose
Metil ImAA
Fig. 42.1 Síntese e degradação da histamina. A histamina é sintetizada a partir da histidina, numa reação de descarboxilação catalisada pela L-histidina descarboxilase. O fígado metaboliza a histamina a subprodutos inertes. A histamina pode ser metilada no anel imidazol ou desaminada de modo oxidativo. A seguir, esses produtos de degradação podem sofrer oxidação adicional ou conjugação com ribose. A diamina oxidase é também conhecida como histaminase. ImAA, ácido imidazolacético.

Farmacologia da Histamina | 721
As terminações nervosas sensitivas periféricas também res-pondem à histamina. As sensações de prurido e de dor resul-tam de uma ação despolarizante direta da histamina sobre as terminações nervosas aferentes. Esse efeito é responsável pela dor e prurido que ocorrem após uma picada de inseto, por exemplo.
As ações combinadas da histamina sobre o músculo liso vascular, as células endoteliais vasculares e as terminações nervosas são responsáveis pela resposta de pápula e eritema observada após a liberação de histamina na pele. A contração das células endoteliais provoca a resposta de pápula edematosa, enquanto o eritema doloroso resulta da vasodilatação e estimu-lação dos nervos sensitivos.
Os efeitos cardíacos da histamina consistem em pequenos aumentos na força e freqüência das contrações cardíacas. A histamina aumenta o influxo de Ca2+ nos miócitos cardíacos, resultando em aumento do inotropismo. O aumento da freqüên-cia cardíaca é produzido por um aumento na taxa de despola-rização de fase 4 nas células do nó sinoatrial.
O principal papel da histamina na mucosa gástrica consiste em potencializar a secreção ácida induzida pela gastrina. A histamina é uma das três moléculas que regulam a secreção de ácido no estômago, sendo as outras duas a gastrina e a acetilcolina. A ativação dos receptores de histamina no estômago leva a um aumento do Ca2+ intracelular nas células parietais e resulta em secreção aumentada de ácido clorídrico pela mucosa gástrica.
A histamina também atua como neurotransmissor no SNC. Tanto a histidina descarboxilase quanto os receptores de hista-mina estão expressos no hipotálamo, e os neurônios histami-nérgicos do SNC possuem numerosas projeções difusas pelo cérebro e medula espinal. Embora as funções da histamina no SNC não estejam bem estabelecidas, acredita-se que a histami-na seja importante na manutenção do estado de vigília e atue como supressor do apetite.
RECEPTORES DE HISTAMINAAs ações da histamina são mediadas pela sua ligação a quatro subtipos de receptores: H1, H2, H3 e H4. Todos os quatro subtipos consistem em receptores acoplados à proteína G, que atravessam sete vezes a membrana. As isoformas do receptor diferem nas vias de segundos mensageiros e na sua distribuição tecidual (Quadro 42.2).
O receptor H1 ativa a hidrólise do fosfatidilinositol mediada pela proteína G, resultando em aumento do trifosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 desencadeia a liberação de Ca2+ das reservas intracelulares, aumentando a concentração
citosólica de Ca2+ e ativando as vias distais. O DAG ativa a proteinocinase C, resultando em fosforilação de numerosas pro-teínas-alvo citosólicas. Em alguns tecidos, como músculo liso brônquico, o aumento do Ca2+ citosólico provoca contração do músculo liso em decorrência da fosforilação da cadeia leve de miosina mediada por Ca2+/calmodulina. Em outros tecidos, par-ticularmente nos esfíncteres arteriolares pré-capilares e vênulas pós-capilares, o aumento do Ca2+ citosólico provoca relaxa-mento do músculo liso ao induzir a síntese do óxido nítrico (ver Cap. 21). A estimulação dos receptores H1 também leva à ativação do NF-�B, um fator de transcrição importante e ubíquo que promove a expressão de moléculas de adesão e citosinas pró-inflamatórias.
Os receptores H1 são expressos primariamente nas célu-las endoteliais vasculares e nas células musculares lisas. Esses receptores medeiam reações inflamatórias e alérgicas. As res-postas teciduais específicas à estimulação dos receptores H1 incluem: (1) edema, (2) broncoconstrição e (3) sensibilização das terminações nervosas aferentes primárias. Os receptores H1 também são expressos em neurônios histaminérgicos pré-sinápticos no núcleo túbero-mamilar do hipotálamo, onde atu-am como auto-receptores para inibir a liberação adicional de histamina. Esses neurônios podem estar envolvidos no controle dos ritmos circadianos e no estado de vigília.
A principal função do receptor H2 consiste em mediar a secreção de ácido gástrico no estômago. Esse subtipo de recep-tor é expresso nas células parietais da mucosa gástrica, onde a histamina atua de modo sinérgico com a gastrina e a acetilco-lina, regulando a secreção ácida (ver Cap. 45). Os receptores H2 também são expressos nas células musculares cardíacas, em algumas células imunológicas e em certos neurônios pré-sinápticos. Os receptores H2 encontrados nas células parietais ativam uma cascata de AMP cíclico dependente da proteína G, resultando em liberação aumentada de prótons, mediada pela bomba de prótons, no líquido gástrico.
Enquanto os subtipos de receptores H1 e H2 foram bem caracterizados, os subtipos H3 e H4 e suas ações resultantes ainda constituem uma área de investigação ativa. Os receptores H3 parecem exercer uma inibição por retroalimentação em certos efeitos da histamina. Os receptores H3 foram localizados em vários tipos celulares, incluindo neurônios histaminérgicos pré-sinápticos no SNC e células ECL no estômago. Nas ter-minações nervosas pré-sinápticas, os receptores H3 ativados suprimem a descarga neuronal e a liberação de histamina. Os receptores H3 também parecem limitar as ações histaminérgi-cas na mucosa gástrica e no músculo liso brônquico. Os efeitos distais da ativação dos receptores H3 são mediados através de uma diminuição no influxo de Ca2+.
QUADRO 42.2 Subtipos de Receptores de Histamina
SUBTIPO DE RECEPTOR MECANISMO DE SINALIZAÇÃO PÓS-RECEPTOR DISTRIBUIÇÃO TECIDUAL
H1 Gq/11 → Aumento do IP3, DAG e Ca2+ intracelular, ativação do NF-�B
Músculo liso, endotélio vascular, cérebro (auto-receptor)
H2 Gs → Aumento do cAMP Células parietais gástricas, músculo cardíaco, mastócitos, cérebro
H3 Gi/o → Diminuição do cAMP SNC e alguns nervos periféricos
H4 Gi/o → Diminuição do cAMP, aumento do Ca2+ intracelular
Células hematopoiéticas, mucosa gástrica
G, proteína G; cAMP, monofosfato de adenosina cíclica; IP3, trifosfato de inositol; DAG, diacilglicerol; NF-�B, fator nuclear capa B; SNC, sistema nervoso central.

722 | Capítulo Quarenta e Dois
Os receptores H4 são encontrados em células de origem hematopoiéticas, principalmente em mastócitos, eosinófilos e basófilos. Os receptores H4 compartilham com os receptores H3 uma homologia de 40% e ligam-se a numerosos agonistas dos receptores H3, embora com menor afinidade. O acopla-mento do receptor H4 à Gi/o leva a uma diminuição do cAMP e ativação da fosfolipase C�, e os eventos distais resultam em aumento do Ca2+ intracelular. Os receptores H4 possuem inte-resse particular, visto que se acredita que eles desempenham um importante papel na inflamação; foi constatado que a ati-vação dos receptores H4 medeia a quimiotaxia dos mastócitos induzida pela histamina, bem como a produção de leucotrieno B4. Estão sendo desenvolvidos antagonistas dos receptores H4 para o tratamento de doenças inflamatórias que envolvem mas-tócitos e eosinófilos.
FISIOPATOLOGIA
A histamina é um mediador essencial das respostas imunes e inflamatórias. A histamina desempenha papel proeminente na reação de hipersensibilidade mediada por IgE, também co nhecida como reação alérgica. Numa reação alérgica local-izada, um alérgeno (antígeno) penetra inicialmente numa super-fície epitelial (por exemplo, pele, mucosa nasal). O alérgeno
também pode ser transportado sistemicamente, como no caso de uma resposta alérgica à penicilina. Com a ajuda das células T auxiliares (TH), o alérgeno estimula os linfócitos B a produ-zirem anticorpos IgE, que são específicos contra este alérgeno. A seguir, a IgE liga-se a receptores Fc sobre os mastócitos e os basófilos, em um processo conhecido como sensibilização. Uma vez “sensibilizadas” com anticorpos IgE, essas células imunes são capazes de detectar e de responder rapidamente a uma exposição subseqüente a um mesmo alérgeno. Caso haja reexposição, o alérgeno liga-se e estabelece uma ligação cru-zada dos complexos IgE/receptor Fc, desencadeando a des-granulação da célula (Fig. 42.2).
A histamina liberada pelos mastócitos e basófilos liga-se a receptores H1 sobre as células musculares lisas vasculares e as células endoteliais vasculares. A ativação desses receptores aumenta o fluxo sangüíneo local e a permeabilidade vascular. Esse processo completa o estágio inicial da resposta inflama-tória. A inflamação prolongada requer a atividade de outras células imunes. A vasodilatação local induzida pela histamina propicia um maior acesso dessas células imunes à área lesa-da, enquanto o aumento da permeabilidade vascular facilita o movimento das células imunes para o tecido.
A desgranulação dos mastócitos também pode ocorrer como resposta à lesão tecidual local, na ausência de uma resposta imune humoral. Por exemplo, o traumatismo ou a ocorrência de lesão química podem romper fisicamente a membrana dos
A Exposição inicial
MastócitoCapilar
Célula B
Grânulos
Mastócito
IgE
Alérgeno
Alérgeno
B Exposição subseqüente
IgE
Ligação cruzada da IgE
Histamina
Desgranulação do mastócito
Mastócito desgranulado
Líquido de edema
Fig. 42.2 Fisiopatologia da reação de hipersensibilidade mediada pela IgE. A desgranulação dos mastócitos induzida por alérgeno requer duas exposições separadas ao alérgeno. A. Na exposição inicial, o alérgeno deve penetrar na superfície mucosa, de modo que possa entrar em contato com células do sistema imune. A ativação da resposta imune causa a secreção de anticorpos IgE específicos contra o alérgeno pelos linfócitos B. Essas moléculas de IgE ligam-se a receptores Fc nos mastócitos, resultando em sensibilização do mastócito. B. Em caso de exposição subseqüente, o alérgeno multivalente efetua uma ligação cruzada entre dois complexos IgE/receptor Fc na superfície do mastócito. A ligação cruzada do receptor provoca desgranulação do mastócito. A liberação local de histamina resulta em uma resposta inflamatória, mostrada aqui na forma de edema.

Farmacologia da Histamina | 723
mastócitos, deflagrando, assim, o processo de desgranulação. A liberação de histamina permite um maior acesso dos macró-fagos e de outras células imunes, que começam o processo de reparo da área lesada.
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA FISIOPATOLOGIA DA HISTAMINAA reação de hipersensibilidade mediada pela IgE é responsável pelo desenvolvimento de certos distúrbios inflamatórios, inclu-indo rinite alérgica e urticária aguda. No caso apresentado na introdução, Ellen sofria de rinite alérgica, com rinorréia, prurido dos olhos e espirros. Na rinite alérgica, um alérgeno ambiental, como pólen, atravessa o epitélio nasal e penetra no tecido subja-cente. Nesse local, o alérgeno entra em contato com mastócitos previamente sensibilizados e efetua uma ligação cruzada dos complexos IgE/receptor Fc na superfície do mastócito. Em con-seqüência, o mastócito sofre desgranulação e libera histamina, que se liga a receptores H1 presentes na mucosa nasal e tecidos locais. A estimulação dos receptores H1 provoca dilatação dos vasos sangüíneos e aumento da permeabilidade vascular, resul-tando em edema. Essa tumefação da mucosa nasal é responsá vel pela congestão nasal que ocorre na rinite alérgica. O prurido, os espirros, a rinorréia e o lacrimejamento que acompanham o processo resultam da ação combinada da histamina e de outros mediadores inflamatórios, incluindo cininas, prostaglandinas e leucotrienos. Essas moléculas desencadeiam a hipersecreção e irritação que caracterizam a rinite alérgica.
Ocorre também ativação dos mastócitos na urticária agu-da. Nessa afecção, um alérgeno, como a penicilina, penetra no organismo através de ingestão ou por via parenteral e alcança a pele através da circulação. A liberação de histamina resulta em uma resposta de pápula e eritema disseminada, criando placas pruriginosas, eritematosas e edematosas na pele.
HISTAMINA E ANAFILAXIAA desgranulação de mastócitos sistêmicos pode causar uma condição potencialmente fatal, conhecida como anafilaxia. Tipi-camente, o choque anafilático é desencadeado em um indivíduo previamente sensibilizado por uma reação de hipersensibili-dade a uma picada de inseto, a um antibiótico, como a penici-lina, ou a ingestão de certos alimentos altamente alergênicos (por exemplo, nozes). Um alérgeno de distribuição sistêmica, como, por exemplo, através de injeção intravenosa ou absorção da circulação, pode estimular os mastócitos e basófilos a libe-rar histamina em todo o corpo. A conseqüente vasodilatação sistêmica provoca uma redução maciça da pressão arterial; a hipotensão também resulta do acúmulo sistêmico de líquido, devido ao extravasamento de plasma no interstício. A liberação maciça de histamina também provoca broncoconstrição grave e edema da epiglote. Esse estado de choque anafilático pode ser
letal em questão de minutos se não for rapidamente tratado pela administração de epinefrina, conforme descrito adiante.
CLASSES E AGENTES FARMACOLÓGICOS
A farmacologia da histamina emprega três abordagens, que levam, cada uma delas, à inibição da ação da histamina (Quadro 42.3). A primeira abordagem, que é a mais freqüente-mente utilizada, consiste na administração de anti-histamí-nicos, que tipicamente são agonistas inversos ou antagonistas competitivos seletivos dos receptores H1, H2, H3 ou H4. Os anti-histamínicos H1 são discutidos detalhadamente adiante: seu mecanismo de ação envolve a estabilização da conformação inativa do receptor H1, diminuindo os eventos de sinalização que levariam à resposta inflamatória. A segunda estratégia consiste em impedir a desgranulação dos mastócitos induzida pela ligação de um antígeno ao complexo IgE/receptor Fc nos mastócitos. O cromolin e o nedocromil utilizam essa estratégia para evitar as crises de asma (ver Cap. 46). Esses compostos interrompem a corrente de cloreto através das membranas dos mastócitos, que constitui uma etapa essencial no processo de desgranulação. A terceira estratégia consiste em administrar um fármaco capaz de neutralizar funcionalmente os efeitos da histamina. O uso da epinefrina no tratamento da anafilaxia fornece um exemplo dessa abordagem. A epinefrina, que é um agonista adrenérgico, induz broncodilatação e vasoconstrição (ver Cap. 9); essas ações anulam a broncoconstrição, a vaso-dilatação e a hipotensão causadas pela histamina no choque anafilático.
ANTI-HISTAMÍNICOS H1
Mecanismo de AçãoHistoricamente, os anti-histamínicos H1 eram designados como antagonistas dos receptores H1, com base em experimentos realizados no músculo liso da traquéia, que mostravam um des-vio paralelo na relação de concentração de histamina-resposta. Entretanto, os avanços recentes na farmacologia da histamina demonstraram que os anti-histamínicos H1 são agonistas inver-sos, mais do que antagonistas dos receptores.
Os receptores H1 parecem coexistir em dois estados de con-formação — as conformações inativa e ativa — que estão em equilíbrio na ausência de histamina ou de anti-histamínico (Fig. 42.3). No estado basal, o receptor tende à sua ativação cons-titutiva. A histamina atua como agonista para a conformação ativa do receptor H1 e desvia o equilíbrio para o estado ativo do receptor. Em comparação, os anti-histamínicos são agonistas inversos. Os agonistas inversos ligam-se preferencialmente à conformação inativa do receptor H1 e desviam o equilíbrio para o estado inativo. Por conseguinte, mesmo na ausência de
QUADRO 42.3 Estratégias da Farmacologia da Histamina
ESTRATÉGIA EXEMPLO DE AGENTE FARMACOLÓGICO EXEMPLO DE DOENÇA TRATADA
Administração de agonistas inversos do receptor de histamina
Difenidramina Alergia
Prevenção da desgranulação dos mastócitos Cromolin, nedocromil Asma
Administração de antagonistas fisiológicos para anular os efeitos patológicos da histamina
Epinefrina Anafilaxia

724 | Capítulo Quarenta e Dois
histamina endógena, os agonistas inversos reduzem a atividade constitutiva do receptor.
Classificação dos Anti-Histamínicos H1 de Primeira e de Segunda GeraçõesO achado de que a histamina constitui um importante media-dor da reação de hipersensibilidade alérgica levou à descoberta dos primeiros anti-histamínicos H1 por Bovet e Staub, em 1937. Na década de 1940, começaram a aparecer fármacos clinicamente úteis, capazes de inibir ações da histamina. Na atualidade, os anti-histamínicos H1 são divididos em duas categorias: os anti-histamínicos H1 de primeira geração e de
segunda geração (ver Resumo Farmacológico para detalhes sobre a classificação dos anti-histamínicos H1).
A estrutura básica dos anti-histamínicos H1 de primei-ra geração consiste em dois anéis aromáticos ligados a um arcabouço de etilamina substituído. Esses fármacos são divi-didos em seis subgrupos principais, com base nas suas cadeias laterais substituídas—etanolaminas, etilenodiaminas, alquilaminas, pipe razinas, fenotiazinas e piperidinas (Fig. 42.4). A difeni-
βγ
GDP
αq/11 αq/11
GTP
A
Estado inativo Estado ativo
Agonista (histamina)
Histamina
Agonista inverso(Anti-histamínicos H1)
βγ
GDP GTP
B
Estado inativo Estado ativo
βγ
GDP GTP
C
Estado inativo Estado ativo
αq/11 αq/11
αq/11 αq/11
Anti-histamínico H1
Fig. 42.3 Modelo simplificado de dois estados do receptor H1. A. Os receptores H1 coexistem em dois estados de conformação — os estados inativo e ativo — que estão em equilíbrio conformacional entre si. B. A histamina atua como agonista para a conformação ativa do receptor H1 e desvia o equilíbrio para a conformação ativa. C. Os anti-histamínicos atuam como agonistas inversos, que se ligam à conformação inativa do receptor H1 e a estabilizam, desviando, assim, o equilíbrio para o estado inativo do receptor.
NX
N
NN
S
N
N
N
ON
N
N
Cl
N
N
N
Estrutura geral (X = C, O ou omitido)
Éteres ou etanolaminas
Etilenodiaminas Fenotiazinas
Piperazinas
Alquilaminas
Difenidramina
Tripelenamina
Prometazina
Ciclizina
Piperidinas
Ciproeptadina
Clorfeniramina
Fig. 42.4 Estrutura dos anti-histamínicos H1 de primeira geração. A estrutura geral dos anti-histamínicos H1 de primeira geração consiste em um arcabouço de etilamina substituído, com dois anéis aromáticos terminais. (Observe a semelhança entre a etilamina nesses fármacos e a cadeia lateral de etilamina da histamina mostrada na Fig. 42.1.) Cada uma das seis subclasses é uma variação dessa estrutura geral. Os anti-histamínicos H1 de primeira geração são compostos neutros em pH fisiológico, que atravessam rapidamente a barreira hematoencefálica. Em contrapartida, os anti-histamínicos H1 de segunda geração (por exemplo, loratadina, cetirizina, fexofenadina) são ionizados em pH fisiológico e não atravessam apreciavelmente a barreira hematoencefálica (não-ilustrados). Essa diferença na penetração da barreira hematoencefálica responde pelo grau diferencial de sedação associado ao uso dos anti-histamínicos H1 de primeira e de segunda gerações.

Farmacologia da Histamina | 725
dramina, a hidroxizina, a clorfeniramina e a prometazina estão entre os anti-histamínicos H1 de primeira geração mais freqüentemente utilizados. Os anti-histamínicos H1 de primeira geração são compostos neutros em pH fisiológico que atraves-sam rapidamente a barreira hematoencefálica.
Os anti-histamínicos H1 de segunda geração podem ser estruturalmente divididos em quatro subclasses — alquilami-nas, piperazinas, talazinonas e piperidinas. Os anti-histamíni-cos H1 de segunda geração amplamente utilizados incluem a loratadina, a cetirizina e a fexofenadina. Os anti-histamínicos H1 de segunda geração são ionizados em pH fisiológico e não atravessam apreciavelmente a barreira hematoencefálica. As diferenças na lipofilicidade entre os anti-histamínicos H1 de primeira e de segunda gerações respondem pelos seus perfis de efeitos adversos diferenciais, notavelmente a tendência a causar depressão do SNC (sonolência).
Efeitos Farmacológicos e Usos ClínicosOs anti-histamínicos H1 são mais úteis no tratamento de dis-túrbios alérgicos para aliviar os sintomas de rinite, conjuntivite, urticária e prurido. Os anti-histamínicos H1 bloqueiam forte-mente o aumento da permeabilidade capilar necessário para for-mação de edemas e pápulas. As propriedades antiinflamatórias dos anti-histamínicos H1 são atribuíveis à supressão da via do NF-�B. Os anti-histamínicos H1 de primeira e de segunda gera-ções são igualmente eficazes no tratamento da urticária crônica; entretanto, não são efetivos contra a vasculite urticariforme ou o angioedema hereditário (deficiência do inibidor de C1).
A hidroxizina e o doxepin são potentes agentes antiprurigi-nosos, e a sua eficiência clínica provavelmente está relacionada com seus efeitos pronunciados sobre o SNC. O doxepin, um antidepressivo tricíclico, é mais bem utilizado em pacientes com depressão, visto que até mesmo a administração de peque-nas doses pode causar confusão e desorientação em pacientes não-deprimidos. Em comparação com os anti-histamínicos H1 orais, os anti-histamínicos H1 tópicos (incluindo preparações nasais e oftálmicas) apresentam início mais rápido de ação; entretanto, necessitam de múltiplas doses por dia. As prepara-ções cutâneas de anti-histamínicos, administradas no tratamento de dermatoses pruriginosas, podem causar paradoxalmente der-matite alérgica. Os anti-histamínicos H1 administrados como única medicação são freqüentemente ineficazes para a anafi-laxia sistêmica ou o angioedema grave com edema da laringe. Nessas condições, as contribuições de outros mediadores locais não são afetadas pelo tratamento com anti-histamínicos H1, e a epinefrina continua sendo o tratamento de escolha.
Os anti-histamínicos H1 possuem eficácia limitada na asma brônquica e não devem ser utilizados como única terapia para a asma. Enquanto os anti-histamínicos H1 parecem inibir a constrição do músculo liso brônquico de cobaias, esse efeito terapêutico é muito menos pronunciado nos seres humanos, devido à contribuição de outros mediadores, como leucotrienos e serotonina.
Os anti-histamínicos H1 também podem ser utilizados no tratamento da cinetose, náusea e vômitos associados à quimio-terapia e insônia. Ao inibir os sinais histaminérgicos do núcleo vestibular para o centro do vômito na medula oblonga, os anti-histamínicos H1 como o dimenidrinato, a difenidramina, a meclizina e a prometazina mostram-se úteis como agentes antieméticos. Em virtude de seus efeitos depressores proemi-nentes no SNC, os anti-histamínicos H1 de primeira geração, como a difenidramina, a doxilamina e a pirilamina, também são utilizados no tratamento da insônia.
FarmacocinéticaOs anti-histamínicos H1 por via oral são bem absorvidos pelo trato gastrintestinal (GI) e alcançam concentrações plasmáticas máximas em 2 a 3 horas. A duração do efeito varia, depen-dendo do anti-histamínico H1 específico utilizado. Enquanto os anti-histamínicos H1 de primeira geração distribuem-se ampla-mente por todos os tecidos periféricos, bem como no SNC, os anti-histamínicos H1 de segunda geração exigem menos pene-tração no SNC. Os anti-histamínicos H1 são metabolizados, em sua maioria, pelo fígado, e deve-se considerar um ajuste da dose em pacientes com doença hepática grave. Como indutores das enzimas hepáticas do citocromo P450, os anti-histamínicos H1 podem facilitar o seu próprio metabolismo. A loratadina, um histamínico H1 de segunda geração, é metabolizada por enzimas do citocromo P450 a um metabólito ativo. Os fárma-cos que são substratos ou inibidores das enzimas do citocromo P450 podem afetar o metabolismo da loratadina, e os anti-histamínicos também podem afetar o metabolismo de outros fármacos que são substratos das mesmas enzimas P450.
Efeitos AdversosOs principais efeitos adversos dos anti-histamínicos H1 con-sistem em toxicidade do SNC, toxicidade cardíaca e efeitos anticolinérgicos. Enquanto o perfil de efeitos adversos dos anti-histamínicos H1 de segunda geração foi extensamente inves-tigado, não foram conduzidos estudos de segurança a longo prazo dos anti-histamínicos H1 de primeira geração, a despeito de seu uso por mais de 6 décadas.
Em virtude de sua alta lipofilicidade, os anti-histamíni-cos H1 de primeira geração penetram rapidamente na barrei-ra hematoencefálica. Esses fármacos antagonizam os efeitos neurotransmissores da histamina sobre os receptores H1 no SNC (particularmente no hipotálamo) e na periferia. Conforme assinalado anteriormente, a alta penetração desses fármacos no SNC é responsável pela sua ação sedativa. No caso apresentado na introdução, Ellen teve um efeito sedativo quando tomou difenidramina para a rinite alérgica. Os fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de toxicidade do SNC incluem baixa massa corporal, disfunção hepática ou renal grave e uso concomitante de drogas, como o álcool, que comprometem a função do SNC.
A baixa penetração dos anti-histamínicos H1 de segunda geração no SNC é atribuível a duas características dessas molé-culas. Em primeiro lugar, conforme assinalado anteriormente, esses compostos são ionizados em pH fisiológico, razão pela qual não sofrem rápida difusão através das membranas. Em segundo lugar, ligam-se altamente à albumina e, portanto, estão menos livres para difundir-se no SNC. Os anti-histamínicos H1 de segunda geração são freqüentemente preferidos para uso extenso, devido a seus efeitos sedativos limitados. Por exemplo, os anti-histamínicos H1 de segunda geração loratadina, deslora-tadina e fexofenadina são os únicos anti-histamínicos H1 orais permitidos para uso por pilotos de aeronaves.
Os anti-histamínicos H1 que prolongam o intervalo QT podem causar cardiotoxicidade, particularmente em pacientes com disfunção cardíaca preexistente. Alguns anti-histamínicos H1 de segunda geração mais antigos apresentam graves efei-tos cardiotóxicos em concentrações plasmáticas elevadas. Dois desses fármacos, a terfenadina e o astemizol, foram retirados do mercado pela U. S. Food and Drug Administration (FDA), visto que causavam prolongamento do intervalo QT, que algu-mas vezes resultava em arritmias ventriculares. Acredita-se que

726 | Capítulo Quarenta e Dois
o mecanismo pelo qual os anti-histamínicos H1 prolongam o intervalo QT envolva a inibição da corrente IKr. O gene humano relacionado com ether-a-go-go (HERG) codifica a subunidade � do canal de potássio que medeia a corrente IKr, e, na atualida-de, dispõe-se de um teste in vitro que utiliza variantes do HERG para avaliar se uma determinada medicação tem o potencial de inibir a corrente IKr.
Os efeitos adversos anticolinérgicos, que são mais proe-minentes com os anti-histamínicos H1 de primeira geração do que com os de segunda geração, consistem em dilatação da pupila, ressecamento dos olhos, boca seca e retenção e hesitação urinárias. A overdose fatal dos anti-histamínicos H1 de primeira geração deve-se, mais provavelmente, aos efeitos adversos profundos sobre o SNC do que aos efeitos cardíacos adversos.
OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOSForam também desenvolvidos antagonistas competitivos e agonistas inversos contra os receptores H2, H3 e H4. O desenvolvimento de antagonistas dos receptores H2 sele-tivos, que inibem a secreção de ácido gástrico induzida pela histamina, despertou considerável interesse. Os antagonistas dos receptores H2, que são discutidos de modo pormenorizado no Cap. 45, diferem dos anti-histamínicos H1 quanto à sua estrutura, visto que contêm um anel imidazol intacto e uma cadeia lateral sem carga (Fig. 42.5). Esses agentes atuam como antagonistas competitivos e reversíveis da ligação da histamina aos receptores H2 nas células parietais gástricas e, portanto, reduzem a secreção de ácido gástrico. As indicações clínicas incluem a doença de refluxo ácido (pirose) e a doença ulcerosa péptica. Muitos desses agentes também estão dis-poníveis como medicamentos de venda livre para tratamento sintomático da pirose. A cimetidina e a ranitidina são dois dos antagonistas dos receptores H2 mais comumente utiliza-dos. Um efeito adverso significativo da cimetidina envolve a inibição do metabolismo de fármacos mediado pelo citocromo P450, podendo resultar em elevações indesejáveis dos níveis plasmáticos de certos fármacos administrados concomitan-temente. Os receptores H2 também são expressos no SNC e no músculo cardíaco; entretanto, as doses terapêuticas dos antagonistas dos receptores H2 são suficientemente baixas, de modo que os efeitos adversos cardiovasculares e do SNC são insignificantes.
A farmacologia dos receptores H3 e H4 constitui uma área de investigação ativa. Até o momento, nenhum fármaco seletiva-mente dirigido contra os receptores H3 e H4 foi aprovado para uso clínico. Acredita-se que os receptores H3 fornecem uma inibição por retroalimentação de certos efeitos da histamina no SNC e nas células ECL. Em estudos de animais, os antagonistas dos receptores H3 induzem um estado de vigília e melhoram a atenção, e acredita-se que esses efeitos sejam mediados pela hiperestimulação de receptores H1 corticais. Foram desenvol-vidos antagonistas dos receptores H3 para uso experimental, incluindo tioperamida, clobenpropit, ciproxifan e proxifan.
À semelhança dos receptores H3, os receptores H4 acoplam-se à Gi/o, diminuindo as concentrações intracelulares de cAMP. Como os receptores H4 são seletivamente expressos em células de origem hematopoiética, particularmente mastócitos, basófilos e eosinófilos, existe considerável interesse em elucidar o papel dos receptores H4 no processo inflamatório. Os antagonistas dos receptores H4 representam uma área promissora de desenvolvi-mento de fármacos para o tratamento de condições inflamatórias que envolvem os mastócitos e os eosinófilos.
n Conclusão e Perspectivas FuturasA descoberta da histamina e de seus receptores ampliou sig-nificativamente as opções farmacológicas para o tratamento da alergia e da doença ulcerosa péptica. O uso seletivo de receptores como alvos permitiu o tratamento específico de cada um desses processos mórbidos sem afetar as outras ações fisiológicas da histamina. A seletividade do fármaco é obtida pela existência de subtipos de receptores de histamina (H1, H2, H3 e H4), que são utilizados como alvos.
A identificação e a elucidação dos receptores H3 e H4 deverão permitir o desenvolvimento de novos anti-histamínicos dirigidos contra esses subtipos de receptores. Os antagonistas H3 têm o potencial de aumentar o estado de vigília e melhorar a atenção e a aprendizagem. O receptor H4 é um alvo molecular particular-mente interessante para o desenvolvimento de fármacos, visto que se acredita que ele desempenha um importante papel em condi-ções inflamatórias que envolvem os mastócitos e os eosinófilos. Agentes dirigidos contra os receptores H4 poderão algum dia ser utilizados no tratamento de uma ampla variedade de condições inflamatórias, como asma, rinite alérgica e artrite reumatóide.
n Leituras SugeridasLeurs R, Church MK, Taglialatea M. H1-antihistamines: inverse
agonism, anti-inflammatory actions and cardiac effects. Clin Exp Allergy 2002;32:489–498. (Discussão baseada no mecanismo dos anti-histamínicos H1 como agonistas inversos.)
Nicolas JM. The metabolic profile of second-generation antihistamine. Allergy 2000;55:46–52. (Discussão das diferenças entre os fárma-cos de segunda geração.)
Simons FE. Advances in H1-antihistamines. N Engl J Med 2004; 351:2203–2217. (Resumo abrangente do mecanismo de ação e dos usos clínicos dos anti-histamínicos H1.)
Simons FE. H1-antihistamines: more relevant than ever in the tre-atment of allergic disorders. J Allergy Clin Immunol 2003;112(4 Suppl):S42–S52. (Revisão baseada em evidências do uso de anti-histamínicos H1 nos transtornos alérgicos.)
Timmerman H. Factors involved in the absence of sedative effects by the second generation antihistamines. Allergy 2000;55:5–10. (Discussão dos anti-histamínicos de segunda geração.)
S
HN
HN
NO2
ON
S
HN
NHN
HN
NC
N
Cimetidina
Ranitidina
Fig. 42.5 Estrutura dos antagonistas dos receptores H2. Os antagonistas dos receptores H2 possuem um arcabouço de tioetanolamina (indicado no boxe azul), que é N-substituído com uma cadeia lateral volumosa e que termina em um anel de cinco membros. (Comparar a cadeia lateral N-substituída volumosa dos antagonistas H2 com a amina terciária simples dos anti-histamínicos H1 na Fig. 42.4 e comparar o pequeno anel de imidazol ou furano de cinco membros dos antagonistas H2 com o par de anéis aromáticos volumosos dos anti-histamínicos H1.) Em virtude dessas diferenças estruturais, a cimetidina, a ranitidina e outros antagonistas H2 ligam-se seletivamente aos receptores H2 na mucosa gástrica, diminuindo, assim, a produção de ácido gástrico.

Farmacologia da Histamina | 727
Resu
mo
Farm
acol
ógic
o Ca
pítu
lo 4
2 Fa
rmac
olog
ia d
a H
ista
min
a
Fárm
aco
Aplic
açõe
s Cl
ínic
asEf
eito
s Ad
vers
os
Gra
ves
e Co
mun
sCo
ntra
-Ind
icaç
ões
Cons
ider
açõe
s Te
rapê
utic
as
ANTI
-HIS
TAM
ÍNIC
OS
H1
DE
PRIM
EIRA
GER
AÇÃO
Mec
anis
mo
— A
goni
stas
inv
erso
s qu
e se
lig
am p
refe
renc
ialm
ente
à c
onfo
rmaç
ão i
nativ
a do
rec
epto
r H
1, d
esvi
ando
o e
quilí
brio
par
a o
esta
do i
nativ
o do
rec
epto
r
Eta
nola
min
as:
Dif
enid
ram
ina
Car
bino
xam
ina
Cle
mas
tina
Dim
enid
rina
to
Rin
ite a
lérg
ica
Ana
fila
xia
Insô
nia
Cin
etos
ePa
rkin
soni
smo
Urt
icár
ia
Seda
ção,
ton
teir
a, d
ilata
ção
da p
upila
, re
ssec
amen
to d
os
olho
s, b
oca
seca
, re
tenç
ão e
he
sita
ção
urin
ária
s
Dif
enid
ram
ina:
rec
ém-n
asci
dos
ou
prem
atur
os,
mãe
s qu
e am
amen
tam
Car
bino
xam
ina:
cri
se a
guda
de
asm
a,
tera
pia
com
IM
AO
, gl
auco
ma
de â
ngul
o es
trei
to,
úlce
ra p
éptic
a, c
oron
ario
patia
gra
ve,
hipe
rten
são
grav
e, r
eten
ção
urin
ária
Cle
mas
tina:
lac
taçã
o, s
into
mas
das
via
s re
spir
atór
ias
infe
rior
es,
tera
pia
com
IM
AO
, re
cém
-nas
cido
s ou
pre
mat
uros
Dim
enid
rina
to:
hipe
rsen
sibi
lidad
e ao
di
men
idri
nato
Em
ger
al,
os a
nti-
hist
amín
icos
H1
de p
rim
eira
ger
ação
ap
rese
ntam
mai
ores
efe
itos
adve
rsos
ant
icol
inér
gico
s e
sobr
e o
SNC
do
que
os a
nti-
hist
amín
icos
H1
de s
egun
da g
eraç
ãoA
dif
enid
ram
ina
(nom
e co
mer
cial
, B
enad
ryl®
) é
disp
onív
el e
m
prep
araç
ões
sólid
a or
al,
líqui
da o
ral,
intr
amus
cula
r, in
trav
enos
a e
tópi
caA
dif
enid
ram
ina
pode
ele
var
os n
ívei
s pl
asm
átic
os d
e tio
rida
zina
, au
men
tand
o o
risc
o de
arr
itmia
s
Eti
leno
diam
inas
:P
irila
min
aT
ripe
lena
min
a
Igua
is à
s da
dif
enid
ram
ina
Igua
is a
os d
a di
feni
dram
ina
Piri
lam
ina:
hip
erse
nsib
ilida
de a
o m
alea
to d
e pi
rila
min
aT
ripe
lena
min
a: g
lauc
oma
de â
ngul
o es
trei
to,
úlce
ra p
éptic
a es
teno
sant
e, h
iper
trof
ia
pros
tátic
a si
ntom
átic
a, o
bstr
ução
do
colo
ve
sica
l, ob
stru
ção
pilo
rodu
oden
al,
sint
omas
da
s vi
as r
espi
rató
rias
inf
erio
res,
pre
mat
uros
, re
cém
-nas
cido
s, m
ães
dura
nte
a la
ctaç
ão,
tera
pia
conc
omita
nte
com
ini
bido
res
da
MA
O
Alq
uila
min
as:
Clo
rfen
iram
ina
Bro
nfen
iram
ina
Igua
is à
s da
dif
enid
ram
ina
Igua
is a
os d
a di
feni
dram
ina
Clo
rfen
iram
ina:
hip
erse
nsib
ilida
de à
cl
orfe
nira
min
aB
ronf
enir
amin
a: t
erap
ia c
onco
mita
nte
com
IM
AO
, le
sões
foc
ais
do S
NC
, hi
pers
ensi
bilid
ade
à br
onfe
nira
min
a ou
fá
rmac
os r
elac
iona
dos
Pip
erid
inas
:C
ipro
epta
dina
Fen
inda
min
a
Igua
is à
s da
dif
enid
ram
ina
Igua
is a
os d
a di
feni
dram
ina
Cip
roep
tadi
na:
glau
com
a de
âng
ulo
fech
ado,
te
rapi
a co
ncom
itant
e co
m I
MA
O,
recé
m-
nasc
idos
ou
prem
atur
os,
mãe
s du
rant
e a
lact
ação
, úl
cera
pép
tica
este
nosa
nte,
ob
stru
ção
pilo
rodu
oden
al,
hipe
rtro
fia
pros
tátic
a si
ntom
átic
a, o
bstr
ução
do
colo
ve
sica
lFe
nind
amin
a: c
rian
ças
com
men
os d
e 12
an
os d
e id
ade
Fen
otia
zina
s:P
rom
etaz
ina
Igua
is à
s da
dif
enid
ram
ina
Igua
is a
os d
a di
feni
dram
ina;
al
ém d
isso
, fo
i re
lata
da
a oc
orrê
ncia
de
foto
ssen
sibi
lidad
e e
icte
ríci
a
Est
ados
com
atos
os
Sint
omas
das
via
s re
spir
atór
ias
infe
rior
es,
incl
uind
o as
ma
Paci
ente
s pe
diát
rico
s co
m m
enos
de
2 an
os
de i
dade
Inje
ção
subc
utân
ea o
u in
tra-
arte
rial
A p
rom
etaz
ina
é ut
iliza
da p
rim
aria
men
te p
ara
alív
io d
a an
sied
ade
no p
ré-o
pera
tóri
o e
redu
ção
da n
áuse
a e
dos
vôm
itos
no p
ós-o
pera
tóri
o
(Con
tinu
a)

728 | Capítulo Quarenta e Dois
Resu
mo
Farm
acol
ógic
o Ca
pítu
lo 4
2 Fa
rmac
olog
ia d
a H
ista
min
a (C
ontin
uaçã
o)
Fárm
aco
Aplic
açõe
s Cl
ínic
asEf
eito
s Ad
vers
os
Gra
ves
e Co
mun
sCo
ntra
-Ind
icaç
ões
Cons
ider
açõe
s Te
rapê
utic
as
Pip
eraz
inas
:H
idro
xizi
naC
icliz
ina
Mec
lizin
a
Prur
ido,
abs
tinên
cia
do á
lcoo
l, an
sied
ade,
vôm
itos
(hid
roxi
zina
)C
inet
ose,
ver
tigem
(ci
cliz
ina,
m
ecliz
ina)
Igua
is a
os d
a di
feni
dram
ina
Hid
roxi
zina
: in
ício
da
grav
idez
Cic
lizin
a: h
iper
sens
ibili
dade
à c
icliz
ina
Mec
lizin
a: h
iper
sens
ibili
dade
à m
ecliz
ina
A h
idro
xizi
na é
um
pot
ente
age
nte
antip
ruri
gino
so
Dib
enzo
xepi
nas
tric
íclic
as:
Dox
epin
Ans
ieda
deD
epre
ssão
Prur
ido
Hip
erte
nsão
, hi
pote
nsão
, ag
ranu
loci
tose
, tr
ombo
cito
peni
a,
agra
vam
ento
da
depr
essã
o,
pens
amen
tos
suic
idas
Gan
ho d
e pe
so,
cons
tipaç
ão,
ress
ecam
ento
da
boca
, so
nolê
ncia
, vi
são
turv
a,
rete
nção
uri
nári
a
Gla
ucom
aR
eten
ção
urin
ária
O d
oxep
in é
um
ant
idep
ress
ivo
tric
íclic
o; é
mai
s be
m
utili
zado
em
pac
ient
es c
om d
epre
ssão
, vi
sto
que
até
mes
mo
a ad
min
istr
ação
de
pequ
enas
dos
es p
ode
caus
ar c
onfu
são
e de
sori
enta
ção
em p
acie
ntes
não
-dep
rim
idos
ANTI
-HIS
TAM
ÍNIC
OS
H1
DE
SEG
UN
DA G
ERAÇ
ÃOM
ecan
ism
o —
Ago
nist
as i
nver
sos
que
se l
igam
pre
fere
ncia
lmen
te à
con
form
ação
ina
tiva
do r
ecep
tor
H1,
des
vian
do o
equ
ilíbr
io p
ara
o es
tado
ina
tivo
do r
ecep
tor
Pip
eraz
inas
:C
etir
izin
aR
inite
alé
rgic
aU
rtic
ária
Sono
lênc
ia,
boca
se
ca,
cefa
léia
, fa
diga
(a
pres
enta
m m
enos
efe
itos
antic
olin
érgi
cos
e sã
o m
enos
se
dativ
os d
o qu
e os
ant
i-hi
stam
ínic
os H
1 de
pri
mei
ra
gera
ção)
Hip
erse
nsib
ilida
de à
cet
iriz
ina
ou h
idro
xizi
naE
m g
eral
os
anti-
hist
amín
icos
H1
de s
egun
da g
eraç
ão t
êm
men
os e
feito
s an
ticol
inér
gico
s e
são
men
os s
edat
ivos
do
que
os
anti-
hist
amín
icos
H1
de p
rim
eira
ger
ação
, de
vido
à s
ua e
ntra
da
redu
zida
no
SNC
Alq
uila
min
as:
Acr
ivas
tina
Rin
ite a
lérg
ica
Igua
is a
os d
a ce
tiriz
ina
Tera
pia
conc
omita
nte
com
IM
AO
Cor
onar
iopa
tia g
rave
Hip
erte
nsão
gra
ve
Igua
is à
s da
cet
iriz
ina
Tala
zino
nas:
Aze
last
ina
Con
junt
ivite
e r
inite
alé
rgic
asIg
uais
aos
da
cetir
izin
aU
so c
onco
mita
nte
de á
lcoo
l ou
out
ros
depr
esso
res
do S
NC
Igua
is à
s da
cet
iriz
ina
Pip
erid
inas
:L
orat
adin
aD
eslo
rata
dina
Lev
ocab
asti
naE
bast
ina
Miz
olas
tina
Fex
ofen
adin
a
Rin
ite a
lérg
ica
Urt
icár
iaIg
uais
aos
da
cetir
izin
aL
orat
adin
a: h
iper
sens
ibili
dade
à l
orat
adin
aD
eslo
rata
dina
: hi
pers
ensi
bilid
ade
à de
slor
atad
ina
Lev
ocab
astin
a: l
ente
s de
con
tato
gel
atin
osas
Eba
stin
a: h
iper
sens
ibili
dade
à e
bast
ina
Miz
olas
tina:
hip
erse
nsib
ilida
de à
miz
olas
tina
Fexo
fena
dina
: hi
pers
ensi
bilid
ade
à fe
xofe
nadi
na
Igua
is à
s da
cet
iriz
ina
ANTA
GO
NIS
TAS
DO
S RE
CEPT
ORE
S H
2
Cim
etid
ina
Fam
otid
ina
Niz
atid
ina
Ran
itid
ina
Ver
Res
umo
Farm
acol
ógic
o: C
ap.
45










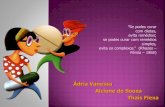

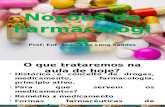
![FARMACOLOGIA Farmacologia Basica_apostila[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5571f8c649795991698e0e1f/farmacologia-farmacologia-basicaapostila1.jpg)





