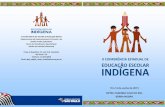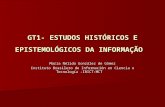GT1
-
Upload
marcos-gonzalez -
Category
Documents
-
view
550 -
download
0
Transcript of GT1
GT 1Estudos Histricos e Epistemolgicos da Cincia da Informao O GTI 1 aborda Estudos Histricos e Epistemolgicos da Cincia da Informao. Constituio do campo cientfico e questes epistemolgicas e histricas da Cincia da informao e seu objeto de estudo - a informao. Reflexes e discusses sobre a disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, assim como a construo do conhecimento na rea.
SUMRIOINFORMAO SEGUNDO NIKLAS LUHMANN: BASE TERICA PARA UMA CINCIA DO INFORMAR-SE Marcos Gonzalez Souza .......................................................................................................................4 INTEGRAO EPISTEMOLGICA DA ARQUIVOLOGIA, DA BIBLIOTECONOMIA E DA MUSEOLOGIA NA CINCIA DA INFORMAO: POSSIBILIDADES TERICAS Carlos Alberto vila Arajo ..............................................................................................................20 O CAMPO DA INFORMAO Angelica Alves Marques.....................................................................................................................39 O IMPERATIVO MIMTICO: A FILOSOFIA DA INFORMAO E O CAMINHO DA QUINTA IMITAO Gustavo Silva Saldanha ....................................................................................................................56 RUDO, PERTURBAO E INFORMAO: NOTAS PARA UMA TEORIA CRTICA DOS SISTEMAS AUTOPOITICOS. Antonio Saturnino Braga ...................................................................................................................72 RELAES OU SEMELHANAS DE FAMLIA EM CRITRIOS UTILIZADOS PARA JULGAMENTO DE INFORMAES NA WEB Mrcia Feijo de Figueiredo, Maria Nlida Gonzlez de Gmez.....................................................88 A INTERDISCIPLINARIDADE NA CINCIA DA INFORMAO: ESTRATGIAS DO DISCURSO CONTEMPORNEO INTEGRADOR Edivanio Duarte de Souza, Eduardo Jos Wense Dias ....................................................................104 SOCIEDADE, INFORMAO, CONDIES E CENRIOS DOS USOS SOCIAIS DA INFORMAO Francisco das Chagas de Souza ......................................................................................................122 ABORDAGEM FENOMENOLGICA EM CINCIA DA INFORMAO: QUESTES E DESAFIOS NO CENRIO DA PESQUISA Jos Mauro Matheus Loureiro, Maria Lcia Niemeyer Matheus Loureiro, Sabrina Damasceno Silva, Daniel Maurcio Vianna Souza ............................................................137 MIGRAO CONCEITUAL ENTRE SISTEMAS DE RECUPERAO DA INFORMAO E CINCIAS COGNITIVAS: UMA INVESTIGAO SOB A TICA DA ANLISE DO DISCURSO Fernando Skackauskas Dias, Monica Nassif Erichsen ...................................................................150 ANTES DA GESTO DE DOCUMENTOS: PROSPECO NA LEGISLAO BRASILEIRA Renato Pinto Venancio .....................................................................................................................170 A PRESENA FRANCESA E O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA: ORIGENS DA GT1 2
DIFUSO E MEDIAO DE SABERES NO BRASIL Katia Carvalho.................................................................................................................................183 ENTRE VALORES E VERDADES: ANLISE SOBRE A INFLUNCIA DO POSITIVISMO NAS CONCEPES DA ARQUIVSTICA SOBRE DOCUMENTOS Raquel Luise Pret .............................................................................................................................194 O CONCEITO ONTOLGICO FENOMENOLGICO DA INFORMAO: UMA INTRODUO TERICA Marcos Luiz Mucheroni, Robson de Andrade Gonalves ................................................................211 DOCUMENTO SENSVEL E INFORMAO (IN)ACESSVEL? Iclia Thiesen ...................................................................................................................................226 AS DUAS CULTURAS E OS REFLEXOS NO MUNDO ATUAL NAS CINCIAS E NA CINCIA DA INFORMAO* Valeria Gauz, Lena Vania Ribeiro Pinheiro .....................................................................................240 A IDENTIDADE DA CINCIA DA INFORMAO BRASILEIRA NO CONTEXTO DAS PERSPECTIVAS HISTRICAS DA PS-GRADUAO: ANLISE DOS CONTEDOS PROGRAMTICOS DOS PPGCIS Jonathas Luiz Carvalho Silva, Gustavo Henrique de Arajo Freire ...............................................255 CARACTERSTICAS NATURAIS DA INFORMAO: VISO INTERDISCIPLINAR DA CINCIA DA INFORMAO COM A FSICA E A BIOLOGIA Marcelo Stopanovski Ribeiro, Rogrio Henrique de Arajo Jnior ................................................275 BREVES REFLEXES ACERCA DA INTERDISCIPLINARIDADE NA CINCIA DA INFORMAO: UM OLHAR ATRAVS DA FORMAO ACADMICA DO CORPO DISCENTE DO PPGCI IBICT / UFRJ 2009 E 2010 Leandro Coelho de Aguiar, Renata Regina Gouvea Barbatho ........................................................283 A TEORIA MATEMTICA DA COMUNICAO E A CINCIA DA INFORMAO William Guedes ................................................................................................................................290 CINCIA DA INFORMAO: RELAO INTERDISCIPLINAR COM AS DISCIPLINAS INTELIGNCIA COMPETITIVA E GESTO DO CONHECIMENTO Simone Alves da Silva, Simone Faury Dib, Neusa Cardim da Silva................................................295 DO DOCUMENTO CONTBIL ELETRNICO ENQUANTO PROVA: ANLISE INTERDISCIPLINAR ENTRE O DIREITO E A ARQUIVSTICA. Rbia Martins, Joo Batista Ernesto Moraes..................................................................................302 A VERDADE, A INFORMAO E O ARQUIVO: PRIMEIRAS IMPRESSES NA BUSCA POR UMA FILOSOFIA DA INFORMAO Aluf Alba Elias .................................................................................................................................307
GT1
3
COMUNICAO ORAL
INFORMAO SEGUNDO NIKLAS LUHMANN: BASE TERICA PARA UMA CINCIA DO INFORMAR-SEMarcos Gonzalez Souza Resumo: No mbito de sua oniabarcadora teoria de sistemas, Niklas Luhmann (2010 [1995]) recusou a metfora da transferncia de informao, conceito hegemnico desde a teoria da comunicao de Claude Shannon (1948), o que o colocou em uma posio minoritria em relao pesquisa acadmica de sua poca. No esforo de erigir um edifcio suficientemente complexo, capaz de servir de contraste ao que foi obtido pela tradio, Luhmann props ento um conceito de informao substitutivo, que aqui interpretado luz de argumentos lingusticos. Conclumos que, para Luhmann, informao tanto a prpria ao de informar-se quanto o resultado ou efeito dessa ao, que deve ser compreendida no sentido de instruo de processos. Consideramos, por fim, que seus conceito e teoria so capazes de expandir os horizontes epistemolgicos da Cincia da Informao. Palavras-chave: Teoria de sistemas, Autopoiesis, epistemologia da Cincia da Informao Abstract: In the context of his encompassing systems theory, Niklas Luhmann (2010 [1995]) rejected the metaphor of information transfer, an hegemonic concept since the theory of communication of Claude Shannon (1948), which put him in a minority position in relation to the academic research of his time. In an effort to erect a building complex enough to serve as a contrast to what was obtained by tradition, Luhmann then proposed a surrogate concept of information, which is here interpreted in the light of linguistic arguments. We conclude that, for Luhmann, information is either action of self information or a result or effect of this action, which must be understood in the sense of instruction of processes. We consider, in the end, that his concept and theory are able to expand the epistemological horizons of Information Science. Keywords: Systems theory, Autopoiesis, epistemology of Information Science. 1. Introduo Tendo como ponto de partida a mesma pretenso oniabarcadora dos sistemas veteroeuropeus, o socilogo Niklas Luhmann ambicionou ir alm da tentativa de renovar em profundidade as categorias GT1 4
do modo ocidental de pensar o homem e a sociedade, a que a tradio chamou filosofia prtica, ou mesmo as categorias do pensar enquanto tal, que seriam igualmente as do ser, e que a tradio tematizou sob o nome de ontologia (SANTOS, 2005b, p. 8-9). Sua obra insere-se no domnio da sociologia de Talcott Parsons, sua principal referncia, mas insere um leque muito significativo de novos contributos, de grande originalidade e ainda maior radicalidade, desenvolvidos no mbito da Teoria Sistmica de Segunda Gerao (ESTEVES, 2005, p. 281-282). Na dcada de 1920, Ludwig von Bertalanffy havia introduzido a Teoria Geral de Sistemas, definindo sistemas como um conjunto de elementos de interao (VON BERTALANFFY, 2009 [1967], p. 63). Naquele tempo, a fsica convencional tratava dos sistemas fechados, isto , isolados de seu ambiente. O segundo princpio da termodinmica, por exemplo, enuncia num sistema fechado uma certa quantidade chamada entropia. Sendo entropia uma medida da probabilidade, um sistema fechado tende para o estado de distribuio mais provvel, ou seja, um estado de equilbrio. Von Bertalanffy d como exemplos uma mistura de contas de vidro vermelhas e azuis ou de molculas com velocidades diferentes, em um estado de completa desordem. Uma situao altamente improvvel encontrar todas as contas vermelhas separadas de um lado e de outro todas as contas azuis ou ter em um espao fechado todas as molculas rpidas, isto , uma alta temperatura do lado direito, e todas as molculas lentas, numa baixa temperatura, do lado esquerdo. Ao contrrio, a tendncia para a mxima entropia ou a distribuio mais provvel a tendncia para a mxima desordem.No entanto, encontramos sistemas que por sua prpria natureza e definio no so sistemas fechados: todo organismo vivo, por exemplo, essencialmente um sistema aberto. Para esses, as formulaes convencionais da fsica so em princpio inaplicveis; von Bertalanffy, porm, observou que concepes e pontos de vista gerais semelhantes surgiram em vrias disciplinas da cincia moderna para lidar com os sistemas:
Enquanto no passado a cincia procurava explicar os fenmenos observveis reduzindo-os interao de unidades elementares investigveis independentemente umas das outras, na cincia contempornea aparecem concepes que se referem ao que chamado um tanto vagamente totalidade, isto , problemas de organizao, fenmenos que no se resolvem em acontecimentos locais, interaes dinmicas manifestadas na diferena de comportamento das partes quando isoladas ou quando em configurao superior, etc. (VON BERTALANFFY, 2009 [1967], p. 61-62) Concepes e problemas desta natureza surgiram em todos os planos da cincia quer o objeto de estudo fossem coisas inanimadas quer fossem organismos vivos ou fenmenos sociais. Aparecem os sistemas de vrias ordens, que no so inteligveis mediante a investigao de suas respectivas partes isoladamente. Os sistemas abertos responderam, conforme resgate histrico de Luhmann (2010 [1995], p. 203)1, a essa referncia terica, na medida em que os estmulos provenientes do meio podiam1 Doravante neste texto, faremos referncias a essa edio citando-lhe apenas a pgina
GT1
5
modificar a estrutura do sistema: uma mutao no prevista, no caso do biolgico; uma comunicao surpreendente, no social:Mantm-se em um contnuo fluxo de entrada e de sada, conserva-se mediante a construo e a decomposio de componentes, nunca estando, enquanto vivo, em um estado de equilbrio qumico e termodinmico, mas mantendo-se no chamado estado estacionrio, que distinto do ltimo. Isto constitui a prpria essncia do fenmeno fundamental da vida, que chamado metabolismo, os processos qumicos que se passam no interior das clulas (VON BERTALANFFY, 2009 [1967], p. 65).
As categorias de variao, seleo, estabilizao, consolidaram o modelo dos sistemas abertos na teoria geral dos sistemas, mas para Luhmann, ainda era preciso enfrentar o conceito de causalidade (acaso), que colocava a relao entre sistema e meio no terreno dos impulsos de variao que se situam fundamentalmente na parte relativa ao meio. Segundo essa teoria, tais impulsos levam a mutaes no sistema (mudanas qumicas operadas no meio, seleo de formas de sobrevivncia que no esto de modo algum visveis no sistema), tratando-se, portanto, de uma determinao externa da estrutura do sistema. Com efeito, desde Darwin, era preciso explicar a multiplicidade das espcies biolgicas: como possvel que de um acontecimento nico fundador da vida (a clula) se tenha chegado a to distintas formas orgnicas? No mbito do social, poder-se-ia estabelecer uma inquietao equivalente: partindose do pressuposto de que a conscincia um programa praticamente em branco com uma estrutura biolgica mnima, no sentido de estruturas inatas chomskyanas, competentes para a linguagem, ou com alguns instintos biolgicos ancorados, como possvel explicar que, uma vez que a linguagem emerge como fenmeno universal de socializao, tenha se desenvolvido tamanha diversidade de culturas e de linguagens? (p. 62) Dispondo de um arquivo acumulado durante quarenta anos, contendo, segundo ele prprio, cerca de umas cem mil anotaes bibliogrficas (p. 203), Luhmann realizou um meticuloso trabalho de ajuste dos conceitos relevantes, para que pudessem comportar um corpo terico coerente: no se trata de introduzir, nem de dispor a contento dos conceitos, dizia ele, sem levar em conta as tradies tericas que os acompanham e, caso necessrio, substitu-los (p. 292). Uma preocupao terica de Luhmann consistia em articular a ideia de que a evoluo no podia ser prognosticada, uma vez que a admirao pela complexidade do mundo sempre acarretou o recurso s teorias da criao e, finalmente, admirao por Deus. A, a ordem era a execuo de um plano, porque o mundo no podia ser explicado sem que houvesse uma intencionalidade por detrs (p. 143-144). Se no h intencionalidade, porque intencionalidade implicaria a volta a um sistema de causa e efeito, Luhmann no podia admitir qualquer trfego de mensagens do meio para o sistema, muito menos informao: Em outros preceitos tericos, explica Luhmann, a informao entendida como um transfer a partir do meio; no contexto do acoplamento estrutural [em sua teoria de sistemas autopoiticos], trata-se de um acontecimento que se realiza por uma operao efetuada no prprio sistema. Luhmann associa essa metfora do transfer Segunda Ciberntica, com seus GT1 6
sistemas que interpretam o mundo (sob o preceito da energia ou da informao) e reagem conforme esta interpretao. Em ambos os casos, a entropia faz com que os sistemas estabeleam um processo de troca entre sistema e meio:Abertura significou comrcio com o meio, tanto para a ordem biolgica como para os sistemas voltados para o sentido (sistemas psquicos, sistemas sociais...). Surgiu, assim, uma nova nfase no modelo: o intercmbio. Para os sistemas orgnicos se pensa em intercmbio de energia; para os sistemas de sentido, em intercmbio de informao (p. 61).
A reside a ruptura nas elaboraes tericas de Luhmann (GUIBENTIF, 2005, p. 221), por ele qualificada de mudana de paradigma ou refundao da teoria (p. 125), quando orientou, de maneira bastante inovadora, sua conceptualizao dos sistemas sociais em torno do conceito de autopoiesis. O termo foi inicialmente cunhado pelo bilogo chileno Humberto Maturana que, com Francisco Varela, postulou que o que caracteriza o ser vivo sua organizao autopoitica (MATURANA e VARELA, 2010 [1984], p. 55): seres vivos diferentes se distinguem porque tm estruturas distintas, que destaca o fato de que os seres vivos so unidades autnomas, embora sejam iguais em organizao. A dvida fundamental de Luhmann se a teoria da socializao pode ser entendida a partir do modelo da transmisso (p. 148). Desde os anos 1950, diz o socilogo, verifica-se um pice no emprego do conceito de informao, sem, contudo, denotar algum esforo em atingir clareza conceitual (p. 139-140). A teoria da comunicao (SHANNON, 1948) uma que fala em que os meios de comunicao transmitem informao, caindo a no problema de ter de afirmar que a individualidade , portanto, somente uma cpia que se desenvolve no campo amplo da diferenciao cultural. E no constitui um avano substancial prossegue o socilogo a afirmao de que isso se d mediante processos de ensino-aprendizagem, conduzidos por pessoas que desempenham o papel social de professor, educador como sendo os que entendem o comportamento adequado , e so capazes de transferir esses modelos de socializao aos demais: isto seria, novamente, basear a socializao na teoria da transmisso. Maturana seria, segundo Luhmann, um dos poucos que, decididamente, ops-se ao emprego da metfora da transferncia, ponto de vista que os colocou numa posio minoritria no meio acadmico (p. 294). No Brasil, essa situao foi constatada empiricamente. Francelin (2004) cita o socilogo entre os autores que formam as bases do pensamento ps-moderno, mas, como resultado de sua anlise de 258 volumes de oito revistas de CI no Brasil, no perodo de 1972-2002, mostra que, na categoria de anlise Complexidade, que abarca teoria de sistemas e relaes de complexidade, h apenas 10 artigos. Arboit et al. (2010), um estudo que analisa a configurao epistemolgica da CI brasileira com base na anlise de citaes da produo peridica da rea entre 1972 e 2008, confirmam a ausncia de Luhmann entre os autores que mais influenciam a rea, muito embora um de seus mais proeminentes seguidores, Rafael Capurro, seja o autor estrangeiro mais citado. A Cincia da Informao, apesar dos esforos em aprimorar abordagens tericas alternativas, no conseguiu, na GT1 7
opinio de Hofkirchner (2011) e outros, desenvolver um corpo terico que fosse reconhecido como uma teoria mais geral da informao. Da nosso interesse em Luhmann, que acredita ter erigido um edifcio suficientemente complexo, capaz de servir de contraste ao que foi obtido pela tradio (p. 203). O que pretendemos analisar o papel que o conceito de informao tem nesse edifcio. Sabemos que, como dizem Capurro e Hjrland (2007 [2003]), as definies no so verdadeiras ou falsas, mas sim, mais ou menos produtivas, e concordamos com Basilio (1999) quando ela diz que o conjunto de objetos do mundo externo designado por uma palavra no suficientemente especificado pela estrutura morfo-semntica, estabelecendo-se com ela uma caracterizao genrica. Para nosso fins, estaremos satisfeitos se pudermos apontar, com base em um sistema de categorias suficientemente robusto (descrito na prxima seo), a essncia da diferena entre as teorias de sistemas de Luhmann e daquelas que ele refuta. 2. Mtodo Na Morfologia lingustica, derivao o nome do processo formador de novas palavras, e produtividade, da formao de palavras novas por determinada Regra de Formao de Palavras, ou RFP. A princpio, uma palavra como informao formada por uma regra que pode ser representada como em [X]V [[X] V -o] N, que nos diz que se pode formar um nome em -o a partir de um verbo (representado pela varivel X) e, ademais, que a produtividade dessa RFP s se aplica a verbos, e no a qualquer lexema (ROSA, 2000; FREITAS, 2007). Eis porque chamada nominalizao deverbal. As nominalizaes deverbais possuem duas funes reconhecidas pelos estudiosos das lnguas: de mudana categorial e designadora (ou denotativa). A primeira obedece, sobretudo, a motivaes de estruturao textual, sendo uma construo transparente e sem objetivos designadores. J a nominalizao denotativa tem uma funo de designao de seres, processos, eventos, situaes especficos (BASILIO, 2004). As nominalizaes em -o costumam ser interpretadas como uma ao ou resultado da ao expressa pela base verbal correspondente. Por essa regra geral, informao pode ento ser interpretada como a nominalizao da ao informar (informar informao) ou resultado dessa ao. No devemos nos esquecer, ainda, que o verbo em estudo admite reflexividade, informar-se, portanto, informao tambm a nominalizao da ao informar-se (informar-se informao), ou o resultado dessa ao. H, porm, quem no considere relevante a origem da base das nominalizaes, mas a relao geral verbo/nome, que obedeceria, em princpio, a um padro derivacional, segundo o qual, dada a existncia de um verbo no lxico do Portugus, previsvel uma relao lexical entre este verbo e um nome. comum em algumas lnguas como o portugus e o japons encontrarmos termos com o mesmo timo que muito frequentemente extrapolam os limites das suas famlias lingusticas. Afirma-se que, para o significado original, produtos da derivao sufixal em -o, como informao, GT1 8
referem-se basicamente a seres abstratos, mas o mesmo no vale, necessariamente, para as demais acepes da palavra, que podem ser concretas: criao (ato de criar), por exemplo, pode ser referir a animais; corao, aparentemente, o concreto veio antes do sentido abstrato, a menos que tenha tido algum significado abstrato inicial que no podemos restaurar (VIARO, 2011, p. 117-122). No podemos descartar, em suma, a hiptese de que informao que deu origem aos verbos (informao informar; informao informar-se). Admite-se, ainda, que informao pode ser usada ignorando-se completamente a base verbal, aproximando o termo daquilo que, no mito do objetivismo identificado por Lakoff e Johnson (2002 [1980], p. 295-297), entenderamos como um objeto, algo com propriedades independentes de quaisquer pessoas ou outros seres que os experienciem, conceitos como pedra, ncora, azeite ou escudo. Segundo esses autores, sob esse paradigma, mesmo eventos, aes, atividades e estados so metaforicamente conceptualizados como objetos. Uma corrida, por exemplo, um evento compreendido como uma entidade discreta, e a prova est na lngua: existe no tempo e no espao (voc vai corrida?), tem demarcaes bem definidas (voc viu a corrida?) e contm participantes (voc est na corrida no Domingo?). Quanto semntica, seguimos aqui as categorias de Salgado (2009), que, em estudo sobre as regncias de informar em galego, estabeleceu quatro significados fundamentais para o verbo. A acepo 1 continuadora do significado etimolgico do verbo (lat. informare, dar forma, modelar, formar no nimo) que, no galego moderno aparece quase exclusivamente em textos de carter filosfico. Com o significado 2, informar um verbo de transferncia que seleciona trs argumentos potestativamente, isto , que podem estar expressos ou no, que projetam, sintaticamente, os papis de emissor, destinatrio e tema. No dicionrio Houaiss (2001), essa acepo registrada como fazer saber ou cientificar, e informao, ento, a comunicao de um conhecimento ou juzo ou um acontecimento ou fato de interesse geral tornado do conhecimento pblico ao ser divulgado pelos meios de comunicao; notcia. Segundo Salgado, a acepo 2 a estrutura mais documentada de informar, o que faz dela o sentido default para o verbo em galego. No significado 3, informar especializou-se no meio jurdico-administrativo como [um organismo, perito, corpo consultivo] emitir informes da sua competncia. Essa acepo est lexicografada no Houaiss como sinnimo de instruir (um processo). Por ltimo, na acepo 4, informar aparece sempre em construo pronominal (informar-se), que no Houaiss o informar-se (tomar cincia de ou cientificar-se); informao est associada recepo de um conhecimento ou juzo ou um conhecimento obtido por meio de investigao ou instruo. Tomando como corpus o ltimo livro Luhmann (2010 [1995]), vamos buscar, ento, uma caracterizao genrica para seu conceito de informao, nos seguintes termos: (A) Informao uma ao ou objeto? (B) se denota ao, como se pode interpret-la: como (i) ao de informar, (ii) ao de informar-se, (iii) resultado ou efeito da ao de informar ou (iv) resultado ou efeito GT1 9
da ao de informar-se? (C) ainda, se denota uma ao, expressa qual dos significados fundamentais de Salgado (2009)? 3. A metateoria de Niklas Luhmann Em Luhmann, o que mudou com a apropriao do conceito de autopoiesis, em relao aos avanos alcanados nos anos 1950 e 1960, foi a definio de sistema como a diferena entre sistema e meio (LUHMANN, 2010 [1995], p. 81). Poder-se-ia dizer: o sistema a diferena resultante da diferena entre sistema e meio ou, ainda, a fundao da unidade est colocada junto da diferena (p. 304). Assim, a Teoria dos Sistemas no comea sua fundamentao com uma unidade, ou com uma cosmologia que represente essa unidade, ou ainda com a categoria do ser, mas sim com a diferena. A afirmao mais abstrata que se pode fazer sobre um sistema e que vlida para qualquer tipo de sistema que a diferena que h entre sistema e meio pode ser descrita como diferena de complexidade: o meio de um sistema sempre mais complexo do que o prprio sistema (p. 183-184). Cada organismo, mquina e formao social, tem sempre um meio que mais complexo, e oferece mais possibilidades do que aquelas que o sistema pode aceitar, processar, ou legitimar. Na definio de Maturana, diz Luhmann, autopoiesis significa que um sistema s pode produzir operaes na rede de suas prprias operaes, sendo que a rede na qual essas operaes se realizam produzida por essas mesmas operaes; ademais, dentro do sistema no existe outra coisa seno sua prpria operao (p. 119-120). Ao tomar como ponto de partida esse encerramento de operao, deve-se entender por autopoiesis, ento, que o sistema se produz a si mesmo, alm de suas estruturas. O axioma do encerramento operativo leva aos dois pontos mais discutidos na atual Teoria dos Sistemas: a) auto-organizao; b) autopoisis. Os dois tm como base um princpio terico sustentado na diferena e um mesmo princpio de operao: cada um acentua aspectos especficos do axioma, mas o sistema s pode dispor de suas prprias operaes (p. 112). Se Maturana e Varela (2010 [1984], p. 53) entendem organizao como as relaes que devem ocorrer entre os componentes de algo, para que seja possvel reconhec-lo como membro de uma classe especfica, para Luhmann s h auto-organizao, no sentido de uma construo de estruturas prprias dentro do sistema. Como os sistemas esto enclausurados em sua operao, eles no podem conter estruturas, eles mesmos devem constru-las. Enquanto Maturana e Varela entendem por estrutura de algo os componentes e relaes que constituem concretamente uma unidade particular e configuram sua organizao, Luhmann diz que uma estrutura constitui a limitao das relaes possveis no sistema (p. 113). O sistema dispe de um campo de estruturas delimitadas, que determinam o espectro de possibilidades de suas operaes. Mas a estrutura luhmanniana no o fator produtor, a origem da autopoiesis: trata-se de um processo circular interno de delimitao. Por exemplo (de Luhmann), numa conversa, que o autor enxerga como um sistema (o sistema comunicao), o que se disse por ltimo o ponto de GT1 10
apoio para dizer o que se deve continuar dizendo; assim como o que se percebe no ltimo momento constitui o ponto de partida para o discernimento de outras percepes. Portanto, o conceito de autoorganizao deve ser entendido, primeiramente, como produo de estruturas prprias, mediante operaes especficas. Autopoiesis significa para Luhmann a determinao do estado posterior do sistema, a partir da limitao anterior qual a operao chegou. Somente por meio de uma estruturao limitante, um sistema adquire a suficiente direo interna que torna possvel a autorreproduo. As estruturas condicionam o espectro da possibilidade no sistema; a autopoiesis determina o que possvel, de fato, na operao atual. O molde das estruturas pr-condiciona o que passvel de ser examinado; e a autopoiesis determina o que, realmente, deve s-lo (LUHMANN, 2010 [1995], p. 138). Os sistemas luhmannianos so autnomos no nvel das operaes. Entende-se por autonomia a propriedade que os sistemas tm de somente a partir da operao ser possvel determinar o que lhe relevante e, principalmente, o que lhe indiferente. Por conta da teoria do encerramento operativo, Luhmann conclui que a diferena sistema/meio s se realiza e possvel pelo sistema. Assim, o sistema no pode importar nenhuma operao a partir do meio, mas no est, por outro lado, condicionado a responder a todo dado ou estmulo proveniente do meio ambiente (p. 120). O meio, por sua vez, s pode produzir efeitos destrutivos no sistema se conseguir irromper na operao da autopoiesis, da que a autopoiesis construda de maneira altamente seletiva, resguardando-se precisamente de que o meio a destrua, chegando a interromper o processo da evoluo (p. 280) se necessrio. Donde se deduz que, segundo Luhmann, sobreviver ainda mais fundamental que viver. Ao transferir seu centro de gravidade para o conceito de autopoiesis, a Teoria dos Sistemas defronta-se com o problema de como esto reguladas as relaes entre sistema e meio; uma vez que, principalmente na estratgia terica, a distino sistema/meio faz referncia ao fato de que o sistema j contm a forma meio (p. 128). Faz-se necessrio mais um conceito fundamental da metateoria, o conceito de acoplamento estrutural (p. 130). As causalidades que podem ser observadas na relao entre sistema e meio situam-se exclusivamente no plano dos acoplamentos estruturais o que significa dizer que estes devem ser compatveis com a autonomia do sistema. Os acoplamentos estruturais podem admitir uma diversidade muito grande de formas, desde que sejam compatveis com a autopoiesis. Um exemplo de acoplamento estrutural, dado pelo autor, a musculatura dos organismos, que condizente com a fora da gravidade, embora restrita a mbitos de possibilidades de movimentos. A linha de demarcao que divide o meio, entre aquilo que estimula ao sistema e aquilo que no o estimula e que se realiza mediante o acoplamento estrutural tende a reduzir as relaes relevantes entre sistema e meio a um mbito estreito de influncia, pois acoplamento estrutural exclui que dados existentes no meio possam definir, conforme as prprias estruturas, o que acontece no sistema. Ele no determina, mas deve estar pressuposto, j que, do contrrio, a autopoiesis se deteria e o sistema deixaria de existir. Mediante o acoplamento estrutural, o sistema desenvolve, por um lado, um campo de indiferena e, por outro, faz com que haja uma canalizao de causalidade que produz GT1 11
efeitos que so aproveitados pelo sistema (p. 132). Em suma, todos os sistemas esto adaptados ao seu meio (ou no existiriam), ainda que dentro do raio de ao que lhes conferido eles tenham todas as possibilidades de se comportar de um modo no adaptado (p. 131). Com a ajuda de modelos de seletividade, os sistemas se tornam, segundo Luhmann, mais capacitados para processar os dados ou, como prefere Luhmann, as irritaes provenientes do meio o que proporciona a possibilidade de aproximar-se da racionalidade. Um sistema pode, no entanto, construir sua prpria irritabilidade:Ele pode inserir a distino sistema/meio de ambas as partes, mediante ulteriores distines e, dessa forma, ampliar suas possibilidades de observao. Tambm pode utilizar indicaes e, com isso, condensar referncias; ou ento, no faz-lo, deixando assim que umas possibilidades caiam no esquecimento. Ele pode recordar e esquecer e, portanto, reagir frequncia das irritaes.
Diferentemente das concepes prprias da tradio, Luhmann no quer se aproximar de um ideal, nem de uma justia maior, ou de uma construo superior, e tampouco da autorrealizao de um esprito objetivo ou subjetivo. Tambm no se trata de atingir a unidade: a racionalidade do sistema significa expor-se realidade, colocando-lhe prova uma distino, entre sistema e meio (p. 200). A radicalidade desses princpios tericos, para Luhmann, subentende uma mudana radical na teoria do conhecimento e na ontologia que lhe serve de pressuposto. Quando se aborda a teoria da autopoiesis tendo em conta o encerramento de operao, fica evidente que se trata de um rompimento com a tradio ontolgica do conhecimento, na qual algo pertencente ao meio pode ser transportado ao ato de conhecer, seja como representao, reflexo, imitao, ou simulao (p. 125). 4. Objees metfora da transferncia Na vida cotidiana, assim como em alguns processos de pesquisa das cincias, diz Luhmann, o conceito de comunicao se baseia na metfora da transferncia (transmisso). Essa metfora coloca, segundo o autor, a essncia da comunicao no ato da transmisso, no ato de partilhar a comunicao. Ela dirige a ateno e os requisitos de habilidade para o emissor e acentua o carter de multiplicao, e no de perda, que se efetua com ela (p. 294-295) As objees feitas a esse conceito usual de comunicao concentram-se, de acordo com Luhmann, em dois aspectos2, sendo que o primeiro relativamente superficial e sempre foi conhecido (p. 294): dar-se conta de que na comunicao no se trata de desfazer-se de algo por exemplo, que, ao se comunicar, o transmissor deixa de possuir algo; assim como em uma transao econmica, na qual um pagamento pressupe desfazer-se de uma quantidade de dinheiro, ou em uma venda, por meio da qual um proprietrio se desfaz de um imvel.2 Luhmann fala em dois aspectos, mas elenca trs, como veremos.
GT1
12
Luhmann discorda: a comunicao uma sucesso de efeitos multiplicadores, primeiramente, um a tem, e depois, dois, e logo ela pode ser estendida a milhes, dependendo da rede comunicacional na qual se pense (por exemplo, a televiso). A metfora sugere que o emissor transmite algo que recebido pelo receptor; mas este no o caso, simplesmente porque o emissor no d nada, no sentido de perder algo. A metfora do possuir, ter, dar e receber, portanto, no serve para compreender a comunicao (p. 296-297). Enfim, a metfora da transmisso no til, pois implica demasiada ontologia. O socilogo apia-se a em Gregory Bateson (1972), que pensava que a produo de redundncias a manifestao primordial da comunicao; mais que isso, o fenmeno da comunicao serve para a elaborao de redundncias; isto , para a criao de um excedente comunicacional a servio de todo aquele que se interesse por ele: todo mundo, enfim, pode saber algo que foi transmitido pela televiso. Trata-se de uma sobreproduo de excedentes, na qual o conhecimento se multiplica a si mesmo, que possui tambm uma elevada cota de esquecimento ou desatualizao: aquilo que se soube ontem j no interessa mais. A segunda objeo ao conceito usual de comunicao menos difundida, mas de maior peso se o modelo de transmisso no pressupe, no fundo, que se tenha conhecimento do estado interno dos que participam. Ou seja, para afirmar que A e B sabem a mesma coisa, necessrio conhecer o que existe em A e em B. Se o que se existe em A for diferente do que existe em B, como se poder dizer que houve um acontecimento de comunicao? (p. 295) A metfora da transferncia exagera, segundo o autor, a identidade do que se transmite. Embora possa haver algo de verdade nisso, admite Luhmann, o ato de partilhar a comunicao no mais do que uma proposta de seleo, uma sugesto: somente quando se retoma essa sugesto e se processa o estmulo que se gera a comunicao (p. 297). Luhmann no admite um programa cultural para a individualidade. Para ele, a socializao sempre autossocializao. Tomando-se como ponto de partida a autopoiesis, torna-se mais compreensvel que tanto a estruturao da conscincia, como a da prpria memria, reflitam para enfrentar os oferecimentos de cultura sob a dupla disposio de aceitao ou rejeio. Somente assim, afirma Luhmann, possvel explicar a enorme diversidade individual. Cada sistema de conscincia desenvolve suas prprias estruturas, na medida em que se orienta conforme expectativas, palavras, frases e modos de ser especficos. O mesmo individuo cumpre com os requisitos determinados no comrcio social, ou reage negativamente. Quando se entende a individualidade a partir da possibilidade radical do indivduo de dizer sim ou no, e de principalmente pensar que, sob a forma de rejeio, a individualidade se reafirma mais, torna-se, ento, compreensvel a origem das particularidades individuais: a repulsa secreta a assimilar os costumes, o desconhecimento das normas, a aceitao normativa somente mediante a coao... (p. 148-149). Uma terceira ressalva metfora da transmisso se dirige contra a tese de que o processo GT1 13
comunicacional est disposto na simultaneidade do ato de comunicar e de entender. Diz-se: a metfora da transmisso pressupe simultaneidade. Ao estar ligada a um espao delimitado pelas presenas individuais, a comunicao oral se torna dependente do presente (p. 296). Mas, diz Luhmann, na compreenso bsica do processo de comunicao, no h extenso de espao nem de tempo: o que se diz, deve ser imediatamente compreendido (simultaneamente), assim como quando algum fala e vai paralelamente compreendendo a si mesmo; ou quando se pressupe que aquele que escuta tambm est localizado nesse tempo e espao da simultaneidade. O advento da escrita rompeu, porm, com essa concepo espacial, j que consiste em uma organizao totalmente nova da temporalidade da operao comunicacional. A escrita tambm acontece no presente, e simultaneamente. Mas, com a escrita se realiza uma presena completamente nova do tempo; isto , iluso da simultaneidade do no-simultneo. O efeito da escrita consiste, para Luhmann, na separao espacial e temporal entre o ato de transmisso e o de recepo. Portanto, a metfora da transmisso ligada ideia da simultaneidade na qual no se deixa terreno para analisar a relao entre espao e tempo no suficiente para explicar o fenmeno constitutivo da comunicao (p. 296). 5. Informao em Luhmann O que o sistema experimenta no meio, segundo Luhmann, no so corpos (coisas), mas elementos constantes, que so canalizados desse meio at o sistema (p. 142). No plano dos acoplamentos estruturais, h possibilidades armazenadas (rudos) no meio, que podem ser transformadas pelo sistema; portanto, mediante o acoplamento estrutural, o sistema desenvolve, por um lado, um campo de indiferena e, por outro, faz com que haja uma canalizao de causalidade, como vimos. Os acoplamentos estruturais no determinam os estados do sistema, sua funo consiste em abastecer de uma permanente irritao (perturbao, para Maturana) o sistema; do ponto de vista do sistema, trata-se da constante capacidade de ressonncia: a ressonncia do sistema se ativa incessantemente, mediante os acoplamentos estruturais (p. 136-137). Tratando-se de sistemas autopoiticos, no existe transfer de irritao do meio ao sistema assim como no existe irritao do sistema no meio: informao sempre informao de um sistema (p. 140), sempre uma autoirritao, posterior a influxos provenientes do meio (p. 132). As irritaes surgem de uma confrontao interna (no especificada, num primeiro momento) entre eventos do sistema e possibilidades prprias, que consistem, antes de tudo, em estruturas estabilizadas, expectativas. Por exemplo: no momento em que surge um odor cheirando a queimado, no se sabe se so as batatas ou algo que se incendeia na casa, mas, em todo o caso, sempre h uma interpretao limitada da percepo de um odor inabitual de queimado (p. 138). O conceito de informao precisa, segundo Luhmann, ser concebido no marco de referncia da forma, como um conceito com dois lados: a) o carter de surpresa que traz implcita a informao; b) o fato de que a surpresa s existe se as expectativas j estiverem pressupostas no sistema, e se j estiver delimitada a margem de possibilidades dentro da qual a informao pode optar. Informao seleo que s acontece uma vez, na escala das possibilidades, e que, quando GT1 14
repetida, perde o carter de surpresa. Essa seleo efetuada em um contexto de expectativas, pois somente a a informao constitui uma surpresa (p. 300). Uma notcia desportiva, por exemplo, figura necessariamente dentro de um contexto (expectativa): o futebol no pode ser confundido com o tnis. Portanto, os horizontes de seleo j esto predefinidos (p. 300). Como os acontecimentos so elementos que se fixam pontualmente no tempo, ocorrendo apenas uma vez e somente no lapso mnimo necessrio para sua apario, seu suceder temporal identifica-os, e eles so, portanto, irrepetveis. Por isso, diz Luhmann, servem como elementos de unidade dos processos. Uma informao cujo carter de surpresa se repita j no informao; conserva seu sentido na repetio, mas perde o valor de informao. Por outro lado, no se perde a informao, mesmo que tenha desaparecido como acontecimento. Modificou-se o estado do sistema e deixou-se, assim, um efeito de estrutura: o sistema reage perante essas estruturas modificadas e muda com elas (p. 140). Portanto, informao pressupe estrutura, embora no seja em si mesma nenhuma estrutura, mas sim um acontecimento que atualiza o uso das estruturas (p. 140). Uma vez que existem estruturas que limitam e pr-selecionam as possibilidades, o sistema reage apenas quando pode processar informao e transform-la em estrutura. Nesse contexto, h uma seleo sobre essa margem de possibilidades. Informao, prossegue o terico, o acontecimento que antecede e sucede a irritao, um perodo em que estados do sistema so selecionados (p. 140). Luhmann adota, a ttulo de processo de seleo, a formulao clssica de Bateson: informao a diferena que faz diferena para o sistema. uma diferena que leva a mudar o prprio estado do sistema: to somente pelo fato de ocorrer, j transforma: l-se que o fumo, o lcool, a manteiga, a carne congelada, colocam a sade em risco, exemplifica Luhmann, e passa-se a ser outro quer se acredite, ou no, na informao. Cada sistema produz sua informao, j que cada um constri suas prprias expectativas e esquemas de ordenao. A influncia exterior se apresenta como uma determinao para a autodeterminao e, portanto, como informao: esta modifica o contexto interno da autodeterminao, sem ultrapassar a estrutura legal com a qual o sistema deve contar (p. 140-141). O fundamental que a informao tenha realizado uma diferena (p. 83). Todo acontecimento do processamento de informao fica sustentado por uma diferena e se orienta precisamente para ela. a diferena que engendra a informao posterior (p. 84). A autopoiesis, diz Luhmann, tanto da vida como da comunicao, um fenmeno to forte, que o mximo que toda mudana estrutural produz, de forma quase imperceptvel, mais diversidade. A informao, enfim, no a exteriorizao de uma unidade, mas sim a seleo de uma diferena que leva a que o sistema mude de estado e, consequentemente, opere-se nele outra diferena. Os sistemas autopoiticos se diversificam, ou evoluem, continuamente. A informao se realiza por uma operao efetuada no prprio sistema (p. 142). So, por conseguinte, acontecimentos que delimitam a entropia, sem determinar necessariamente o sistema. Segundo Luhmann, seu conceito de informao toma o lugar do conceito encarregado da finalidade GT1 15
de equilbrio na Teoria dos Sistemas. O ponto fundamental da reflexo acerca dessa problemtica consiste em Luhmann ter compreendido que o estado de equilbrio pressupe uma situao de demasiada fragilidade para que possa ser estvel. A nfase de sua pesquisa no reside no equilbrio, mas na estabilidade, uma vez que h sistemas que no esto em equilbrio, e so estveis, ou podem s-lo (p. 137-138). O conceito de autopoiesis, como o proposto por Luhmann, acaba por reforar o equilbrio, ao especific-lo: no possvel predizer como o sistema se comportar, uma vez que a informao um estado que surge de dentro dele mesmo (p. 143). A informao reduz complexidade, na medida em que permite conhecer uma seleo, excluindo, com isso, possibilidades. No entanto, informao tambm pode aumentar a complexidade. Operando de maneira seletiva, tanto no plano das estruturas, como no dos processos, sempre h outras possibilidades que podem ser selecionadas, quando se tenta atingir uma ordem. Precisamente porque o sistema seleciona uma ordem, ele se torna complexo, j que se obriga a fazer uma seleo da relao entre seus elementos (p. 184). A consequncia que, para ordens quantitativamente grandes, os elementos podem se conectar somente sob a condio de que este acoplamento se realize de maneira seletiva. Tal seletividade pode ser observada no fluxo da comunicao habitual, como nos crculos de vizinhos: no possvel comunicar-se com todos, mas somente com determinadas pessoas, que, por sua vez, do continuidade comunicao (p. 184-185). Portanto, a reduo de complexidade condio para o aumento de complexidade (p. 132). 6. Interpretao Na teoria de sistemas de Niklas Luhmann no h espao, conforme procuramos expor, para um conceito de comunicao que se baseie na metfora da transferncia (transmisso). Com isso, podemos afirmar que, dentre os significados fundamentais identificados por Salgado (2009), Luhmann claramente descarta a acepo de informar como um verbo de transferncia. Informao no pode ser interpretada nem como a nominalizao da ao de informar nem como o resultado ou efeito dessa ao, pois ambas so, para ele, reflexos de uma metfora que implica demasiada ontologia. Em Luhmann, tambm no se pode conceber informao como um objeto, pois o que o sistema experimenta no meio no so corpos (coisas), mas elementos constantes, que so canalizados desse meio at o sistema. A identidade de uma informao deve ser pensada paralelamente ao fato de que seu significado distinto para o emissor e para o receptor. Cada sistema est voltado para as expectativas possveis, que j trazem impresso um sentido de avaliao, se orienta conforme expectativas, palavras, frases e modos de ser especficos e pode, portanto, acatar ou negar a ocorrncia ou existncia de objetos, seres, eventos ou situaes reais. Por eliminao, conclumos que a informao luhmanniana denota um processo. Informao, enquanto processo, uma operao efetuada no prprio sistema. Envolve a seleo de uma diferena, um acontecimento que se fixa pontualmente no tempo: eles antecedem e GT1 16
sucedem a irritao, selecionando estados do sistema. A seleo leva o sistema a mudar de estado e, consequentemente, operar-se nele outra diferena. Argumentos como esses nos permitem postular que informao em Luhmann nominaliza a ao de informar-se. Mas a informao luhmanniana tambm um estado que surge de dentro do prprio sistema, ou seja, informao tambm o resultado, ou efeito, da ao de informar-se. No se perde a informao, diz o socilogo, mesmo que tenha desaparecido como acontecimento: modificou-se o estado do sistema e deixou-se, assim, um efeito de estrutura. A influncia exterior se apresenta como uma determinao para a autodeterminao, pois cada sistema constri suas prprias expectativas e esquemas de ordenao. A informao, assim, reduz complexidade, na medida em que exclui possibilidades, o que confere valor de informao a toda experincia. Como os acontecimentos ocorrem apenas uma vez e somente no lapso mnimo necessrio para sua apario, eles so irrepetveis eis porque, diz Luhmann, servem como elementos de unidade dos processos. Por tudo isso, observa-se que o resultado ou efeito da ao de informar-se aproxima-se de uma informao que nominaliza a acepo 3 de Salgado (2009), aquela em que informar significa emitir informes da sua [organismo, perito, corpo consultivo] competncia. Concluso: informao, para Luhmann, tanto a prpria ao de informar-se quanto o resultado ou efeito dessa ao, que deve ser entendida com um sentido que tem grande produtividade no Direito (formao originria de Luhmann3): a de instruo de processos. Os sistemas instruem-se (= informam-se) continuamente, e cada instruo (= informao) fixa-se na prpria estrutura, o que permite que as informaes de um sistema possam ser recuperadas por um sistema-observador. 7. Consideraes finais A teoria dos sistemas de Niklas Luhmann nos leva a compreender a CI como uma cincia do informar-se, e no como uma cincia do informar, conceito que, ainda hoje, parece ser hegemnico na Cincia da Informao. Essa mudana de perspectiva, embora reducionista, parece cumprir um papel didtico eficaz o suficiente para contemplar outros horizontes epistemolgicos como o desenvolvimento de uma Science of Information, como vem propondo Hofkirchner (2011, p. 372):Currently, a Science of Information does not exist. What we have is Information Science. Information Science is commonly known as a field that grew out of Library and Documentation Science with the help of Computer Science: it deals with problems in the context of the so-called storage and retrieval of information in social organizations using different media, and it might run under the label of Informatics as well. A Science of Information, however, would be a discipline dealing with information processes in natural, social and technological systems and thus have a broader scope.4
A informao ocupa, em Luhmann, um papel que nos parece central na epistemologia da3 Luhmann estudou direito na Universidade de Freiburg entre 1946 e 1949, quando obteve seu doutorado e comeou uma carreira na administrao pblica. 4 Mantivemos o texto no original, pois, em portugus, tanto Science of Information como Information Science so traduzveis para Cincia da Informao. De qualquer forma, em algum momento caso a proposta de Hofkirchner se consolide como paradigma emergente ser preciso encontrar uma soluo terminolgica para a questo.
GT1
17
Cincia da Informao: a autonomia do sistema, propriedade j reconhecida ortogonalmente entre os natural, social and technological systems. Aqui recorremos a Gnter Uhlmann (2002, p. 57ss), que nos explica que a autonomia do sistema obtida a partir da memria do estoque, como em Luhmann. O autor cita como exemplos a gua que o camelo absorve para sobreviver uma travessia de um deserto; a gordura que o urso acumula antes da Hibernao; o conhecimento, que permite ao homem sobreviver em ambientes competitivos. Sistemas necessitam sobreviver, sob a imposio da termodinmica universal; para isso exploram seus meios ambiente, trabalhando os estoques adequados a essa permanncia. Alm de garantirem alguma forma de permanncia ou sobrevivncia sistmica, os estoques acabam por ter um carter histrico, gerando o que Uhlmann chama de funo memria do sistema. Uma funo memria conecta o sistema presente ao seu passado, possibilitando possveis futuros. Em sistemas de baixa complexidade, a memria simples (como o caso do fenmeno da histerese em sistemas fsicos ou o que descrito por uma funo de transferncia em um circuito eltrico, por exemplo) mas em sistemas complexos ela pode surgir exatamente como na memria de um ser humano, um complexo processo cerebral e celular. A memria mais marcante em biologia sem duvida aquela do cdigo gentico. Luhmann descreve sua obra como uma espcie de metateoria, que no deve ser apresentada como instruo da base metodolgica da pesquisa emprica, no sentido de exigir-lhe prognsticos estruturais, mas sim como uma orientao geral (p. 125). O resultado, porm, j foi equiparado Fenomenologia do Esprito de Hegel (MOELLER, 2006, p. 199) e considerado uma das mais ambiciosas e potentes reformulaes da sociedade tardo-moderna (FARAS e OSSANDRON, 2006, p. 15) talvez mesmo a mais plausvel (SANTOS, 2005a, p. 161). Sua Teoria Sistmica de Terceira Gerao, como a entendemos, oferece de fato um edifcio suficientemente complexo capaz de servir de contraste ao que foi obtido pela tradio e merece, na nossa opinio, ser apropriada pela Cincia da Informao. 8. Bibliografia ARBOIT, A. E., L. S. BUFREM e J. L. FREITAS. Configurao epistemolgica da Cincia da Informao na literatura peridica Brasileira por meio de anlise de citaes (1972-2008) Perspectivas em Cincia da Informao, v.15, n.1, p.18-43. 2010. BASILIO, M. M. D. P. A morfologia no Brasil: indicadores e questes. DELTA [online], v.15, n.spe., p.53-70. 1999. ______. Polissemia sistemtica em substantivos deverbais. Ilha do Desterro, v.47, p.49-71. 2004. BATESON, G. Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine. 1972. 533 p. CAPURRO, R. e B. HJRLAND. O conceito de informao. Perspectivas em Cincias da Informao, v.12, n.1, p.148-207. 2007 [2003]. ESTEVES, J. P. Legitimao pelo procedimento e deslegitimao da opinio pblica. In: J. M. SANTOS (Ed.). Ta Pragmata. Covilh: LusoSofia/Universidade da Beira Interior, 2005. p.281-320 GT1 18
FARAS, I. e J. OSSANDRON. Recontextualizando Luhmann: lineamientos para una lectura contempornea. In: J. OSSANDN e I. FARAS (Ed.). Observando sistemas: nuevas apropiaciones y usos de la teora de Niklas Luhmann. Santiago de Chile: RIL, 2006. p.17-54 FRANCELIN, M. M. Configurao epistemolgica da cincia da informao no Brasil em uma perspectiva ps-moderna: anlise de peridicos da rea. Cincia da Informao, v.33, n.2, p.49-66. 2004. FREITAS, H. R. Princpios de morfologia:viso sincrnica. Rio de Janeiro: Lucerna. 2007. 223 p. GUIBENTIF, P. O direito na obra de Niklas Luhmann: etapas de uma evoluo terica. In: J. M. SANTOS (Ed.). Ta Pragmata. Covilh: LusoSofia/Universidade da Beira Interior, 2005. p.185-252 HOFKIRCHNER, W. Toward a new Science of Information. Information, v.2, p.372-382. 2011. HOUAISS, A. Dicionrio Eletrnico Houaiss da lngua Portuguesa, verso 1.0. Rio de Janeiro: Instituto Antnio Houaiss/Editora Objetiva 2001. LAKOFF, G. e M. JOHNSON. Metforas da vida cotidiana (coord. trad. Maria Sophia Zanotto). Campinas/So Paulo: EDUC/Mercado de Letras. 2002 [1980]. 360 p. LUHMANN, N. Introduo teoria de sistemas: aulas publicadas por Javier Torres Nafarrante (trad. Ana Cristina Arantes Nasser). Petrpolis: Vozes. 2010 [1995]. 414 p. MATURANA, H. R. e F. J. VARELA. A rvore do conhecimento: as bases biolgicas da compreenso humana (trad. Humberto Mariotti e Lia Diskin). So Paulo: Palas Athena. 2010 [1984]. 288 p. MOELLER, H.-G. Luhmann explained: from souls to systems. Peru, Illinois: Open Court Publishing, v.3. 2006. 299 p. ROSA, M. C. Introduo Morfologia. So Paulo: Contexto. 2000. 156 p. SALGADO, X. A. F. Sobre o rxime do verbo informar en galego. Estudos de Lingstica Galega, v.1, p.209-223. 2009. SANTOS, J. M. A complexidade do mundo. In: J. M. SANTOS (Ed.). Ta Pragmata. Covilh: LusoSofia/Universidade da Beira Interior, 2005a. p.123-164 ______. O pensamento de Niklas Luhmann. Covilh: LusoSofia/Universidade da Beira Interior. 2005b. 371 p. SHANNON, C. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, v.27, p.379-423, 623-656. 1948. UHLMANN, G. W. Teoria geral dos sistemas: do Atomismo ao Sistemismo (Uma abordagem sinttica das principais vertentes contemporneas desta Proto-Teoria) - verso Pr-Print. Instituto Siegen, 4 jul 2011. 2002. VIARO, M. E. Etimologia. So Paulo: Contexto. 2011. 331 p. VON BERTALANFFY, L. Teoria geral dos sistemas: fundamentos, desenvolvimento e aplicaes (trad. Francisco M. Guimares). Petrpolis: Vozes. 2009 [1967]. 360 p.
GT1
19
COMUNICAO ORAL
INTEGRAO EPISTEMOLGICA DA ARQUIVOLOGIA, DA BIBLIOTECONOMIA E DA MUSEOLOGIA NA CINCIA DA INFORMAO: POSSIBILIDADES TERICASCarlos Alberto vila Arajo Resumo: O objetivo deste artigo apresentar as concluses de uma pesquisa que buscou problematizar e discutir as possibilidades de integrao epistemolgica da Arquivologia, da Biblioteconomia e da Museologia na Cincia da Informao. Para tanto, analisada a origem e evoluo terica das trs reas, sendo identificado um paradigma custodial-tecnicista e teorias que apontam para sua superao. A seguir, analisa-se a origem e evoluo da Cincia da Informao, propondo-se que o conceito de informao tal como estudado recentemente pode favorecer o avano das perspectivas tericas nas trs reas e possibilitar sua integrao epistemolgica. Palavras-chave: Cincia da Informao. Arquivologia. Biblioteconomia. Museologia. 1 INTRODUO O objetivo deste texto apresentar os resultados de uma pesquisa de ps-doutoramento junto Universidade do Porto, em Portugal, intitulada Cincia da Informao como campo integrador para as reas de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, realizada de junho de 2010 a maio de 2011. A pesquisa nasceu de uma questo bastante concreta: a criao, na Escola de Cincia da Informao da Universidade Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG), dos cursos de graduao em Arquivologia e Museologia, que passaram a conviver com o j existente curso de Biblioteconomia. A inteno da escola desde o incio foi promover uma integrao entre esses trs cursos na Cincia da Informao (CI). Desde ento, uma srie de esforos vm sendo realizados, tanto para a consolidao das condies institucionais como para o avano das aproximaes tericas. A pesquisa aqui relatada insere-se nesse segundo tpico, buscando problematizar aspectos relacionados com possveis aproximaes e dilogos entre as trs reas e destas com a Cincia da Informao. Os resultados encontrados apontam fortes evidncias e argumentos em defesa da ideia de que possvel promover a integrao epistemolgica entre as reas da Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, no campo da CI, dadas certas condies tericas, que sero aqui analisadas e tensionadas. Pretende-se demonstrar que a evoluo terica das trs reas (e alguns desdobramentos prticos), ao longo do sculo XX, tem apontado frequentemente para a superao das distines disciplinares entre elas e, GT1 20
portanto, abrem caminho para a possibilidade de sua integrao. Nesse cenrio, a CI e o conceito de informao surgem como possveis aglutinadores e potencializadores dos desenvolvimentos futuros destas trs reas. 2 O LONGO CAMINHO AT A CONSOLIDAO Os campos de conhecimento hoje conhecidos como Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia tm razes em atividades prticas ligadas ao funcionamento das instituies arquivo, biblioteca e museu. Estas, por sua vez, surgiram h milnios e se configuraram de maneiras muito diferentes, at chegar aos modelos existentes atualmente. Todas elas, de uma forma ou de outra (seja pelas atividades de colecionismo que deram origem aos primeiros museus, pelas aes de acmulo de documentos por motivos administrativos ou comerciais nos primeiros coletivos humanos, entre outros), ligam-se aos registros materiais do conhecimento humano e, portanto, tm estreita relao com as distintas atividades culturais humanas entendendo aqui cultura como a ao simblica, humana, de interpretar o mundo e de produzir registros materiais dessas aes em qualquer tipo de suporte fsico. Assim, com a inveno da escrita e do estabelecimento das primeiras cidades, h mais de cinco milnios, que surgem os primeiros espaos especficos voltados para a guarda e a preservao de acervos documentais. Autores que tratam da histria dos arquivos, bibliotecas e museus frequentemente listam algumas instituies que se tornaram paradigmticas (como os arquivos de Ebla, a Biblioteca de Alexandria, o Mouseion alexandrino), embora distines muito rgidas do que seria arquivo, biblioteca ou museu se revelem infrutferas (SILVA, 2006). No Egito Antigo, na Grcia Clssica, no Imprio Romano, nos mundos rabe e chins do primeiro milnio e na Idade Mdia na Europa, ergueram-se diversos arquivos, bibliotecas e museus, relacionados com os mais diversos fins religiosos, polticos, econmicos, artsticos, jurdicos, entre outros. Contudo, com o Renascimento, a partir do sculo XV, que aparecem os primeiros traos efetivos daquilo que se poderia chamar de um conhecimento terico especfico nas trs reas, com a publicao dos primeiros tratados relativos a estas instituies. Nesta poca, renasce o interesse pela produo humana, pelas obras artsticas, filosficas e cientficas tanto as da Antiguidade GrecoRomana como aquelas que se desenvolviam no prprio momento. Salientou-se o interesse pelo culto das obras, pela sua guarda, sua preservao. Proliferaram, nos sculos XV a XVII, tratados e manuais voltados para as regras de procedimentos nas instituies responsveis pela guarda das obras, para as regras de preservao e conservao fsica dos materiais, para as estratgias de descrio formal das peas e documentos, incluindo aspectos sobre sua legitimidade, procedncia e caractersticas. A produo simblica humana, compreendida como um tesouro que precisaria ser devidamente preservado, tornou-se objeto de uma viso patrimonialista (o conjunto da produo intelectual e esttica humana, a ser guardado e repassado para as geraes futuras). Contudo, o foco do interesse fixou-se no contedo dos acervos. Os arquivos, as bibliotecas e os museus eram apenas instituies a servio dos campos de estudo da Literatura, das Artes, da Histria e das cincias. No se constroem, neste momento, conhecimentos arquivsticos, GT1 21
biblioteconmicos ou museolgicos consistentes - exceto algumas regras operativas muito prximas do senso comum. O passo seguinte na evoluo destas reas se deu com a Revoluo Francesa e as demais revolues burguesas na Europa, que marcam a transio do Antigo Regime para a Modernidade. Ocorreu uma profunda transformao em todas as dimenses da vida humana e, tambm, nos arquivos, nas bibliotecas e nos museus. Surgem os conceitos modernos de Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museu Nacional, que tm no carter pblico (no sentido de nacional, relativo ao coletivo dos nascentes Estados modernos) sua marca distintiva. Formaram-se as grandes colees, com amplos processos de aquisio e acumulao de acervos o que reforou a natureza custodial destas instituies. A necessidade de se ter pessoal qualificado levou formao dos primeiros cursos profissionalizantes, voltados essencialmente para regras de administrao das rotinas destas instituies e, seguindo a tradio anterior, para conhecimentos gerais em Humanidades (ou seja, os assuntos dos acervos guardados). Por fim, com a consolidao da cincia moderna como forma legtima de produo de conhecimento e de interveno na natureza e na sociedade, tambm o campo das humanidades se viu convocado a constituir-se como cincia. Surgiram, no sculo XIX, diversos manuais que buscaram estabelecer o projeto de constituio cientfica da Arquivologia, da Biblioteconomia e da Museologia. O modelo de cincia ento dominante, oriundo das cincias exatas e naturais, voltado para a busca de regularidades, estabelecimento de leis, ideal matemtico e interveno na natureza por meio de processos tcnicos e tecnolgicos, se expande para as cincias sociais e humanas atravs do Positivismo. Esse o modelo que inspira as pioneiras conformaes cientficas das trs reas, que privilegia os procedimentos tcnicos de interveno: as estratgias de inventariao, catalogao, descrio, classificao e ordenao dos acervos documentais. Opera-se um verdadeiro efeito metonmico: aquilo que antes era uma parte do processo (operaes tcnicas para possibilitar o uso das colees) se torna o ncleo, em alguns casos a quase totalidade do contedo dos nascentes campos disciplinares. Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia tornaram-se as cincias (positivas) voltadas para o desenvolvimento das tcnicas de tratamento dos acervos que custodiam. Ao mesmo tempo, o movimento de consolidao positivista destas reas promove sua libertao de outras reas das quais eram apenas campos auxiliares (como as Artes, a Histria, a Literatura) e a sua autonomizao cientfica. Os trs movimentos acima destacados se somam. A perspectiva patrimonialista volta-se para os tesouros que devem ser custodiados, ressaltando a importncia da produo simblica humana. Ainda que preservado em parte o sincretismo verificado nos sculos anteriores, h j alguma distino entre arquivos, bibliotecas e museus. A entrada na Modernidade enfatiza as especificidades das instituies arquivos, bibliotecas e museus, que devem ter estruturas organizadas e rotinas estabelecidas para o exerccio da custdia. E a fundamentao positivista prioriza as tcnicas particulares de cada instituio a serem utilizadas para o correto tratamento do material custodiado. Constituem-se assim, GT1 22
nos finais do sculo XIX e incio do sculo XX, os elementos que marcam a consolidao de um paradigma patrimonialista, custodial e tecnicista (SILVA, 2006) para as trs reas. Um dos efeitos mais sensveis deste modelo que, ao privilegiar a dimenso fsica das colees, em seguida as instituies que as guardam e finalmente as tcnicas operadas para seu tratamento, ele efetivamente promove e incentiva a separao das trs reas e sua constituio como campos cientficos autnomos. Tal fato se complementa com as aes, nas primeiras dcadas do sculo XX, das associaes profissionais em prol do estabelecimento das distines entre os profissionais de arquivo, de biblioteca e de museu. Profissionais diferentes, em instituies diferentes, utilizando tcnicas diferentes para o tratamento de acervos especficos tal a resultante da soma das aes ocorridas no plano terico (com o paradigma custodial) e prtico (com o fortalecimento das instituies, dos movimentos profissionais e associativos, e o incio dos primeiros cursos universitrios). No sculo XX, contudo, o desenvolvimento de reflexes e teorias nas trs reas no conduziu ao fortalecimento do paradigma dominante. Ao contrrio, a vasta produo cientfica que se seguiu identificou, com muita freqncia, os vrios limites desse modelo, ressaltando diversos aspectos que, pouco a pouco, foram conduzindo necessidade de sua superao. Alm disso, novos fatores surgidos neste sculo (a crescente importncia da informao nos setores produtivos da sociedade, o desenvolvimento das tecnologias digitais, o incremento das prticas interdisciplinares e a importncia da especificidade das cincias sociais e humanas) tambm exerceram importante papel na mudana do cenrio de atuao de arquivos, bibliotecas e museus, conduzindo a iniciativas prticas que tambm evidenciavam mudanas no paradigma dominante. Em meio a tudo isso, surgiu ainda a Cincia da Informao, com uma proposta de cientificidade capaz de acolher e potencializar os diferentes aspectos da produo terica das trs reas como se pretende demonstrar a seguir. 3 O DESENVOLVIMENTO CIENTFICO A diversidade de conhecimentos cientficos e tericos produzidos sobre arquivos, bibliotecas e museus, tanto nos prprios campos cientficos como em outras reas (como a Histria, a Pedagogia, a Literatura, entre outros), torna extremamente difcil apresentar ou mapear essa produo. Para os fins deste artigo, optou-se por um arranjo que privilegia a discusso aqui empreendida. Seria possvel agrupar as diversas teorias e autores sob uma variedade imensa de aspectos (regio geogrfica, poca histrica, disciplina de origem, inspirao filosfica, etc) mas optou-se por agrupar as variadas contribuies pelos aspectos que apontaram elementos de superao do paradigma custodial e tecnicista predominante. Tais aspectos foram organizados em cinco eixos. Para a composio desses eixos, foram considerados tanto a vinculao dos estudos a diferentes correntes de pensamento (dentre aquelas existentes de uma forma ampla nas cincias sociais e humanas) quanto relacionados a diferentes objetos de pesquisa e formas de abordagem desses objetos. Assim, dentro de cada eixo GT1 23
apresentado a seguir, misturam-se teorias e perspectivas construdas a partir de aspectos analticos de diferentes ordens tendo-se portanto o seu agrupamento em eixos relacionados, cada um, a um aspecto especfico de crtica/superao do modelo custodial. 3.1 Os estudos de inspirao funcionalista J no final do sculo XIX, ensaios, manifestos e iniciativas vinham reivindicando mudanas nos arquivos, bibliotecas e museus, por meio de expresses como arquivo efetivamente til, biblioteca viva, museu dinmico, entre outras. Criticava-se o fato de estas instituies estarem voltadas apenas para seus acervos e suas tcnicas, sugerindo que elas se mexessem, buscassem atuar ativamente nos contextos sociais em que se inseriam. E, ao propor isso, provocaram tambm mudanas considerveis nas formulaes tericas. Em comum, essas vrias manifestaes tm como fundamento o Funcionalismo. Trata-se de uma perspectiva que se sustenta numa viso da realidade humana a partir da inspirao biolgica do organismo vivo. A sociedade humana entendida como um todo orgnico, composto de partes que desempenham funes especficas necessrias para a manuteno do equilbrio do todo. Estudos funcionalistas se voltam, pois, para a determinao das funes (no caso, dos arquivos, das bibliotecas e dos museus), para verificar se as funes esto ou no sendo cumpridas (e para a identificao e eliminao dos obstculos que impedem seu cumprimento), para a identificao de disfunes que possam estar ocorrendo e a formulao de estratgias para super-las. Por todo o raciocnio encontra-se a ideia de eficcia: a investigao cientfica como fator para impulsionar o funcionamento adequado das instituies e, consequentemente, o desenvolvimento e o progresso das sociedades. No campo da Arquivologia, as primeiras manifestaes deste pensamento se encontram nos manuais de Jenkinson, de 1922, e de Casanova, de 1928, que apontavam para a necessidade de os arquivos terem um impacto efetivo no aumento da eficcia organizacional. Mas com o desenvolvimento da subrea de Avaliao de Documentos, assumindo para o campo a tarefa de eliminao dos documentos, que um pensamento pragmatista mais efetivo comeou a formular-se. Sua maior expresso se deu com a chamada escola norte-americana da primeira metade do sculo XX, com os trabalhos de Warren (a partir dos quais formalizou-se uma associao que seria o embrio da American Records Management Association); de Brooks, sobre as trs categorias de valor, e principalmente de Schellenberg,, sobre o valor primrio e secundrio dos documentos arquivsticos (DELSALLE, 2000). Tais proposies visavam conservar o mximo de informao preservando um mnimo de documentos priorizando a funcionalidade em oposio aos aspectos de arranjo e valor histrico dos documentos. Uma outra vertente arquivstica, tambm funcionalista, a que prioriza a ao cultural dos arquivos e suas funes pedaggicas, que tambm provocou a busca por uma maior dinamizao destas instituies (ALBERCH I FUGUERAS et al, 2001). Na Biblioteconomia, em meados do sculo XVIII surgem as primeiras manifestaes em prol das bibliotecas efetivamente pblicas (MURISON, 1988). O termo efetivamente ressalta que as GT1 24
primeiras bibliotecas modernas, embora pblicas no nome, seriam demasiadamente auto-centradas e elitistas. Atos, manifestos e iniciativas prticas no campo das bibliotecas pblicas (Public Library Movements), liderados por bibliotecrios como Mann e Barnard, buscaram romper com o isolamento destas e atrair cada vez mais pessoas para seu espao. J em 1876, Green defendia inovaes prticas nas bibliotecas para aumentar a acessibilidade fsica e intelectual, sendo o precursor dos posteriormente chamados servios de referncia (FONSECA, 1992). A consolidao cientfica dessa vertente se deu na Universidade de Chicago, onde em 1928 foi criado o primeiro doutorado em Biblioteconomia. Autores como Butler, Shera, Danton e Williamson defendiam uma Biblioteconomia cientfica, voltada no para os processos tcnicos mas para o cumprimento de suas funes sociais ou seja, o fundamento da biblioteca se encontra no fato de ela ir ao encontro de certas necessidades sociais. Shera chegou a propor um novo espao de reflexo cientfica, a Epistemologia Social, para o estudo do papel do conhecimento na sociedade. Tericos de diferentes pases, tais como Lasso de la Vega, Litton, Buonocore, Mukhwejee e Usherwood, seguiram essas orientaes, ao defender o conceito de biblioteca como instituio democrtica, ativa, e no como depsito de livros (LPEZ CZAR, 2002). Na ndia, Ranganathan, numa clara perspectiva funcionalista, desenvolveu as cinco leis da Biblioteconomia, defendendo o efetivo uso da biblioteca e de seus recursos e, ao mesmo tempo, o atendimento s necessidades da sociedade, por meio do atendimento a cada um de seus componentes. Desenvolvimentos posteriores de leis ou princpios da Biblioteconomia, como os de Thompson e de Urquhart, tambm priorizaram as funes sociais e a necessidade da biblioteca ser dinmica e ativa. Recentemente, estudos sobre as tipologias de bibliotecas e sobre os impactos das tecnologias audiovisuais e digitais de informao tambm se inserem nesta perspectiva, buscando otimizar o papel da biblioteca e dinamizar o uso de seus recursos. No campo da Museologia, o maior destaque a rea de Museum Education. Conforme Gmez Martnez (2006), trata-se de uma museologia verbal, voltada para a ao, erigida em oposio tradio nominalista, voltada para a posse e a descrio dos objetos. Zeller (1989) aponta que floresceu, principalmente nos EUA do final do sculo XIX e incio do sculo XX, uma Museologia voltada para a eficcia dos museus, para uma efetiva difuso de certos valores junto populao, e para oferecer sociedade um retorno dos investimentos feitos. Autores como Flower, Goode, Dana e Rea marcavam a especificidade dos museus como instituies que teriam como valor no a contemplao mas o uso, e que no esperariam pelos visitantes, mas iriam busc-los, atraindo-os para os museus por meio da eliminao de barreiras e da busca por acessibilidade. Diversas parcerias foram realizadas com o setor privado para o incremento de atividades industriais e comerciais, resultando em inovaes museogrficas. Essa perspectiva manifestou-se em outros contextos. Na Frana, destaca-se o pioneirismo do museu imaginrio de Malraux, no plano terico, e do Centro Pompidou, em Beaubourg, como aplicao prtica. No Canad, aproximaes foram feitas entre os museus e o conceito de comunicao a partir dos trabalhos de Cameron. A partir da dcada de 1980, com as tecnologias digitais, houve uma revitalizao da corrente funcionalista, com as GT1 25
possibilidades de acesso remoto, interatividade e design de exposies, com manifestaes em vrias escolas e correntes como, por exemplo, no grupo de pesquisadores ligados Universidade de Leicester (Merriman, Pearce, Hooper-Greenhill, entre outros) e, ainda no contexto ingls, com a Nova Museologia defendida por Vergo e outros. 3.2 A perspectiva crtica Abordagens crticas sobre os fenmenos humanos e sociais se desenvolveram intensamente desde o sculo XIX como reao ao pensamento positivista. Onde as recentes cincias humanas e sociais buscavam estabelecer padres e regularidades, as manifestaes crticas denunciavam o carter histrico da realidade, reivindicando o estudo dos contextos histricos para a compreenso dos fenmenos. Em oposio ao Funcionalismo, que almejava o bom funcionamento do social, as teorias crticas argumentavam que o conflito, e no a integrao, constitui o principal fundamento explicativo da realidade humana. A partir de uma postura epistemolgica de suspeio, desenvolveram-se abordagens crticas em praticamente todas as cincias sociais e humanas e, tambm, nos campos da Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, buscando ver o papel dos arquivos, bibliotecas e museus nas dinmicas de poder e dominao, a partir da denncia de suas aes ideolgicas. No mbito da Arquivologia, os primeiros traos de pensamento crtico encontram-se em anlises de pesquisadores como Bautier, sobre os interesses ideolgicos que motivaram critrios usados pelos arquivos ainda no incio da era Moderna. Outros estudos relacionam-se com a questo do poder de posse dos documentos em vrias ocasies, como no caso dos processos de descolonizao da frica e da sia (SILVA et al, 1998). Nas dcadas de 1960 e 1970, debates sobre as polticas nacionais de informao promovidos pela Unesco tematizaram o papel dos arquivos, a questo do direito informao e a necessidade de transparncia por parte do Estado (JARDIM, 1995). Numa linha diferente, autores como Colombo argumentaram contra a obsesso das sociedades contemporneas com o arquivamento e o registro das atividades humanas. na Arquivologia canadense, contudo, que se desenvolvem as principais perspectivas crticas contemporneas. Com origem nos trabalhos de Terry Cook, tal corrente buscou superar os pressupostos de neutralidade e passividade das prticas arquivsticas, analisando em que medida os arquivos constituem espaos em que relaes de poder so negociadas, contestadas e confirmadas numa virada de nfase das colees para os contextos, feita por autores como Caswell, Harris e Montgomery. Na Biblioteconomia, manifestaes de um pensamento crtico surgiram principalmente em pases de terceiro mundo, vinculadas aos processos de redemocratizao aps ditaduras militares. Num primeiro momento, tais manifestaes foram de carter prtico (com a criao de novos servios bibliotecrios de extenso, como o carro-biblioteca), com o objetivo de aumentar o acesso ao conhecimento por parte de populaes socialmente excludas. Anos depois, foram formuladas teorias relacionadas a essas prticas no escopo das reflexes sobre ao cultural e animao cultural, nas quais buscava-se distinguir os diferentes tipos de ideologias culturais e propor que o bibliotecrio deveria identific-las e atuar perante elas, no numa perspectiva de domesticao mas sim de GT1 26
emancipao (FLUSSER, 1983). As bibliotecas deveriam ser dinmicas e ativas, mas contra os processos de alienao - num sentido bem diferente da perspectiva funcionalista (MILANESI, 2002). Estudos crticos diferentes tambm se desenvolveram em outros pases, como na Frana, em que autores como Estivals, Meyriat e Breton se uniram em torno de uma abordagem marxista para estudar os circuitos do livro e do documento impresso (ESTIVALS, 1981). Na Museologia, as manifestaes pioneiras de pensamento crtico se encontram na obra de artistas e ensastas como Zola, Valry e Marinetti (BOLAOS, 2002), que viam o museu como mausolu, instituio que degradava a arte, instrumento de poder de alguns povos sobre outros. Na dcada de 1960, uma nova onda de crticas provocou o aparecimento de formas de antimuseu (BOLAOS, 2002), com importantes inovaes museolgicas. Porm, na aproximao com a sociologia da cultura que esto as manifestaes mais consolidadas da perspectiva crtica, com Bourdieu inspirando toda uma gerao de pesquisadores. Bourdieu aliou as dimenses material e simblica, analisando como diferentes grupos sociais tm relaes distintas com a cultura (e inclusive com os museus). Abordagens atuais utilizam-se desse referencial e do conceito de capital cultural para o estudo de distintas prticas museolgicas (LOPES, 2007). Outros estudos buscam correlacionar o papel que os museus tiveram (e ainda tm) na construo ideolgica da idia de nao, a partir do trabalho pioneiro de Anderson. H ainda uma rea recente, a Museologia Crtica, voltada para a crtica das estratgias museolgicas intervenientes nos patrimnios naturais e humanos (SANTACANA MESTRE; HERNNDEZ CARDONA, 2006).
3.3 Os estudos a partir da perspectiva dos sujeitos Arquivos, bibliotecas e museus tiveram historicamente relaes muito diferentes com a questo dos pblicos (usurios ou visitantes). H relatos de colees privadas, cujo acesso era restrito a pouqussimas pessoas, e mesmo acervos proibidos e secretos ligados a interesses polticos, militares ou religiosos. Na Era Moderna, em que passou a vigorar as ideias de universalizao, cidadania e de arquivos, bibliotecas e museus pblicos, a questo tomou uma nova dimenso. Contudo, durante a vigncia do paradigma custodial, se formalmente buscou-se abertura e acolhida para os diferentes pblicos, conhec-los nunca chegou a constituir uma prioridade. Foi nos primeiros anos do sculo XX que as abordagens funcionalistas comearam a se preocupar com o pblico, tentando obter dados sobre ndices de satisfao para a melhoria dos servios. Aos poucos, a importncia de se conhecer a viso dos sujeitos concretos que se relacionam com estas instituies foi aumentando, a ponto de acabar se tornando uma rea de estudos autnoma. Os usurios e visitantes deixaram de ser vistos apenas como alvo dos processos arquivsticos, biblioteconmicos e museolgicos, sendo compreendidos como seres ativos, construtores de significados e interpretaes, com necessidades e estratgias diversas. A compreenso dessas novas questes trouxe relevantes impactos para a teoria e para a prtica. No campo da Arquivologia, o tema da relao entre os usurios e os arquivos comeou a ser discutido na dcada de 1960 (SILVA et al, 1998), dentro das reflexes sobre o acesso aos arquivos GT1 27
nas reunies do Conselho Internacional de Arquivos (CIA). Contudo, a temtica sempre foi pouco expressiva no campo. Conforme Jardim e Fonseca (2004), estudos pioneiros so os de Taylor, Dowle, Cox e Wilson, voltados para o entendimento das necessidades informacionais de diferentes tipos de usurios. H tambm estudos de usurios no campo de dinamizao cultural, principalmente sobre tipologia de usurios e sobre cidados e seus interesses em histria familiar e em atividades de ensino (COEUR; DUCLERT, 2001). Na Biblioteconomia, as primeiras manifestaes foram os estudos de comunidade realizados por pesquisadores da Universidade de Chicago, que tinham como foco os grupos sociais tomados em seu conjunto. Foram realizadas diversas pesquisas empricas, nas dcadas seguintes, sobre hbitos de leitura e fontes de informao mais usadas. Aos poucos, o interesse foi se deslocando para a avaliao dos servios bibliotecrios, convertendo os estudos de usurios em estudos de uso para diagnstico de bibliotecas. Situando-se na temtica de Avaliao de Colees, tais estudos impulsionaram vrias inovaes tcnicas, tais como a disseminao seletiva de informaes. Na dcada de 1970, pesquisadores como Line, Paisley e Brittain deslocaram o foco de interesse para as necessidades de informao, que se converteram na principal linha de pesquisa sobre os usurios (FIGUEIREDO, 1994). Recentemente, destacam-se as pesquisas de autores como Kuhlthau e Todd no ambiente da biblioteca escolar, numa perspectiva cognitivista, identificando o uso da informao nas diferentes fases do processo de pesquisa escolar. Na Museologia, como parte da grande mudana nos museus, de depsitos de objetos para lugares de aprendizagem, operou-se uma alterao do foco, das colees para os pblicos surgindo desse movimento a subrea de Estudos de Visitantes (HOOPER-GREENHILL, 1998). No comeo do sculo XX foram realizados os primeiros estudos empricos, com Galton seguindo os visitantes pelos corredores dos museus e Gilman estudando a fadiga e os problemas de ordem fsica na concepo de exposies. Na dcada de 1940, proliferaram estudos sobre os impactos nas exposies junto aos visitantes, realizados por autores como Cummings, Derryberry e Melton. Outros estudos, conduzidos por autores como Rea e Powell na mesma poca, tiveram como objetivo traar perfis scio-demogrficos dos visitantes e mapear seus hbitos culturais. Na dcada de 1960, Shettel e Screven inauguraram uma nova perspectiva com as medidas de aprendizagem nos estudos de visitantes. Nas dcadas seguintes, desenvolveram-se abordagens de base cognitivista, sobre a efetividade das exposies (Eason, Friedman, Borun), e de natureza construtivista como o modelo tridimensional de Loomis, a teoria dos filtros de McManus, o modelo sociocognitivo de Uzzell, a abordagem comunicacional de HooperGreenhill e o modelo contextual de Falk e Dierking. Em comum, essas vrias abordagens buscaram ver como os usurios interpretam as exposies museogrficas, construindo significados diversos, imprevisveis, relacionados com suas distintas vivncias, experincias e contextos socioculturais (DAVALLON, 2005).
3.4 Estudos sobre representao GT1 28
Se em sua origem os arquivos, as bibliotecas e os museus se constituram como instituies de coleta e guarda de acervos, h registros de que, desde muito cedo (h pelo menos dois milnios), estas instituies desenvolveram tcnicas especficas com o fim de inventariar suas colees para fins de controle e guarda, catalog-las e classific-las para fins de recuperao, descrev-las para facilitar o acesso e o uso. Ao longo dos sculos tais tcnicas foram sendo criadas, adaptadas, recriadas, de forma a se produzir um grande acmulo de conhecimentos sobre formas de organizao dos materiais custodiados nestas instituies. Tal conjunto de conhecimento, contudo, sempre foi historicamente concebido como uma questo eminentemente tcnica encontrar as formas mais adequadas para atingir os objetivos. Nos sculos XVIII e XIX, o enciclopedismo, o historicismo e o positivismo marcaram fortemente as tarefas de representao com a proposio de esquemas universais de representao. Ao longo do sculo XX, contudo, diferentes teorias buscaram problematizar esses processos, conformando aos poucos uma subrea de estudos com forte influncia das cincias da linguagem. De tarefa tcnica, as questes da representao se converteram em importante campo de investigao cientfica. A temtica relativa a princpios de organizao e descrio de documentos arquivsticos surgiu e foi debatida durante todo o perodo de consolidao do paradigma custodial. A partir de 1898, com a publicao do manual de Muller, Feith e Fruin, ela ganhou um estatuto diferente, com a construo de um espao reflexivo sobre as normas e tcnicas arquivsticas. Diversas aplicaes prticas de instrumentos de classificao, inclusive de sistemas de classificao bibliogrfica, foram testados nos anos seguintes, embora sem uma significativa reflexo terica o que s aconteceu em manuais posteriores, como os de Tascn, de 1960, e de Tanodi, em 1961, e em obras tericas de pesquisadores como Schellenberg. Nas dcadas de 1970 autores como Laroche e Duchein problematizaram os princpios de ordenamento confrontando o conceito de record group surgido nos EUA com o princpio da provenincia europeu, e autores como Dollar e Lytle inseriram a questo dos registros eletrnicos e a recuperao da informao (SILVA et al, 1998). Os aspectos relacionados com preservao e autenticidade tambm estiveram no centro dos debates sobre os documentos digitais, envolvendo pesquisadores como Duranti e Lodolini, que buscaram confirmar o valor do princpio de provenincia e o respeito aos fundos como critrio fundamental da Arquivologia. O impacto dos suportes digitais motivou o crescimento da pesquisa na rea de normalizao arquivstica, principalmente a partir da ideia de interoperabilidade de sistemas e possibilidade de ligao em rede. A temtica da indexao dos documentos arquivsticos tambm ganhou espao nos ltimos anos (RIBEIRO, 2003). As questes relacionadas com a descrio e a organizao esto na origem mesma da fundao da Biblioteconomia como campo autnomo de conhecimento. A Catalogao, relacionada com a descrio dos aspectos formais dos documentos, teve seus primeiros princpios formulados no sculo XIX. A partir da dcada de 1960, padres internacionais de descrio bibliogrfica foram formulados e envolveram diversos grupos de estudo. Tambm nesta poca surgiram os primeiros modelos de descrio pensando-se na leitura por computador, gerando padres que, anos depois, conformariam o GT1 29
campo conhecido como Metadados. Paralelamente, a rea de Classificao teve incio com a criao dos primeiros sistemas de classificao bibliogrfica gerais e enumerativos, como os de Dewey, Otlet, Bliss e Brown. Na primeira metade do sculo XX, os trabalhos de Ranganathan sobre classificao facetada revolucionaram o campo, propondo formas flexveis e no-hierarquizadas de classificao. Suas teorias tiveram grande impacto na ao do Classification Research Group, fundado em Londres em 1948, que congregou pesquisadores como Foskett, Vickery e Pendleton, empenhados na construo de sistemas facetados para domnios especficos de conhecimento e problematizao dos princpios de classificao (SOUZA, 2007). Nos anos seguintes, diversos campos e setores de pesquisa estabeleceram dilogo ou se apropriaram dos princpios da classificao facetada, tais como os tesauros facetados de Aitchison, os estudos de bases de dados facetados de Neelameghan, a abordagem dos boundary objects de Albrechtsen e Jacob e o mapeamento de sentenas para a evidenciao de facetas por Beghtol. O esprito nacionalista e historiogrfico dos primeiros museus modernos foi decisivo para a configurao de critrios de ordenamento, descrio, classificao e exposio dos acervos (MENDES, 2009). A subrea de Documentao Museolgica surgiu no incio do sculo XX, a partir do trabalho de autores como Wittlin, Taylor e Schnapper (MARN TORRES, 2002). Nas dcadas de 1920 e 1930 houve grandes debates sobre os critrios de classificao adotados nos museus, mas a temtica s se converteu em campo de investigao dcadas depois. Entre as vrias abordagens desenvolvidas, encontram-se aquelas que buscaram problematizar aspectos classificatrios dos museus, como a questo da representao dos gneros, dos diferentes povos do mundo, das diferentes culturas humanas, numa linha marcada pelos cultural studies (PEARCE, 1994). Os aspectos envolvidos no trabalho de ordenamento tambm foram estudados por Bennett numa perspectiva foucaultiana. No campo das aplicaes prticas, Bolaos (2002) apresenta vrios exemplos histricos de inovaes em mtodos de representao, como o historicismo radical de Dorner, os period rooms do Museu do Prado, o enfoque multidisciplinar do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, a postura antiracista do Museu Trocadero e o modelo dinmico do Museu de Etnografia de Neuchtel, merecendo destaque, ainda, a criao de edifcios que em si mesmos constituem peas museolgicas, numa linha inaugurada pelo Museu Guggenheim de Bilbao.
3.5 Abordagens contemporneas: fluxos, mediaes, sistemas Os avanos mais recentes nos campos da Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia tm buscado agregar as vrias contribuies das ltimas dcadas. Novos tipos de instituies, servios e aes executadas no mbito extra-institucional conferiram maior dinamismo aos campos, que passaram a se preocupar mais com os fluxos e a circulao de informao. Buscando superar os modelos voltados apenas para a ao das instituies junto ao pblico, ou para os usos e apropriaes que o pblico faz dos acervos, surgiram modelos voltados para a interao e a mediao, contemplando as aes reciprocamente referenciadas destes atores. Modelos sistmicos tambm apareceram na GT1 30
tentativa de integrar aes, acervos ou servios antes contemplados isoladamente. A prpria ideia de acervo, ou coleo, foi problematizada, na esteira de questionamentos sobre o objeto da Arquivologia, da Biblioteconomia e da Museologia. Somado a tudo isso, desenvolveram-se as tecnologias digitais com um impacto muito mais profundo, reconfigurando tanto o fazer quanto a teorizao destes trs campos. Na Arquivologia, na dcada de 1960, houve uma maior teorizao sobre o objeto do campo (destacando-se o pioneirismo de Tanodi que, em 1961 definiu o objeto como sendo a arquivalia); uma ampliao de seus domnios (como os arquivos administrativos, os arquivos privados e de empresas); e ainda o surgimento de campos novos (os arquivos sonoros, visuais e o uso do microfilme). Tais avanos tiveram como consequncia a criao, na dcada seguinte, do Programa de Gesto dos Documentos e dos Arquivos (RAMP), estrutrurado pelo CIA e pela Unesco, no mbito de seu Programa Geral de Informao (PGI) criado em 1976. Tal programa assegurou a publicao de trabalhos em diferentes reas da Arquivologia, tais como os de Kula (arquivos de imagens em movimento); de Naugler (registros eletrnicos); de Guptil (documento