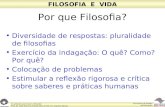I€¦ · Web viewIniciação à Atividade Filosófica. 1. Abordagem introdutória à filosofia e...
-
Upload
dinhnguyet -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of I€¦ · Web viewIniciação à Atividade Filosófica. 1. Abordagem introdutória à filosofia e...
I
Apontamentos para o exame nacional 2007 Filosofia 10/ 11 anos
I. Iniciao Atividade Filosfica
1. Abordagem introdutria filosofia e ao filosofar
1.3. A dimenso discursiva do trabalho filosfico
Define-se por vezes as disciplinas em termos de objeto e mtodo:
O objeto de estudo da aritmtica elementar as principais propriedades da adio, da subtrao, etc. O seu mtodo a demonstrao matemtica.
O objeto de estudo da biologia as propriedades dos organismos vivos. O seu mtodo a observao e a elaborao de teorias que depois so testadas, por vezes em laboratrios.
Objeto e mtodo da filosofia:
A filosofia tem como objeto os conceitos mais bsicos que usamos nas cincias, nas artes, nas religies e no dia a dia. A filosofia estuda conceitos como os seguintes: o bem moral, a arte, o conhecimento, a verdade, a realidade, etc.
O seu mtodo a troca de argumentos, a discusso de ideias.
As definies deste tipo no so muito informativas. Para compreender o que a filosofia o melhor ver alguns exemplos do que se faz em filosofia.
Exemplos de problemas da filosofia:
Ser que tudo relativo?
Ser que a vida tem sentido? E se tem, qual ?
Como se justifica a existncia do Estado, das Leis, e da Polcia?
Ser que no faz diferena fazer sofrer os animais?
Ser que Deus existe realmente, ou ser que os ateus tm razo e os crentes esto enganados?
Estes problemas surgem naturalmente da nossa capacidade para pensar, em contacto com o mundo. Outros problemas surgem da nossa reflexo sobre as cincias, as religies e as artes:
O que realmente a arte? E o que a msica?
Como poderemos conciliar a existncia de um Deus bom e sumamente poderoso e sbio com tanto sofrimento no mundo?
O que realmente uma lei da fsica? E como podemos ter a certeza que essas leis so verdadeiras?
A filosofia uma reflexo que surge naturalmente.
Mas nem toda a reflexo que surge naturalmente filosfica.
As respostas pessoais s perguntas filosficas no so respostas filosficas.
Podemos e devemos partir das nossas convices pessoais.
Mas s comeamos a fazer filosofia quando exigimos justificaes pblicas para essas convices.
Caractersticas importantes da filosofia:
A filosofia uma atividade crtica;
A filosofia consequente;
A filosofia um estudo conceptual ou a priori;
A filosofia diferente da histria da filosofia.
O que significa dizer que a filosofia uma atividade crtica? Significa que temos de justificar as nossas concluses. E justificar concluses apresentar argumentos.
A importncia dos argumentos em filosofia:
Precisamos de argumentos para mostrar que os problemas que estamos a estudar no so meras iluses e confuses. Por exemplo, ser que o problema do sentido da vida faz sentido? Porqu?
Precisamos de argumentos para avaliar as respostas que os filsofos e ns prprios damos aos problemas da filosofia. Por exemplo, ser que a resposta que Plato d ao problema da imortalidade da alma boa?
E precisamos de saber avaliar argumentos porque os filsofos passam grande parte do seu tempo a apresentar argumentos a favor das suas ideias e contra as ideias que eles acham que esto erradas. Por exemplo, ser que o argumento de Santo Anselmo a favor da existncia de Deus bom?
Porque a filosofia uma atividade critica, avalia cuidadosamente os nossos preconceitos mais bsicos.
O objetivo do estudo da filosofia no repetir o que diz o professor ou o manual. O objetivo aprender a pensar sobre os problemas, as teorias e os argumentos da filosofia.
Em filosofia, o estudante tem a liberdade de defender o que quiser, mas tem de adotar uma atitude crtica:
Tem de sustentar o que defende com bons argumentos;
Tem de aceitar discutir os seus argumentos.
Ser crtico no dizer mal. Ser crtico olhar com imparcialidade para todas as ideias para podermos avaliar se so verdadeiras ou no.
Ser crtico no ser extravagante. Ser crtico no dizer No s para marcar a diferena. Ser crtico dizer Sim, No, ou at Talvez, mas com base em bons argumentos.
A filosofia uma atividade dialogante: consiste em trocar e discutir ideias. A diferena entre uma discusso filosfica e uma gritaria, por exemplo, esta: em filosofia discutimos para chegar verdade das coisas, independentemente de saber quem ganha a discusso; numa gritaria discute-se para ganhar a discusso, independentemente de saber de que lado est a verdade.
O pensamento filosfico consequente. Ser consequente aceitar as consequncias das nossas ideias.
Somos livres para defender as posies que queremos; mas teremos de ser responsveis pelas consequncias do que defendemos. Se defendemos que toda a vida sagrada e que isso quer dizer que nunca devemos matar um ser vivo, no podemos ao mesmo tempo defender que se pode comer salada de alface. Se defendemos que tudo relativo e que no h verdades, no podemos defender que esta ideia verdadeira.
Os trs elementos centrais da filosofia:
Problemas
Teorias
Argumentos
Os filsofos, ao longo dos sculos, tm proposto teorias que tentam resolver os problemas filosficos. Essas teorias apoiam-se em argumentos.
O nosso papel perante os problemas, as teorias e os argumentos da filosofia duplo:
1. Saber formul-los claramente.
2. Saber discuti-los com rigor.
Os problemas da filosofia no se resolvem olhando para o mundo para recolher informao. por isso que dizemos que a filosofia um estudo a priori ou conceptual. Queremos dizer que a filosofia se faz unicamente com o pensamento.
Conhecimento emprico ou a posteriori: baseia-se na experincia.
Exemplos: para saber se h vida em Marte necessrio enviar sondas e fazer observaes. Para saber qual a natureza da SIDA necessrio fazer observaes e experincias laboratoriais.
Conhecimento conceptual ou a priori: baseia-se no pensamento apenas.
Exemplos: para saber se 7 um nmero par basta dividi-lo por dois e ver se o resultado um nmero inteiro. Para saber se todos os objetos verdes tm cor basta pensar no conceito de verde e de cor.
O estudo filosfico a priori, mas temos de ter informaes sobre tudo o que for importante para a soluo dos problemas que estamos a tratar.
A filosofia inevitvel porque no mais do que a procura sistemtica de justificaes sensatas para as nossas ideias mais bsicas.
A filosofia ope-se ao dogmatismo porque nenhuma ideia tem o direito de suplantar quaisquer outras ideias, enquanto no mostrar que realmente melhor do que as outras.
A filosofia diferente da sua histria. Em histria da filosofia estudamos o que os filsofos dizem s para saber o que eles dizem. Na filosofia estudamos o que os filsofos dizem para discutir as suas ideias.
Estudar filosofia como estudar msica e estudar histria da filosofia como estudar histria da msica. Num caso, aprendemos a tocar um instrumento ou a compor peas musicais; no outro, aprendemos apenas a apreciar a msica do passado. Num caso, aprendemos a discutir ideias e a propor ideias e a defend-las; no outro, aprendemos apenas a formular as ideias dos outros.
Para que serve a filosofia?
A filosofia serve para alargar a nossa compreenso das coisas, como as cincias, as artes e as religies.
A filosofia serve para mudar as nossas vidas, como as cincias, as artes e as religies.
Exemplos:
John Stuart Mill, A Submisso das Mulheres (1869)
Peter Singer, Libertao Animal (1975).
Comparaes de utilidade:
A religio til porque fornece orientao e conforto espiritual aos seus crentes. A filosofia fornece orientao a qualquer pessoa.
A cincia til porque nos ensina a curar a tuberculose, por exemplo. A filosofia ensina-nos a enfrentar os problemas morais levantados pela cincia.
As artes so teis porque produzem obras que nos inspiram e maravilham. A filosofia produz ideias e argumentos que nos inspiram e maravilham, e pe a descoberto problemas que nos convidam a dar o nosso melhor para tentar resolv-los.
As razes pelas quais a filosofia serve para alguma coisa so a razes pelas quais as artes, as cincias e as religies servem para alguma coisa.
Muitos dos problemas, teorias e argumentos da filosofia no tm qualquer utilidade prtica.
Mas tambm a maior parte do que constitui as religies, as artes e as cincias no tem qualquer utilidade prtica.
E as coisas sem utilidade prtica podem ter valor porque o conhecimento algo suficientemente importante para ter valor em si.
Mesmo que s as coisas teis tivessem valor, nunca poderamos saber partida quais das nossas ideias se viriam a revelar teis.
A filosofia til para a vida pblica de um pas porque nos ensina a pensar melhor sobre qualquer assunto, desde que se disponha da informao adequada.
Quem sabe argumentar bem toma melhores decises, porque as decises que tomamos so baseadas em argumentos. A filosofia ajuda a tomar melhores decises.
Os argumentos
Um argumento um conjunto de proposies organizadas de tal modo que uma delas a concluso que defendemos com base na outra ou nas outras, a que se chamam as premissas.
Nem todos os conjuntos de proposies so argumentos. S os conjuntos de proposies organizadas de tal modo que justifiquem ou defendam a concluso apresentada so argumentos.
Chama-se entimema a um argumento em que uma ou mais premissas no foram explicitamente apresentadas. Tentar encontrar as premissas ocultas do nosso pensamento uma parte importante da discusso filosfica.
Perante um texto que defende ideias devemos fazer o seguinte:
1. Descobrir o que o autor quer defender. Isso a concluso.
2. Descobrir que razes ele d para defender essa concluso. Essas razes so as premissas.
3. Se o autor omitiu premissas, acrescent-las.
4. Formular o argumento de maneira completamente explcita.
Definio dos conceitos nucleares
Problema: algo que se pretende resolver;
Conceito: uma abstrao elaborada pela razo, a partir dos dados obtidos na experincia, e que serve para designar toda uma classe de objetos ou seres;
Tese: uma proposio que se apresenta para ser defendida, no caso de impugnao. Tema, assunto a tratar;
Argumento: um conjunto de proposies organizadas de tal modo que uma delas a concluso que defendemos com base na outra ou nas outras, a que se chamam premissas.
As disciplinas da Filosofia e os problemas de que tratam
II. A ao humana e os valores
1. A ao humana anlise e compreenso do agir
1.1. A rede conceptual da ao
A Filosofia da Ao uma rea interdisciplinar que colhe contributos da Metafsica, da Filosofia da Mente, da Psicologia e da moderna Teoria da Deciso.
O objeto de estudo da Filosofia da Ao a justificao da crena na racionalidade da ao humana.
Distingue-se da tica por no considerar os aspetos morais do agir, analisando apenas o que est na base da ao crenas, desejos, intenes, motivos e causas.
O seu mtodo consiste na anlise das frases de ao, mediante as quais os agentes descrevem e explicam o que fazem:
Por que fizeste X? - Fiz X porque __________
O problema central da Filosofia da Ao o de saber:
Como compatibilizar a crena de que somos seres racionais com o facto de agirmos frequentemente de forma irracional?
Exemplos de problemas discutidos em Filosofia da Ao:
1. O que so aes? Que acontecimentos contam enquanto aes?
2. Como individuar ou distinguir as aes umas das outras?
3. Como explicar a existncia de preferncias irracionais?
4. Como compreender o fenmeno da acrasia?
Para compreender o que est em causa quando perguntamos O que uma ao?, analisemos o seguinte exemplo:
1. Joo deseja herdar uma fortuna e cr que o melhor a fazer para satisfazer o seu desejo matar o seu pai abastado. Mas este pensamento pe-no to nervoso que, ao conduzir desajeitadamente o seu carro, mata um peo que , afinal, o seu pai! Cometeu ou no um parricdio?
A atribuio da responsabilidade depende de determinarmos se a morte de seu pai constitui, ou no, uma ao de Joo.
Temos, ento, de procurar qual o aspeto que nos permite dizer que um acontecimento uma ao.
Ser a sua associao a um ser humano? Mas h acontecimentos que envolvem pessoas, mas que claramente no so aes por exemplo, escorregar.
Ser a existncia de movimentos corporais? Mas h aes sem movimento corporal (estar imvel a estudar) e h movimentos corporais que no so aes (respirar).
Uma outra resposta a este problema afirmaria que a inteno aquilo que distingue os acontecimentos que contam como aes:
Um acontecimento uma ao apenas no caso de ser possvel descrev-lo de forma a exibir a presena de uma inteno no agente.
O que uma inteno? um estado mental mediante o qual se concretiza, se anula ou se mantm um certo estado de coisas.
Os desejos e as crenas, e o seu discutido papel causal nas aes, so exemplos de estados mentais intencionais.
No exemplo 1, existe claramente um desejo (herdar uma fortuna) e uma crena, e parece que custa deles Joo concretiza um acontecimento a morte de seu pai. Tudo aponta, pois, que se trate de uma ao de Joo. Concordas?
Para compreender o que est em causa quando perguntamos Como distinguir as aes umas das outras?, analisemos o seguinte exemplo:
2. Os membros de uma famlia esto sentados mesa a comer uma feijoada. Esto todos a fazer a mesma ao ou aes diferentes?
Por um lado, podemos dizer que todos os familiares esto a comer a mesma coisa, no mesmo local e mesma hora;
Por outro lado, cada pessoa poder possuir intenes diferentes ao comer (apenas matar a fome, regozijar-se com o sabor dos feijes, etc.) e os seus movimentos fsicos no so inteiramente coincidentes nem no espao nem no tempo.
Existem, ento, duas respostas possveis para aquela pergunta:
1. Diremos sim se considerarmos a ao comer uma feijoada como sendo um ato genrico definido como ingesto de feijes.
2. Diremos no se considerarmos a ao comer uma feijoada como algo realizado concretamente por algum, nalgum lugar, a alguma hora e com movimentos fsicos individualizados.
Cada uma destas respostas traduz duas concees filosficas diferentes da ao:
1. A ao como uma entidade genrica e abstrata; para os filsofos que, como Jaegwon Kim, a concebem deste modo, uma ao algo meramente ideal (tal como a ideia de Tringulo) e que pode ser exemplificado cada vez que um agente a perfaz (tal como exemplificamos a ideia de Tringulo ao desenharmos uma figura triangular);
2. A ao como acontecimento concreto; para filsofos que, como Donald Davidson, a concebem deste modo, as aes so acontecimentos localizados no espao e no tempo (tm lugar num certo stio e a uma dada hora) e so individualmente realizados
(feitas por algum);
Qual destas concees consideras correta? Porqu?
Para compreender o que est em causa quando perguntamos Como explicar a existncia de preferncias irracionais?, analisemos o seguinte exemplo:
3. Uma pessoa afirma que prefere os Limp Bizkit a Norah Jones e esta cantora a Bach. No entanto, diz preferir Bach aos Limp Bizkit. Como explicar esta irracionalidade das suas preferncias?
Dizemos que as suas preferncias so irracionais porque so no transitivas.
O que a transitividade? uma propriedade de relaes: se uma entidade X tem uma certa relao com uma entidade Y e se esta entidade Y tem o mesmo tipo de relao com uma entidade Z, ento a entidade X est nesse tipo de relao com a entidade Z. Exemplos:
1. O Z mais alto do que o Chico; o Chico mais alto do que o Quim. Logo, o Z mais alto do que o Quim. A relao ser mais alto do que transitiva.
2. O Guilherme o pai do Pedro; o Pedro o pai da Joana. Mas o Guilherme no o pai da Joana! A relao ser pai de no transitiva.
Ora, as aes so objeto de preferncias e as nossas preferncias, se forem racionais, devero ser transitivas:
Se preferes comer feijoada a comer filetes de pescada
e se preferes comer filetes de pescada a comer Nestum,
o que ser racional que prefiras feijoada ou Nestum?
legtimo pensar que qualquer comportamento racional ter de se conformar transitividade das preferncias. Mas os estudos empricos da Psicologia mostram que isto nem sempre acontece, o que intriga muito os filsofos.
Como explicar a irracionalidade das preferncias?
Chama-se acrasia a uma falta de fora de vontade. Um agente tem falta de fora de vontade se tiver o desejo de produzir um certo efeito e tiver a crena de que uma dada ao a melhor forma de produzir esse efeito e, no entanto, no realizar esta ao.
Para compreender o que est em causa quando perguntamos Como compreender o fenmeno da acrasia?, analisemos o seguinte exemplo:
Se desejas verdadeiramente respeitar os direitos dos animais e se acreditas que a melhor maneira de o fazer deixando de comer carne, peixe, leite ou ovos, como compreender que o continues a comer tudo isto?
Aristteles refletiu sobre a acrasia e pensou que a explicao das aes acrticas s poderia ser feita se dispusesse de um modelo de explicao de aes racionais. Esse modelo explicativo ficou conhecido como silogismo prtico:
1. O agente tem o desejo de produzir um efeito E.
2. O agente cr que fazer a ao A o melhor modo de alcanar E.
3. Logo, o agente faz A
Neste modelo as premissas 1 e 2 so a justificao racional da ao enunciada na concluso, em 3. Se os agentes forem racionais, devero poder explicar as suas aes com base nos seus desejos e crenas, com os quais as aes devem ser coerentes.
Numa ao acrtica, isto no acontece. Vejamos o exemplo do fumar como resultado de fraqueza irracional da vontade:
1. O Antnio tem o desejo de ser saudvel.
2. O Antnio acredita que no fumar a melhor maneira de ser saudvel.
3. No entanto, o Antnio fuma.
Assim conclumos que para falar de ao, implica falar de um agente, uma inteno e uma motivao.
Sendo resumido neste quadro:
Inteno
Motivo
Agente
o mesmo que projeto, isto , aquilo que nos propomos fazer ou o propsito da ao (implica a tomada de conscincia do sentido dos nossos atos);
o sentido da ao, isto , o significado atribudo a uma ao, identificado atravs da resposta pergunta o qu?;
o objeto da deciso e a estratgia escolhida para o concretizar.
identifica aquilo que explica e permite compreender a inteno, isto , as suas razes;
refere-se ao porqu da inteno, ou seja, o que que levou A a fazer X;
distingue-se do conceito de causa, porque ao identificarmos os motivos no podemos considerar que existe sempre entre eles e a inteno uma relao necessria; h que ter em conta a interveno da vontade. A causa faria ocorrer a ao independentemente da vontade do agente.
o autor da inteno e da ao ,isto , o que pratica a ao;
identifica aquele que, por sua iniciativa (livre e voluntariamente), produz alteraes no decorrer normal das coisas;
por ser o autor, isto , aquele que pratica uma ao intencionalmente, aquele a quem se atribui a responsabilidade da ao, isto , aquele que responde por ela.
Definio dos conceitos nucleares
Ao: uma interferncia consciente e voluntria de um ser humano (o agente), dotado de razo e de vontade, no normal decurso das coisas, que sem a sua inferncia seguiriam um caminho distinto;
Agente: o ser humano que realiza consciente e voluntariamente uma ao;
Inteno: o para qu, isto , o propsito que o agente quer atingir;
Motivo: a razo pela qual ele age.
II.A ao humana e os valores
1. A ao humana anlise e compreenso do agir
1.2. Determinismo e liberdade na ao humana
A liberdade de ao um importante tpico discutido em Filosofia. Na tradio ocidental moral, religiosa e jurdica, conceitos como os de responsabilidade, culpa e imputabilidade esto vinculados ao de liberdade.
Nessa tradio, um agente responsabilizvel por uma ao apenas no caso de ter sido livre para agir como agiu. Por exemplo, um indivduo culpado aos olhos de Deus se tiver pecado quando podia no o ter feito; um criminoso imputvel aos olhos da Justia se tiver cometido um crime quando podia evit-lo.
Mas se algum forado a agir de uma certa forma, ser legtimo responsabiliz-lo pela sua ao?
Que foras condicionam as nossas aes? Podemos reconhecer trs tipos de condicionantes da ao:
1. Fsicas: as aes dependem da estrutura anatmica e fisiolgica do agente e das leis naturais que regem os fenmenos do mundo;
2. Psicolgicas: a personalidade, o carter, a fora de vontade ou a falta dela, os estmulos e as motivaes so aspetos que influenciam o tipo de aes que empreendemos;
3. Culturais: as vivncias, as normas, as tradies, os hbitos e costumes, e todas as circunstncias polticas, econmicas e sociais que, enquanto agentes, nos relacionam com outros agentes, condicionam claramente as nossas aes.
Ser que as condicionantes da ao impossibilitam a liberdade de ao? Seremos realmente livres ou a ser a liberdade apenas uma iluso?
Para compreendermos o significado desta pergunta, teremos de dominar uma noo essencial a de causalidade.
Uma cadeia causal uma sucesso de acontecimentos na qual cada um deles causa do acontecimento que lhe sucede e cada um deles efeito do acontecimento que o antecede:
Uma conceo determinista da ao salienta que as aes so acontecimentos que tm lugar no mundo e que, portanto, esto integradas em cadeias causais: ora so efeitos de acontecimentos anteriores (mentais ou fsicos); ora so causas de acontecimentos posteriores.
Por outro lado, pensamos que devemos responder por muitos dos nossos atos, de que somos responsveis em consequncia da nossa liberdade. Esta uma viso no determinista da ao.
Isto gera um dilema, conhecido como dilema de Hume:
Se o determinismo for verdadeiro, ento as nossas aes so causadas por acontecimentos remotos que no controlamos, tornando-se inevitveis, no sendo ns responsabilizveis pelo que fazemos; se o determinismo for falso, ento as nossas aes so aleatrias, pelo que tambm no somos responsabilizveis por elas.
Concluso: em qualquer caso, no h livre arbtrio nem responsabilidade.
O problema do livre arbtrio pode agora ser precisamente formulado:
Como compatibilizar a crena de que todos os acontecimentos, incluindo as aes, so causalmente determinados, segundo as leis da natureza, com a crena de que o Homem livre e responsvel pelas aes?
As respostas tradicionais ao problema do livre-arbtrio podem ser divididas em teorias compatibilistas e teorias incompatibilistas.
As primeiras defendem que o livre-arbtrio compatvel com o determinismo; as segundas defendem que o livre-arbtrio no compatvel com o determinismo.
Teorias que respondem ao problema do livre-arbtrio:
Exemplo do problema do livre-arbtrio
O problema do livre-arbtrio, um dos mais antigos e intratveis da filosofia, comea com uma certa inadequao terminolgica. A expresso portuguesa "livre-arbtrio", assim como a expresso "liberdade da vontade", que traduo do ingls "freedom of the will", so enganosas, pois nem o juzo nem a vontade so os fatores preponderantes. Menos comprometida seria a expresso "liberdade de deciso" ou "liberdade de escolha" ou, melhor ainda (posto que mais abrangente), "liberdade de ao".
Feita essa advertncia terminolgica, passemos exposio do problema. Ele diz respeito ao conflito existente entre a liberdade que temos ao agir e o determinismo causal. Podemos introduzi-lo considerando as trs proposies seguintes:
1. Todo o evento causado.2. As nossas aes so livres.3. Aes livres no so causadas.
A proposio 1 parece geralmente verdadeira: cremos que no mundo em que vivemos para todo evento deve haver uma causa. A proposio 2 tambm parece verdadeira: quando nos observamos a ns mesmos, parece bvio que as nossas decises e aes so frequentemente livres. Tambm a proposio 3 parece verdadeira: se as nossas aes fossem causalmente determinadas, elas no poderiam ser livres.
O problema do livre-arbtrio surge quando percebemos que as trs proposies acima formam um conjunto inconsistente, ou seja: no possvel que todas elas sejam verdadeiras! Se admitimos que todo evento causado e que a ao livre no causalmente determinada (que as proposies 1 e 3 so verdadeiras), ento no somos livres, posto que as nossas aes so eventos (a proposio 2 falsa). Se admitimos que as nossas aes so livres e que como tais elas no so causalmente determinadas (que 2 e 3 so proposies verdadeiras), ento no verdade que todo o evento seja causado (a proposio 1 fa1sa). E se admitimos que todo o evento causado e que somos livres (que as proposies 1 e 2 so verdadeiras), ento deve haver a1go de errado com a ideia de liberdade expressa na proposio 3.
Cada uma dessas alternativas possui um nome e foi classicamente defendida. A primeira delas chamada de determinismo; ela consiste em negar a verdade da proposio 2, ou seja, que somos realmente livres. Ela foi mantida por filsofos como Espinosa, Schopenhauer e Henri d'Holbach. A segunda alternativa chama-se libertismo: ela no tem problemas em admitir que o mundo ao nosso redor causalmente determinado, mas abre uma exceo para muitas de nossas decises e aes, que sendo livres escapam determinao causal. Com isso o libertismo rejeita a validade universal do determinismo expressa pela proposio 1. Essa a posio de Agostinho, Kant e Fichte. Finalmente h o compatibilismo, que tenta mostrar que a liberdade de ao perfeitamente compatvel com o determinismo, rejeitando a ideia de liberdade expressa na proposio 3. Historicamente, Hobbes, Hume e Mill foram famosos defensores do compatibilismo. No que se segue, quero considerar isoladamente cada uma dessas solues, argumentando finalmente a favor do compatibilismo.
1. Determinismo
O determinismo parte da considerao de que, da mesma forma que podemos sempre encontrar causas para os eventos fsicos que nos cercam, podemos sempre encontrar causas para as nossas aes, sejam elas quais forem. Com efeito, sendo como somos produtos de um processo de evoluo natural, seria surpreendente se as nossas aes no fossem causadas do mesmo modo que o so outros eventos biolgicos, tais como a migrao dos pssaros e o fototropismo das plantas. Mesmo que o princpio da causalidade no seja garantido e que no mundo da microfsica ele tenha sido inclusive colocado em dvida, no mundo humano, constitudo pelas nossas aes, pensamentos, decises, vontades, esse princpio parece manter-se plenamente aceitvel. De facto, admitimos que as decises ou aes humanas so causadas. Alguns podero dizer que Napoleo invadiu a Rssia por livre deciso da sua vontade. Mas os historiadores consideram parte do seu ofcio encontrar as causas, procurando esclarecer as motivaes e circunstncias que o induziram a tomar essa funesta deciso. Na determinao das nossas aes, as causas imediatas podem ser externas (algum decide parar o carro diante de um sinal vermelho) ou internas (algum resolve tomar um refrigerante), sendo geralmente mltiplas e por vezes muito difceis de serem rastreadas. No entanto, teorias biolgicas e psicolgicas (especialmente. a psicanlise) sugerem que as nossas aes so sempre causadas; "Fiz isso sem nenhuma razo" raramente aceite como desculpa.
Com base em consideraes como essas, a concluso do filsofo determinista a de que o livre-arbtrio na verdade no existe, posto que se a ao fosse realmente livre ela no seria determinada por outros fatores independentes dela mesma. A liberdade que parecemos ter ao tomarmos as nossas decises pura iluso, produzida por uma insuficiente conscincia das suas causas. Mesmo quando pensamos que poderamos ter agido de outro modo, o que queremos dizer no que ramos realmente livres para agir de outro modo, mas simplesmente que teramos agido de outro modo se o sentimento mais forte tivesse sido outro, se soubssemos aquilo que agora sabemos etc. O argumento a favor do determinismo pode ser assim esquematizado:
1. Todo o evento causado.2. As aes humanas so eventos.3. Portanto, todas as aes humanas so causadas.4. As aes humanas s so livres quando no so causadas.5. Portanto, as aes humanas no so livres.
A posio determinista encontra, porm, dificuldades. No s o sentimento de que somos livres que perde a validade. Tambm o sentimento de arrependimento ou remorso parece perder o sentido, pois como se justifica que ns possamos arrepender-nos das nossas aes, se no fomos livres para escolh-las? Tambm a responsabilidade moral perde a validade. Se nas nossas aes somos to determinados como uma pedra que cai ao ser solta no ar, faz to pouco sentido responsabilizar uma pessoa pelos seus atos quanto faz sentido responsabilizar a pedra por ter cado. Tais dificuldades levam-nos a considerar a posio oposta.
2. Libertismo
O libertista rejeita o determinismo por considerar as concluses acima inaceitveis. Ele tambm rejeita a primeira premissa do argumento determinista. O princpio da causalidade, enuncivel como "Todo o evento tem uma causa", no parece ter a sua validade universal garantida. Certamente, esse princpio extremamente til, valendo em geral para o mundo que nos circunda e mesmo para muitas de nossas aes. Mas nada nele garante que a sua validade seja universal. No podemos pensar que A = ~A ou que 1 + 1 = 3, mas podemos perfeitamente conceber um evento no universo surgindo sem nenhuma causa. A isso o libertarista poder adicionar que ns simplesmente sabemos que somos livres. H uma grande diferena entre um comportamento reflexo e um comportamento resultante da deciso da vontade. Ns sentimos que no ltimo caso somos livres, que podemos decidir sempre de outro modo.
Para justificar essa posio, o libertista costuma lanar mo de uma teoria da ao, tal como foi defendida por Richard Taylor ou por Roderick Chisholm. Segundo essa teoria s vezes, ao menos, o agente causa os seus atos sem qualquer mudana essencial em si mesmo, no necessitando de condies antecedentes que sejam suficientes para justificar a ao. Isso acontece porque o eu uma entidade peculiar, capaz de iniciar uma ao sem ser causado por condies antecedentes suficientes! Voc poder perguntar-se como isso possvel. A resposta geralmente oferecida que no pode haver explicao. Para responder a uma pergunta como essa teramos de interrogar o prprio eu, considerando-o objetivamente. Mas, como quem deve considerar objetivamente o eu s pode ser aqui o prprio eu, isso impossvel. Tentar interrogar o prprio eu tentar, como o baro de Mnchausen, alar-se sobre si mesmo pondo os ps sobre a prpria cabea. O eu da teoria da ao um eu esquivo [...]. Ele um eu autodeterminador, capaz de iniciar aes sem ser causado. Somos, quando agimos, semelhantes ao deus aristotlico: somos causas no causadas, motores imveis. O argumento que conduz teoria da ao tem a forma:
1. No certo que todo o evento causado.2. Sabemos que as nossas aes so frequentemente livres.3. As aes humanas livres no podem ser causadas.4. Portanto, a ao humana no precisa de ser causada.
Embora essa soluo preserve a noo de livre agncia, ela tem o inconveniente de explicar o obscuro pelo que mais obscuro ainda, que um mistrio a ser aceite sem questionamento. A pergunta que permanece se no h uma soluo mais satisfatria. A soluo que veremos a seguir, o compatibilismo, hoje a mais aceite, sendo uma maneira de tentar preservar as vantagens das outras duas sem as correspondentes desvantagens.
3. Compatibilismo: definies
Segundo o compatibilismo, tambm chamado de determinismo moderado ou reconciliatrio, ns permanecemos livres e responsveis, mesmo sendo causalmente determinados nas nossas aes. O raciocnio que conduz ao compatibilismo tem a forma:
1. Todo o evento causado.2. As aes humanas so eventos.3. Portanto, todas as aes humanas so causadas.4. Sabemos que as nossas aes so s vezes livres.5. Portanto, as aes livres so causadas.
Um bom exemplo de argumento em defesa do compatibilismo o de Walter Stace, para quem ns confundimos o significado da noo de liberdade na sua conexo com o determinismo. Segundo Stace, o determinista acredita que a liberdade da vontade o mesmo que a capacidade de produzir aes sem que elas sejam determinadas por causas. Mas isso falso. Se assim fosse, uma pessoa que se comportasse arbitrariamente, mesmo que contra a sua prpria vontade, seria um exemplo de pessoa livre. Mas o comportamento arbitrrio no visto como um comportamento livre. A diferena entre a vontade livre e a vontade no-livre no deve residir, pois, no facto de a segunda ser causalmente determinada e a primeira no. Alm disso, tanto no caso de aes livres como no caso de aes no-livres, ns costumamos encontrar determinaes causais, como mostram os seguintes exemplos, os trs primeiros tomados do texto de Stace:
A. Atos livres
B. Atos no-livres
1. Gandi passa fome porque quer libertar a ndia.
Um homem passa fome num deserto porque no h comida.
2. Uma pessoa rouba um po porque est com fome.
Uma pessoa rouba porque o seu patro a obrigou.
3. Uma pessoa assina uma confisso porque quer dizer a verdade.
Uma pessoa assina uma confisso porque foi submetida a tortura.
4. Uma pessoa decide abrir uma garrafa de champanhe porque quer brindar ao Ano Novo.
Uma pessoa toma uma dose de aguardente, mesmo contra a sua vontade, porque alcolica.
Note-se que a palavra "porque", que denota causalidade, comum a ambas as colunas. Assim, a coluna A no difere da coluna B pelo facto de no podermos encontrar causas das aes, decises e volies dos agentes. E s causas apresentadas podemos adicionar ainda outras, como razes psicolgicas e biogrficas de Gandi, o costume de brindar ao Ano Novo abrindo uma garrafa de champanhe etc. Mesmo nos casos de decises arbitrrias (como quando algum decide lanar uma moeda no ar para que a sorte decida o que deve fazer), a deciso de escolher arbitrariamente tambm possui alguma causa.
A diferena notada por Stace entre as aes livres da coluna A e as no-livres da coluna B que as primeiras so voluntrias, enquanto as segundas no. Da que ele defina a diferena entre a vontade livre e no-livre como residindo no facto de que as aes derivadas da vontade livre so voluntrias, enquanto as aes derivadas da vontade no-livre so involuntrias, no sentido de se oporem nossa vontade ou de serem independentes dela. Se Gandi passa fome para libertar a ndia, se algum rouba um po por estar com fome, essas so aes livres, posto que voluntrias; mas se uma pessoa assina uma confisso sob tortura ou toma uma dose de aguardente contra a sua vontade, essas so aes que se opem vontade dos agentes, por isso mesmo no so livres.
Embora a explicao de Stace seja geralmente bem-sucedida, ela no se aplica satisfatoriamente a alguns casos. Considere os seguintes:
A. Atos livres
B. Atos no-livres
5. Uma pessoa abre a janela porque faz calor.
Uma pessoa abre a janela por efeito de sugesto ps-hipntica.
6. Um membro de uma equipa de cinema explode uma bomba para efeitos de filmagem.
Um psicopata explode uma bomba porque ouve vozes que o convenceram a realizar essa ao.
No exemplo B-5 a pessoa abre a janela porque o hipnotizador lhe disse que meia hora aps ser acordada da hipnose deveria abrir a janela, sem se lembrar de que faz isso por deciso do hipnotizador (curiosamente, se interrogada, a pessoa submetida a esse tipo de experincia costuma fornecer uma razo qualquer, como a de que est sentindo calor). Nesse caso a pessoa realiza a ao voluntariamente, pensando que o faz por livre e espontnea vontade, embora na verdade o faa seguindo a instruo de quem a hipnotizou. No exemplo B-6, o psicopata tambm age voluntariamente, e o mesmo poderamos dizer de casos de fanticos, de neurticos e, em geral, de pessoas presas a valores e padres de conduta excessivamente rgidos, que sofrem por isso limitaes na capacidade de livre deliberao, apesar de agirem voluntariamente. A ao livre deve aproximar-se de um ideal de racionalidade plena, o que aqui est longe de ser o caso.
Na minha opinio a diferena mais importante entre os casos apresentados, nas colunas A e B que em B, em que a ao no livre, o agente age sob restrio, coero ou limitao externa (exemplos 1, 2, 3 e 5) ou interna (exemplos 4 e 6), enquanto nos casos da coluna A, em que a ao livre, o agente age motivado por razes no-limitadoras ou "plenas". difcil explicar o que sejam razes no-limitadoras, mas a ideia intuitiva: considere a diferena entre as razes de Gandi e as razes de quem age por sugesto ps-hipntica, por fora de um delrio psictico ou de uma crena fantica; mesmo no-admiradores de Gandi admitiriam que as suas razes so comparativamente menos limitadoras, menos restritivas, mais legtimas. Admitindo essa distino de grau entre razes limitadoras e no-limitadoras, chegamos a uma definio inerentemente negativa da ao livre, que mais abrangente do que a de Stace:
A ao livre aquela em que o agente no restringido fisicamente, nem coagido na sua vontade, nem limitado na sua racionalidade ao realiz-la.
Livre-arbtrio versus determinismo
O problema do livre-arbtrio versus determinismo surge devido a uma aparente contradio entre duas ideias plausveis. A primeira a ideia de que os seres humanos tm liberdade para fazer ou no fazer o que queiram (obviamente, dentro de certos limites ningum acredita que possamos voar apenas por querermos faz-lo). Esta a ideia de que os seres humanos tm vontade livre ou livre-arbtrio. A segunda a ideia (...) de que tudo o que acontece neste universo causado, ou determinado, por acontecimentos ou circunstncias anteriores. Diz-se de aqueles que aceitam esta ideia que acreditam no princpio do determinismo e chama-se-lhes deterministas. (De aqueles que negam esta segunda ideia diz-se que so indeterministas.)
Pensa-se frequentemente que estas duas ideias conflituam porque parece que no podemos ter livre-arbtrio as nossas escolhas no podem ser livres se so determinadas por acontecimentos ou circunstncias anteriores.
Definio dos conceitos nucleares
Determinismo: princpio segundo o qual todo o fenmeno rigorosamente determinado por aqueles que o precederam ou acompanham, (leis da natureza: fsicas e biolgicas) ou (plano sobrenatural: vontade de Deus, fora do destino) sendo a sua ocorrncia necessria e no dependente da vontade do agente;
Liberdade: ter a possibilidade de escolher e de decidir o que fazer de ns prprios, que tipo de pessoa nos propomos construir tendo em conta todos os fatores e condicionalismos circunstanciais que o contexto vivencial nos proporciona e que so simultaneamente limitaes e desafios;
Liberdade humana: capacidade de autodeterminao, ou seja, a possibilidade e a necessidade de sermos ns a orientar a nossa ao e, desse modo, a definir e a moldar a nossa personalidade, tendo em conta as condicionantes da ao;
Causalidade: acontecimento que sucede cadeia causal;
Finalidade: acontecimento que antecede cadeia causal.
II.A ao humana e os valores
2. Os valores Analise e compreenso da experincia valorativa
2.1. Valores e valorao a questo dos critrios valorativos
Os valores so qualidades que se atribuem aos objetos. Estes orientam a nossa ao, isto , a nossa ao determinada pelos valores; pelo que considerado justo/injusto; correto/incorreto pelo sujeito.
Os valores no existem efetivamente nos objetos, ou seja, no so caractersticas dos objetos. Orientam as nossas aes; agimos em funo daquilo que gostamos e achamos correto.
Caractersticas dos valores
Os valores so:
Subjetivos quando dependem do sujeito, isto , dois sujeitos perante um objeto podem ter opinies diferentes acerca do mesmo. (Ex.: uma pessoa pode achar o objeto bonito e outra feio).
No so coisas nem caractersticas sensveis dessas mesmas coisas
So hierarquizveis no tm todos a mesma importncia, cada sujeito tem a sua prpria hierarquia.
Existem em plos opostos existem valores positivos e valores negativos. (Ex.: beleza fealdade).
Valor-fim e valores-meio:
Valor-fim so aqueles que valem por si mesmo (encontram-se no topo da hierarquia);
Valores-meio so aqueles que nos permitem alcanar o valor-fim.
Valores espirituais e valores materiais produzem prazer sensvel
Valores ticos/morais
Valores religiosos produzem prazer espiritual
Valores estticos
So relativos variam de poca para poca; de cultura para cultura, no quer dizer que uns sejam mais corretos que outros.
So perenes no morrem, apesar da sua subjetividade e da sua relatividade estes continuaro a determinar a viso que o homem tem do mundo e as suas aes.
Critrio Valorativo: Juzos e Factos
Facto o aspeto da realidade, aspeto esse que pode ser descrito de uma forma objetiva. Quando queremos descrever objetivamente um facto, elaboramos os juzos de facto.
Juzo enunciado onde se afirma ou nega uma coisa de outra coisa.
Os Juzos de facto so proposies onde se descrevem objetivamente os aspetos da realidade (factos). Descrevem a realidade tal como ela , fornecendo assim informao sobre o mundo. So objetivos pois no dependem da perspetiva do sujeito que os enuncia, dependendo exclusivamente do objeto ou do facto.
Pelo facto de eles serem objetivos possuem valor de verdade. Quando o contedo do juzo corresponde verdadeiramente aos factos, verdadeiro; quando, pelo contrrio, no corresponde, falso.
Os juzos de facto so os nicos que aparecem nas cincias (Ex.: leis cientficas)
Estes so descritivos, descrevendo certos aspetos da realidade.
Os Juzos de valor servem para expressar/traduzir/mostrar a avaliao, positiva ou negativa, que cada um de ns faz da realidade.
Contrariamente aos juzos de facto que so objetivos, os juzos de valor so subjetivos, porque dependem exclusivamente da avaliao que cada sujeito faz da realidade.
Ao fazer a sua avaliao, o sujeito pretende influenciar os outros, levando-os a fazer o mesmo tipo de avaliao de um acontecimento sendo, por isso, parcialmente, normativos.
Assim temos:
Exemplos:
Os juzos morais so os juzos de valor mais discutidos pelos filsofos.
Estas so duas questes importantes sobre a natureza desses juzos:
1. Os juzos morais tm valor de verdade?
2. Se tm valor de verdade, so verdadeiros ou falsos independentemente da perspetiva de quaisquer sujeitos?
As teorias objetivistas respondem afirmativamente a ambas as questes.
Vamos examinar apenas teorias que no so objetivistas.
Subjetivismo
Subjetivismo: Os juzos morais tm valor de verdade, mas o seu valor de verdade depende da perspetiva do sujeito que faz o juzo.
Existem factos morais, mas estes so subjetivos, pois s dizem respeito s atitudes de aprovao ou reprovao das pessoas.
Duas razes para ser subjetivista:
Se as distines entre o certo e o errado no forem fruto dos sentimentos de cada pessoa, ento sero imposies exteriores que limitam as possibilidades de ao de cada indivduo. O subjetivismo preserva a liberdade individual.
Quando percebemos que as distines entre o certo e o errado dependem dos sentimentos de cada pessoa e que os sentimentos de uma no so melhores nem piores que os de outra, tornamo-nos mais capazes de aceitar as aes contrrias s nossas preferncias.
O subjetivismo promove a tolerncia entre indivduos.
Objees ao subjetivismo:
O subjetivismo permite que qualquer juzo moral seja verdadeiro.
Por exemplo, se uma pessoa pensa que devemos torturar inocentes, ento para essa pessoa verdade que devemos torturar inocentes.
O subjetivismo compromete-nos com uma educao moral que consiste apenas em ensinar que devemos agir de acordo com os nossos sentimentos.
O subjetivismo tira todo o sentido ao debate moral. Torna absurdo qualquer esforo racional para encontrar os melhores princpios ticos e fundament-los perante os outros.
Para aprofundar esta ltima objeo, vejamos como o subjetivista entende os casos de desacordo moral:
Se a traduo do subjetivista correta, ento no h qualquer desacordo genuno entre o Joo e a Maria. Mas h um desacordo genuno entre o Joo e a Maria. Logo, a traduo do subjetivista no correta. (Portanto, o subjetivismo falso.)
Emotivismo
Emotivismo: Os juzos morais so apenas frases em que as pessoas exprimem os seus sentimentos de aprovao ou reprovao ou tentam suscitar esses mesmos sentimentos nos outros.
Os juzos morais no tm valor de verdade. No so proposies.
Vantagens do emotivismo sobre o subjetivismo:
No implica que qualquer juzo moral pode ser verdadeiro.
Proporciona um modelo mais aceitvel da educao moral: esta pode ser vista como a tentativa de influenciar os sentimentos das crianas de vrias maneiras.
No implica que no h desacordos genunos e, portanto, no exclui totalmente a possibilidade do debate moral.
Duas objees emotivismo:
Os juzos morais nem sempre esto de acordo com os nossos sentimentos de aprovao ou reprovao.
Os juzos morais nem sempre exprimem emoes.
Definio dos conceitos nucleares
Valor: no uma propriedade dos objetos em si, mas uma propriedade adquirida por esse objetos graas sua relao dom o Homem como ser social, embora os objetos, para poderem valer, tenham de possuir realmente certas propriedades objetivas.
Juzo de facto: so juzos que descrevem a realidade, sendo por isso considerados objetivos, verificveis e suscetveis de serem considerados verdadeiros ou falsos.
Juzo de valor: Expressam uma apreciao de algum a respeito de algo, traduzindo uma opo de natureza emotiva e afetiva; so subjetivos, discutveis e relativos.
II.A ao humana e os valores
2. Os valores Analise e compreenso da experincia valorativa
2.2. Valores e cultura a diversidade e o dialogo de culturas
Relativismo moral
Relativismo moral: Os juzos morais tm valor de verdade, ou seja, so verdadeiros ou falsos. Por isso, existem factos morais.
A verdade ou falsidade dos juzos morais sempre relativa a uma determinada sociedade.
Um juzo moral verdadeiro numa sociedade quando os seus elementos acreditam que ele verdadeiro, falso quando acreditam que ele falso.
O certo e o errado, o bem e o mal morais, so convenes estabelecidas dentro de cada sociedade.
Podemos chamar relativismo cultural ideia de que muitos costumes e prticas que variam de sociedade para sociedade, como os hbitos alimentares, as cerimnias de casamento ou o estilo de vesturio, so relativos cultura: no h uma maneira de comer, casar ou vestir que seja universalmente melhor do que todas as outras.
O relativista moral estende esta ideia quase trivial tica. Aplicada tica, no entanto, a ideia deixa de ser trivial.
Duas razes para ser relativista moral:
O relativismo promove a coeso social. Esta coeso fundamental para a sobrevivncia da sociedade e assim para o nosso bem-estar.
O relativismo promove a tolerncia entre sociedades diferentes.
Leva-nos a no ter qualquer impulso violento e destrutivo em relao aos outros povos e culturas.
Objees ao relativismo moral:
O relativismo moral conduz ao conformismo. Um conformista limita-se a agir de acordo com as ideias dominantes na sociedade. Na ausncia de algum inconformismo, no pode haver qualquer progresso moral.
O relativismo moral s aparentemente promove a tolerncia entre culturas diferentes:
A afirmao do valor universal da tolerncia incompatvel com o relativismo.
Um relativista teria de aprovar atitudes de extrema intolerncia se estas fossem consideradas boas no interior de uma dada sociedade.
A teoria dos mandamentos divinos
Teoria dos mandamentos divinos: Os juzos morais tm valor de verdade, ou seja, so verdadeiros ou falsos. Por isso, existem factos morais.
A verdade ou falsidade dos juzos morais depende da vontade de
Deus.
O certo e o errado, o bem e o mal morais, so convenes estabelecidas por Deus.
O dilema de utifron
A relao entre a diversidade cultural, o relativismo e a tolerncia
Os valores so simultaneamente absolutos e relativos. So absolutos porque existem em todas as sociedades e porque h valores universalmente aceites, tais como os valores consignados na Declarao Universal dos Direitos do Homem. So relativos porque variam as qualidades que tm de possuir para poderem ser consideradas bens. De facto, todas as sociedades distinguem o bem do mal, considerando o bem um valor positivo e o mal um valor negativo ou contra valor. Porem, o conceito de bem e de mal definido culturalmente; os valores tm um carter histrico e mudam medida que a sociedade e a cultura se transformam (dependem da poca, da geografia, dos regimes polticos, das classes sociais, da cultura, etc.); por outro lado, a par dos valores universais como o valor da vida ou da liberdade, h valores em que a subjetividade predominante, dependendo dos gostos e das preferncias pessoais como o caso dos valores estticos, por exemplo.
A evoluo e progresso social acarretam o aparecimento de novos problemas e novas mentalidades e a necessria transformao dos valores. Hoje, o relativismo cultural um valor positivo e nega-se a existncia de padres axiolgicos absolutos. Isto no significa que no deva haver valores universais a preservar para alm desse relativismo como o caso do valor da vida e da dignidade da pessoa, qualquer que seja a sua condio (cultura que adotou, classe social, sexo, religio, cor da pele, etnia, etc.). A todos os seres humanos, pelo facto de seres humanos, devida igualdade de direitos e de deveres, por isso, no podemos tolerar praticas culturais atentatrias da dignidade humana e devemos usar todos os meios para garantir o respeito pelos direitos humanos fundamentais em todos os pases do mundo.
Definio dos conceitos nucleares
Absoluto (etnocentrismo): uma tendncia para colocar no centro a nossa cultura, considerando os seus valores e os seus padres culturais como medida daquilo que desejvel e estimvel para todos.
Relativo (relativismo): aceita que comportamentos socialmente aprovados e os sistemas de valores dos povos com os quais se entra em contacto sejam julgados e avaliados sem referencia a padres absolutos, a necessidade de tolerncia pelas diferenas (raciais, tnicas, religiosas, sexuais) e o valor do respeito mtuo.
Cultura: em sentido amplo, pode ser definida como os aspetos de ordem material e de ordem espiritual que, em relao com uma sociedade ou grupo, foram adquiridos com base em formas de vida ancestrais comuns. Pode-se afirmar Sem homem no h cultura. Mas sem cultura no h homem.
II.A ao humana e os valores
3. Dimenses da ao humana e dos valores
3.1. A dimenso tico-politica Anlise e compreenso da experincia vivencial
3.1.1. Inteno tica e norma moral
Os conceitos de tica e moral so usualmente utilizados indiferentemente, para nos referirmos a um cdigo ou a um conjunto de princpios que as pessoas seguem na sua vida.
A tica, deriva do grego ethos, que designava os comportamentos habituais, os costumes, aquilo que permite ao ser humano construir uma segunda natureza, referindo-se, pois, sua interioridade.
Assim a tica, mantendo o significado mais prximo daquele que o prprio conceito grego de ethos, remete mais para uma reflexo acerca dos princpios que devem orientar a ao humana, para uma fundamentao das normas do agir, e tambm para a definio dos fins orientadores da existncia de cada um, tendo em vista a autoconstruo de si na prossecuo duma vida boa e feliz. Interroga-se sobre o que d sentido ou valor existncia humana. A tica remete, portanto, para uma sabedoria de vida, algo que aponta j para uma certa espiritualidade e realizao pessoal autnoma.
A moral utiliza-se hoje para designar o mbito da formao das normas obrigatrias, da sua hierarquizao e aplicao a casos concretos no interior duma comunidade humana.
Assim a Moral constitui, portanto, um conjunto de imperativos e de interditos, traduzindo o sentido de obrigatoriedade, o conjunto dos deveres do ser humano, isto , uma deontologia, as normas validas no interior de um grupo. Desenvolve-se na pratica social, no contexto de uma cultura, no seio da qual os valores, os hbitos e os costume geram as leis ou cdigos que definem o que desejvel e o que permitido ou proibido, distinguindo o bem do mal. Apresenta-se, portanto, com uma funo normativa, isto , de institucionalizao de normas que regulam a conduta. A Moral responde-nos, pois, s questes: Que devo fazer? Como correto agir em tal circunstncia?
Apesar desta distino, quer a tica quer a Moral so importantes guias da ao humana, no sentido em que relacionam com uma vida com projetos e ideais a alcanar. O sentido da palavra desmoralizado ajuda-nos a compreender bem, embora pela negativa, a sua importncia: diz-se desmoralizado de algum a que perdeu a orientao e o interesse pela vida ou pelos seus objetivos. E a Moral e a tica apelam exatamente para a realizao pessoal do indivduo. Apesar desta distino conceptual, muitos autores continuam a usar os dois conceitos como sinnimos.
Definio dos conceitos nucleares
tica: (do conceito grego ethos) o domnio da reflexo terica sobre esses princpios e normas tendo em vista a sua definio e, sobretudo, a sua justificao racional. tica diz ainda respeito a definio dos fins universais que devero orientar a ao humana na autoconstruo de cada indivduo tendo em vista tornar-se pessoa. A tica pode ento ser entendida como fundamentao das normas morais do agir ou como definio dos fins orientadores da existncia de cada um.
Moral: (do latim mores) designa o mbito da formao das normas, da hierarquizao e aplicao a casos concretos, traduzindo o conjunto dos deveres do ser humano.
II.A ao humana e os valores
3. Dimenses da ao humana e dos valores
3.1. A dimenso tico-politica Anlise e compreenso da experincia vivencial
3.1.2. A dimenso pessoal e social da tica o si mesmo, o outro e as instituies
A responsabilidade a capacidade de responder e prestar contas pelos atos praticados. A responsabilidade tem duas vertentes: a responsabilidade civil, prestar contas pelas consequncias perante terceiros, e a responsabilidade moral, prestar conta perante a nossa conscincia pelos atos e intenes dos mesmos.
A responsabilidade exige que se assuma esta autoria dos atos praticados; assumir esta autoria implica uma reflexo prvia que pode e deve conduzir a uma opo livre de constrangimentos, isto , autnoma; esta autonomia ou liberdade condio para se ser pessoa. A responsabilidade implica maturidade moral.
A existncia humana uma existncia partilhada, isto , vivida em coexistncia com os outros ou, dito de outro modo, o ser humano um ser eminentemente social. Como nos diz F. Savater ningum chega a tornar-se humano se est s: tornamo-nos humanos uns aos outros.
Os Gregos foram os primeiros a salientar a importncia desta dimenso social e politica do ser humano, como vsivel na definio apresentada por Aristteles ao afirmar o Homem um animal poltico; aquele que vive s ou um deus ou um louco, sendo por isso que a pena mais cruel infligida a um indivduo era a condenao ao ostracismo, isto , a condenao a viver isolado dos outros.
Sendo assim, a dimenso tica implica que no se considerem exclusivamente os interesses individuais e se avaliem as situaes tendo em conta tambm os interesses dos outros.
A relao eu-outro implica, portanto, que os nossos juzos avaliativos adotem um ponto de vista no qual considerem igualmente os interesses de todos os que so afetados pelas nossas aes, isto , implica que nos coloquemos numa perspetiva de universalidade do agir. A ao tica exige que ultrapassemos o nosso ponto de vista pessoal e nos coloquemos, na medida do possvel, no lugar do outro (entendendo-se por outro todos os seres com quem nos relacionamos). Em vez do egosmo a tica valoriza o altrusmo e a solidariedade. Em vez do benefcio pessoal, a tica promove, elogia e estimula a considerao de valores comuns aos membros duma comunidade.
Valorizando os comportamentos comuns, a tica procura assim promover a realizao da vida social, em que a existncia individual ganha sentido na vivncia partilhada com os outros.
A relao com os outros coloca-nos perante o desafio da nossa autoconstruo, evidenciando que a realizao de cada um supe tambm a realizao dos outros, numa convergncia de vontades particulares tendo em vista a realizao de fins comuns. Mas o antagonismo e a conflituosidade entre os interesses individuais nem sempre se conseguem compatibilizar e, por isso, as diferentes formas de relacionamento social expressas quer em competio/solidariedade, que em cooperao/hostilidade, exigem o estabelecimento de regras de conduta, de normas e leis que definam os direitos e deveres de cada um num espao de convivncia.
Esta convivncia com os outros no deve ser determinada por uma fora instintiva ou biolgica, antes se estabelece no interior duma comunidade, em funo de objetivos, valores e opes livremente definidos por cada sociedade. esta convergncia de ideais que procura dar sentido existncia da sociedade e de cada indivduo.
Nesta interao social forma-se em cada um de ns uma instncia interior de orientao e de critica do nosso agir, a que chamamos conscincia moral.
Para podermos compreender melhor a natureza e o papel da conscincia moral, costumamos compar-la a uma espcie de juiz interior que julga o que fazemos, provocando-nos, em certas situaes, aquilo a que chamamos remorsos por termos praticado uma ao considerada m (ter a conscincia pesada, ou ter um peso na conscincia), ou dando-nos um sentimento de bem-estar e paz interior quando agimos bem (estar de conscincia tranquila).
O conceito de conscincia moral inclui, ento:
Um sentido apelativo, para valores e normas ideais a que no devemos renunciar (uma bssola orientadora do sentido da ao);
Um sentido imperativo (obrigao), que nos ordena uma ao compatvel com os valores que defendemos (index);
Um sentido judicativo, pois assume-se como instncia julgadora dos nossos atos e das prprias intenes do agente, conforme esto ou no de acordo com os valores e ideais a que aderimos (judex);
Um sentido de censura e de remorso, ou de elogio e satisfao, conforme a nossa vivncia obedece ou no aos ideais e valores assumidos (vindex).
Embora formando-se e modelando-se no interior do grupo social a que pertencemos, a conscincia moral constitui-se na conjugao de duas orientaes:
CONSCINCIA MORAL
Por um lado, cresce medida que o indivduo interioriza as regras e padres do grupo (heteronomia).
Por outro, amadurece e assume-se como uma dimenso pessoal no sentido em que cada um se autodetermina por princpios racionalmente justificados (autonomia).
H pois, uma interao entre as estruturas do indivduo e as influencias do meio social, uma articulao do querer individual com os padres sociais, que conduz transformao do indivduo em pessoa.
Noo de pessoa
Por pessoa entende-se o individuo humano que:
Se reconhece como sujeito de direitos e deveres ou obrigaes, para consigo mesmo, para com os outros e para com as instituies;
Assimilou de forma consciente os ideais e a sua responsabilidade social;
Assume o carter racional da sua autonomia e, portanto, a capacidade de agir livre e responsavelmente, isto , em nome prprio;
Tem conscincia do carter inter-relacional da sua autonomia, uma vez que autonomia no significa autossuficincia nem indiferena pelos outros;
Assume a dignidade como atributo essencial do Homem, dignidade que se expressa numa exigncia perante si mesmo, perante os outros e perante as instituies.
Podemos dizer ento que ser pessoa exige viver em sociedade, reconhecer e respeitar princpios universais de relao com os outros, reconhecer-se como sujeito de direitos e deveres, estar aberto aos outros.
Neste sentido foram fundadas, ao longo dos tempos, instituies polticas e sociais que visam justamente assegurar ao Homem a possibilidade de se desenvolver como pessoa e que demonstram a aceitao pelas sociedades da personalidade humana.
Definio dos conceitos nucleares
Responsabilidade: deriva etimologicamente da palavra latina respondere, que significa responder pelos atos e ter a obrigao de prestar contas pelos atos praticados. A responsabilidade pode assumir diferentes formas: responsabilidade civil referindo-se ao compromisso de ter de responder perante a autoridade social; responsabilidade moral referindo-se obrigao de responder perante a nossa prpria conscincia.
II.A ao humana e os valores
3. Dimenses da ao humana e dos valores
3.1. A dimenso tico-politica Anlise e compreenso da experincia vivencial
3.1.3. A necessidade de fundamentao da moral anlise comparativa de duas perspetivas filosficas
tica utilitarista de Stuart Mill (1806-1873 d.C)
Filsofo e economista, considerado o mais importante representante do utilitarismo ingls. Embora mantenha a identificao base do utilitarismo da felicidade com prazer, Stuart Mill classifica os prazeres segundo um critrio qualitativo, considerando em primeiro lugar a dignidade do Homem, e defende que o fim das nossas aes deve ser uma utilidade altrusta e no meramente egosta.
Duas objees ao utilitarismo
O utilitarismo no funciona na prtica, pois exige que estejamos sempre a calcular as consequncias das nossas aes.
O utilitarismo, como no leva em conta as normas ou regras morais comuns, predispe-nos a fazer frequentemente coisas erradas como mentir, roubar ou matar.
Uma resposta s objees
O utilitarismo primariamente uma teoria sobre o que torna as aes certas ou erradas.
O utilitarismo no uma teoria sobre como devemos tomar as nossas decises.
Por isso, o utilitarismo no implica que:
1. Temos de tomar todas as decises calculando as consequncias provveis dos nossos atos.
2. Temos de ser indiferentes s normas morais comuns quando decidimos o que fazer.
O utilitarista dir que se tomssemos todas as decises calculando as suas consequncias acabaramos por no promover o bem.
O utilitarista dir que muitas regras morais comuns nos auxiliam a tomar decises que, de uma maneira geral, sero boas.
Dois nveis de pensamento moral
Nvel intuitivo: Como o nosso conhecimento muito limitado, tomamos as nossas decises quotidianas segundo as regras morais simples que aceitamos, obedecendo s inclinaes do nosso carter, sem aplicar o princpio utilitarista.
Nvel crtico: Aplicamos o princpio utilitarista para (1) tomar decises em situaes em que as regras morais comuns no nos permitem saber o que fazer, (2) avaliar criticamente essas regras de modo a determinar se elas promovem ou no o bem-estar.
Duas objees ao utilitarismo que no afetam as teorias deontolgicas:
1) O utilitarismo obriga-nos a realizar certos atos que no so moralmente obrigatrios. por isso, em certos aspetos, uma teoria moral demasiado exigente.
2) O utilitarismo permite ou consente certos atos que no so moralmente permissveis. por isso, noutros aspetos, uma teoria moral demasiado permissiva.
Integridade
A excessiva exigncia do utilitarismo ameaa a nossa integridade pessoal: para agir em conformidade com o utilitarismo, teramos que abdicar de quase todos os nossos projetos e compromissos pessoais.
Respeito e direitos
A excessiva permissividade do utilitarismo consiste no facto de este ignorar os direitos morais das pessoas e autorizar que as tratemos como simples meios ao servio do fim do bem geral.
Dois egosmos
Egosmo psicolgico: As pessoas agem sempre apenas em funo do seu interesse pessoal.
Egosmo tico: As pessoas devem agir sempre apenas em funo do seu interesse pessoal.
Somos todos egostas?
Dois argumentos a favor do egosmo psicolgico:
1. Quando agimos voluntariamente, fazemos sempre aquilo que mais desejamos. Por isso, somos todos egostas.
2. Sempre que fazemos bem aos outros, isso d-nos prazer. Por isso, s fazemos bem aos outros para sentirmos prazer. Ora, isso o mesmo que dizer que somos todos egostas.
Em ambos os argumentos, a premissa no sustenta a concluso:
Mesmo que seja verdade que em todos os atos voluntrios as pessoas se limitam a fazer aquilo que mais desejam, da no se segue que todos esses atos sejam egostas.
Mesmo que sintamos prazer a fazer bem aos outros, isso no quer dizer que a expectativa desse prazer tenha sido a causa ou motivo da ao.
Devemos ser egostas?
Trs objees ao egosmo tico:
O egosmo tico tira todo o sentido a uma parte importante da tica, que consiste na atividade de aconselhar e julgar.
O egosmo tico moralmente inconsistente: no pode ser adotado universalmente.
O egosmo tico derrota-se a si prprio: se uma pessoa optar por agir de forma egosta, ter uma vida pior do que teria se no fosse egosta.
Utilitarismo
J. S. Mill defendeu o princpio utilitarista da maior felicidade: As aes esto certas na medida em que tendem a promover a felicidade, erradas na medida em que tendem a produzir o reverso da felicidade.
O utilitarismo, tal como o egosmo tico, uma perspetiva consequencialista.
Segundo o consequencialismo, agir moralmente apenas uma questo de produzir bons resultados.
O egosta defende que o agente deve produzir bons resultados apenas para si prprio.
O utilitarista defende que o agente deve produzir bons resultados para todos aqueles que podero ser afetados pela sua conduta.
Muitos utilitaristas defendem que o melhor curso de ao aquele que apresentada a maior utilidade esperada.
Para determinar a utilidade esperada de um curso de ao, temos de pensar nas suas vrias consequncias possveis e na probabilidade de essas consequncias se verificarem.
Hedonismo
Em que consiste um bem-estar ou felicidade de uma pessoa?
Hedonismo: O bem-estar consiste unicamente no prazer e na ausncia de dor.
Hedonismo quantitativo de Bentham: Cada um dos diversos prazeres e dores da vida das pessoas tem um certo valor, que em ltima anlise determinado apenas pela durao e intensidade.
Hedonismo quantitativo de Mill: Alguns tipos de prazeres so, em virtude da sua natureza, intrinsecamente superiores a outros. Para vivermos melhor devemos dar uma forte preferncia aos prazeres superiores, recusando-nos a troc-los por uma quantidade idntica ou mesmo maior de prazeres inferiores.
O argumento da mquina de experincias contra o hedonismo:
A mquina de experincias um dispositivo de realidade virtual que proporciona uma vida insuperavelmente aprazvel.
Se o hedonismo verdadeiro, ento seria melhor ligarmo-nos para sempre mquina de experincias. Mas melhor no nos ligarmos e continuarmos a ter uma vida real. Logo, o hedonismo falso.
Satisfao de preferncias
Uma perspetiva alternativa ao hedonismo:
O bem-estar consiste unicamente na satisfao dos desejos ou preferncias.
Os utilitaristas de preferncias defendem esta teoria do bem-estar.
Sustentam que a melhor maneira de agir maximizar a satisfao das preferncias daqueles que podero ser afetados pela nossa conduta.
O argumento da maioria fantica contra o utilitarismo de preferncias:
Uma maioria fantica deseja intensamente exterminar uma minoria inofensiva.
Se o utilitarismo de preferncias verdadeiro, seria bom exterminar a minoria inofensiva. Mas profundamente errado exterminar minorias inofensivas. Logo, o utilitarismo de preferncias falso.
tica deontolgica de Kant
Clebre filsofo alemo, um dos mais importantes filsofos da poca moderna europeia. As mais notveis das suas obras so a Crtica da Razo Pura (sobre gnoseologia), a Crtica da Razo Prtica (sobre tica) e a Crtica da Faculdade de Julgar (sobre esttica).
Teorias deontolgicas
Podemos distinguir utilitarismo das teorias deontolgicas colocando duas questes:
1. O que torna as nossas aes certas ou erradas?
2. Quando que nossas aes so certas ou erradas?
No que diz respeito primeira questo, temos estas respostas:
Utilitarismo: Apenas as consequncias das nossas aes as tornam certas ou erradas. As nossas aes so certas ou erradas apenas em virtude de promoverem imparcialmente o bem-estar.
Deontologia: Nem s as consequncias das nossas aes as tornam certas ou erradas. Muitas aes so intrinsecamente erradas, ou seja, erradas independentemente das suas consequncias. Podemos dizer, alis, que todos temos de respeitar certos deveres que probem a realizao dessas aes.
No que diz respeito segunda questo, temos estas respostas:
Utilitarismo: Uma ao certa apenas quando maximiza o bem-estar, ou seja, quando promove tanto quanto possvel o bem-estar. Qualquer ao que no maximize o bem-estar errada.
Deontologia: Uma ao errada quando com ela infringimos intencionalmente algum dos nossos deveres. Qualquer ao que no seja contrria a esses deveres no tem nada de errado.
Exemplos de deveres habitualmente reconhecidos pelos deontologistas:
Fidelidade: Mantm as tuas promessas.
Reparao: Compensa os outros por qualquer mal que lhes tenhas feito.
Gratido: Retribui fazendo bem queles que te fizeram bem.
Justia: Ope-te s distribuies de felicidade que no estejam de acordo com o mrito.
Desenvolvimento pessoal: Desenvolve a tua virtude e o teu conhecimento.
Beneficncia: Faz bem aos outros.
No-maleficncia: No prejudiques os outros.
Deontologia
na Fundamentao da Metafsica dos Costumes e na Crtica da Razo Prtica, que Kant procura esclarecer as bases tericas em que assenta a ao moral.
Na Fundamentao da Metafsica dos Costumes, Kant afirma a necessidade de se estabelecer uma filosofia moral pura, isto , estabelecida a partir da anlise da prpria racionalidade humana e, deste modo, independentemente de tudo o que seja baseado na experincia. A razo a autoridade final para a moralidade e esta no pode ter fundamento, isto , no pode ser estabelecida e justificada, na observao dos costumes ou modos habituais e culturais de agir com os humanos. Todas as aes precisam ser determinadas por um sentido de dever ditado pela razo, e nenhuma ao realizada por interesse ou somente por obedincia a uma lei exterior ou costume pode ser considerada como moral. A ao moralmente boa a que obedece exclusivamente lei moral em si mesma. A moral Kantiana , assim concebida como independente de todos os impulsos e tendncias naturais ou sensveis e est centrada sobre a noo de dever e no na noo de virtude e felicidade como em Aristteles.
Kant faz distino entre o bem e o agradvel. O bem funo da lei moral, no deve, pois, ser determinado antes da lei moral, mas s depois dela e mediante ela.
Alm disso, para classificar uma ao como moralmente boa no basta observar o que o Homem faz efetivamente mas aquilo que ele quer fazer. Por isso, se diz que a moral Kantiana uma moral de inteno. Assim, nada bom ou mau em si mesmo; Kant afirma que a nica coisa que verdadeiramente pode ser boa em si mesmo a vontade humana.
A moral Kantiana parte do pressuposto que o Homem no simplesmente racional. Ele , simultaneamente, racional e natural/sensvel, esprito e corpo, razo e desejo, por isso, a vida moral uma luta continua e o agir bem apresenta-se-lhe como uma obrigao, como uma certa coao, que a sua parte racional ter de exercer sobre a sua parte sensvel. O dever obriga, fora-nos a fazer o que talvez no quisssemos ou que pelo menos no nos agradaria, porque o homem no perfeito e sim dual. Assim, a moralidade aparece na forma de uma lei que exige ser obedecida por si mesma, uma lei cuja autoridade no est fora do Homem mas representa a voz da razo, a que o sujeito moral deve obedecer. Ento, para que cumpra integralmente a lei moral, preciso que o domnio da vontade livre (vontade no submetida a nenhuma lei a no ser a sua prpria) sobre a vontade psicolgica seja cada vez mais ntegro e completo. Kant chama vontade santa vontade que dominou por completo toda a influncia e determinao oriunda dos fenmenos concretos, fsicos, fisiolgicos e psicolgicos, para sujeit-la lei moral. Para uma vontade desse tipo no haveria distino entre razo e inclinao. Um ser possudo de uma vontade santa agiria sempre da forma que devia agir e no haveria lugar para o conceito de dever e de obrigao moral, os quais somente tm sentido e existncia porque o Homem dual, razo e desejo, e estes encontram-se em oposio. por isso que o dever nos surge sob a forma de uma ordem ou de um mandamento um imperativo categrico (categrico porque ordena incondicionalmente): Age de tal modo que a mxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princpio de uma legislao universal. Kant reconhece que esta apenas uma frmula e a nica regra segura para podermos agir.
Como imperativo categrico, Kant forneceu-nos, na prtica, um critrio para o agir moral.
Se queres agir moralmente, (isto , para Kant, racionalmente) o que alis tu tens de fazer age ento de uma maneira realmente universalizvel. A universalizao das nossas mximas (em si subjetivas) o critrio moral. O imperativo categrico afirma a autonomia da vontade porque fornece o nico princpio de todas as leis morais.
A liberdade condio da moralidade
A condio necessria para que seja possvel apenas a razo determinar a ao a liberdade. A vida moral somente possvel, para Kant, na medida em que a razo estabelea, por si s, aquilo a que se deve obedecer no terreno da conduta moral, o que s possvel pressupondo que o Homem um ser dotado de liberdade.
As ideias ticas de Kant so um resultado lgico da sua crena na liberdade fundamental do indivduo. Esta liberdade no sinnimo de ausncia de leis ou de anarquia; significa, antes, autogoverno, a liberdade de poder realizar o que a razo ordena, isto , obedecer ao imperativo categrico.
Poder realizar significa: causar por vontade prpria um efeito no mundo, tal como as causas naturais produzem um efeito na natureza. O homem, neste sentido, livre, legislador e membro de uma sociedade tica: legislador porque ele que determina o que deve ser feito, e membro ou sbdito porque obedece aos deveres que a sua prpria razo frmula. Neste sentido, ele no tem um preo, mas uma dignidade, e por isso que a segunda frmula do imperativo categrico diz para agirmos de modo a no tratar jamais a humanidade, em ns ou nos outros, como um meio, mas sempre como um fim em si. A tica Kantiana uma tica do respeito pessoa. A tica Kantiana moderna porque confia no homem, na sua razo e na sua liberdade, condena todas as situaes sociais de instrumentalizao do Homem (a escravatura, a prostituio, o trafico de pessoas, etc.) e reconhece sociedade civil o direito de estabelecer leis universais que sejam expresso da lei moral racional.
A felicidade no o bem supremo
Kant tambm reflete sobre a felicidade e a virtude, mas subordina-as ao dever. Para Kant a felicidade do domnio do sensvel; um desejo que est presente em todos os seres humanos mas que cada qual concebe a seu modo ou subjetivamente. Ora se a lei moral tem origem na razo (a condio da sua objetividade e universalidade) e se cada ser humano no concebe sempre do mesmo modo aquilo que ser feliz, alcanar a felicidade no pode ser o fim supremo da moralidade nem a sua justificao. A moralidade auto-justificasse na natureza racional do ser humano e a felicidade e a virtude so apenas as consequncias do esforo humano para praticar atos moralmente bons. A felicidade de que Kant fala a da conscincia do dever cumprido, a tranquilidade da boa conscincia. Temos obrigao de fazermos tudo para sermos felizes. A nica condio que tudo o que fizermos possa ser universalizvel. No a felicidade a qualquer preo.
Ser feliz , assim, uma aspirao que o homem concretiza atravs do seu mrito, mas mesmo que esse aspirao existisse ou a felicidade no fosse concretizvel e atingvel atravs da moralidade, mesmo assim o ser humano ainda teria a obrigao moral ou o dever de agir respeitando unicamente a lei moral ou o imperativo categrico.
Em concluso de Kant:
Alguns deontologistas, como Kant, pensam que os nossos deveres morais podem ser inferidos de um princpio tico fundamental.
Outros deontologistas, como Ross, pensam que sabemos por simples intuio quais so os nossos deveres.
Alguns deontologistas, como Kant, pensam que os nossos deveres so absolutos: nunca podemos desrespeit-los.
Outros deontologistas, como Ross, pensam que os nossos deveres so prima facie: por vezes podemos desrespeit-los.
Duas distines
Alguns deontologistas, por oposio aos utilitaristas, atribuem relevncia moral s distines ato/omisso e inteno/previso, defendendo o seguinte:
Atos e omisses: pior provocar um mal que permitir que um mal ocorra. Por exemplo, pior matar uma pessoa que deix-la morrer.
Inteno e previso: pior dar origem a um mal intencionalmente que dar a origem a um mal que no pretendemos produzir, ainda que saibamos que o mesmo resultar da nossa conduta. Por exemplo, pior torturar algum que fazer algo que resulte em sofrimento como efeito colateral.
Quadro sntese da tica utilitarista de Stuart Mill e a tica deontolgica de Kant
Fundamentao da Moral
Kant (deontolgica)
Stuart Mill (utilitarista)
A felicidade algo exterior razo, subjetiva;
A ao moral tem por base a boa vontade;
S as aes por dever tm valor moral;
As aes por dever impem-se-nos pelo imperativo categrico;
O imperativo categrico, ao impor leis universais, constitui o fundamento da autonomia humana;
O agir moral autnomo confere-nos dignidade.
O valor moral das aes est nas suas consequncias e nos seus efeitos prticos;
Bem aquilo que trouxer mais felicidade global;
O utilitarismo adota um relativismo tico face perca de critrios absolutos e universais;
O utilitarismo um reflexo da tecnicizao da produo e da sociedade ps moderna.
II.A ao humana e os valores
3. Dimenses da ao humana e dos valores
3.1. A dimenso tico-politica Anlise e compreenso da experincia vivencial
3.1.4. tica, direito e politica liberdade e justia social; igualdade e diferenas; justia e equidade
O que legitima a autoridade do estado Respostas de Aristteles e de Locke
A justificao aristotlica do estado
Uma das respostas mais antigas para este problema foi apresentada por Aristteles (384-322 a. C.) num livro intitulado Poltica. Neste livro, Aristteles estuda os fundamentos e a organizao da cidade (polis, em grego, que deu origem ao termo poltica). Naquele tempo, as principais cidades gregas eram estados independentes tinham os seus prprios governos e exrcitos, alm de leis e tribunais prprios. Por isso lhes chamamos cidades-estado.
Assim, ao falar da origem da cidade, Aristteles est a falar da origem do estado.
Aristteles defende que a cidade-estado existe por natureza. Os seres humanos sempre procuraram viver sob um estado porque a vida fora do estado simplesmente impensvel. Viver numa sociedade governada pelo poder poltico faz parte da natureza humana. Quem conseguir viver margem da cidade-estado no um ser humano: uma besta ou um deus, diz Aristteles. Por isso se diz que a sua teoria da origem e justificao do estado naturalista.
O argumento central de Aristteles o seguinte:
Faz parte da natureza dos seres humanos desenvolver as suas faculdades.
Essas faculdades s podero ser plenamente desenvolvidas vivendo no seio de uma comunidade (cidade-estado).
Logo, faz parte da natureza humana viver na cidade-estado.
Fora da cidade-estado seramos, pois, incapazes de desenvolver a nossa natureza. Isso torna-se claro, pensa Aristteles, quando verificamos que os seres humanos no se limitaram a formar pares de macho e fmea para procriar, ao contrrio dos outros animais.
Constituram tambm comunidades de famlias (as aldeias) e estabeleceram a diviso entre governantes e sbditos, com vista autopreservao. Mas a comunidade mais completa, que contm todas as outras, a cidade-estado. Esta autossuficiente e no existe apenas para preservar a vida, mas sobretudo para assegurar a vida boa, que o desejo de todos os seres racionais. por isso que a cidade-estado a comunidade mais perfeita e todas as outras comunidades de seres humanos tm tendncia para se tornarem estados.
Ou seja, a finalidade de todas as comunidades tornarem-se estados.
Este argumento relaciona-se com uma ideia muito importante para Aristteles: que a natureza de uma coisa a sua finalidade. Assim, a finalidade dos seres humanos viver na cidade estado porque ao estudarmos a origem destas verificamos que h um impulso natural dos seres humanos para passar da vida em famlia para a vida em pequenas comunidades de lares, e destas para a comunidade mais alargada e autossuficiente da cidade-estado. Da Aristteles afirmar que o homem , por natureza, um animal poltico.
Outra ideia importante para Aristteles que o todo anterior parte, no sentido em que fora do todo orgnico a que pertence, a parte no seria o que . O que o leva a dizer que a cidade estado por natureza anterior ao indivduo, pois no h indivduos auto-
-suficientes e, portanto, nem sequer existiriam fora dela. Tal como uma mo no funciona separada do resto do corpo, tambm no h realmente seres humanos isolados da comunidade.
Algum que viva fora da sociedade sem estado no chega a ser um ser humano
( uma besta) ou mais do que um ser humano ( um deus).
Assim, submetemo-nos autoridade do estado com a mesma naturalidade que nos tornamos adultos. Isto equivale a dizer que o estado se justifica por si. Da que, para Aristteles, o mais importante seja saber que tipo de governo da cidade-estado melhor para garantir a vida boa.
Crticas ao naturalismo aristotlico
A principal crtica ao naturalismo que a noo aristotlica de natureza incoerente e enganadora. Aristteles encara a natureza das coisas como uma espcie de princpio interno de movimento ou repouso que se encontra nelas. Neste sentido, a natureza da cidade-estado seria comparvel natureza das plantas e de outros organismos vivos, que se desenvolvem a partir do embrio at atingirem a maturidade. Este desenvolvimento meramente biolgico, sem qualquer interveno da racionalidade.
Contudo, a finalidade da vida na cidade permitir uma vida boa. Mas o desejo de ter uma vida boa um desejo racional, na medida em que uma aspirao de seres racionais como ns at porque no se verifica nos outros animais. Assim, este desejo fruto da deliberao racional dos seres humanos e no simplesmente de um impulso biolgico ou natural.
A justificao contratualista de Locke
Uma justificao do estado bastante mais influente do que a de Aristteles dada por John Locke (1632-1704). Este filsofo defende que o estado tem origem numa espcie de contrato social em que as pessoas aceitam livremente submeter-se autoridade de um governo civil. Locke considera que esse contrato d origem transio do estado de natureza para a sociedade civil. Por isso se diz que a teoria da justificao do estado de
Locke contratualista.
Mas o que levou as pessoas a celebrar entre si esse contrato? Vejamos, em primeiro lugar, como eram as coisas antes do contrato, isto , como eram as coisas antes de haver estado quando ningum detinha o poder poltico e no havia governo nem tribunais nem polcias.
A lei natural e o estado de natureza
No estado de natureza as pessoas viviam, segundo Locke, em perfeita liberdade: cada um era senhor absoluto da sua pessoa e bens, no tendo de prestar contas nem depender da vontade de seja quem for. As pessoas viviam tambm num estado de completa igualdade, no havendo qualquer tipo de hierarquia social ou outra. Alm disso, viviam segundo a lei natural, a qual dispe que ningum infrinja os direitos de outrem e que as pessoas no se ofendam mutuamente.
Locke defendia que esta lei natural se descobre usando a razo natural, pelo que comum a todas as pessoas e independente de quaisquer convenes humanas. Deste modo, Locke distinguia a lei natural das chamadas leis positivas da sociedade civil. As leis positivas so leis que resultam das convenes humanas; so as leis que realmente existem nas sociedades organizadas em estados.
Enquanto no estado de natureza as pessoas nada tm acima de si a no ser a lei natural, na sociedade civil as pessoas consentem em submeter-se autoridade de um governo. A nica lei que vigora no estado de natureza , pois, a lei natural. Locke distingue a lei natural da lei positiva, mas tambm da lei divina:
Locke no encara a lei natural como uma lei cientfica que descreve o funcionamento efetivo da natureza. Locke defende que a lei natural normativa: determina como as pessoas racionais devem agir e no como de facto agem. Por outro lado, a lei natural e a lei divina, apesar de no serem a mesma coisa, no podem ser incompatveis, pois Deus a origem de ambas.
Dado que no estado de natureza as pessoas vivem de acordo com a lei natural, tm os direitos decorrentes da aplicao dessa lei. Assim:
1. Todas as pessoas so iguais, pois tm exatamente o mesmo conjunto de direitos naturais;
2. Todas as pessoas tm o direito de ajuizar por si que aes esto ou no de acordo com a lei natural, pois ningum tem acesso privilegiado lei natural nem autoridade especial para julgar pelos outros;
3. Todas as pessoas tm individualmente o direito de se defender usando a fora, se necessrio daqueles que tentarem interferir nos seus direitos e violar a lei natural, pois esta existiria em vo se ningum a fizesse cumprir;
4. Todas as pessoas tm o direito de decidir a pena apropriada para aqueles que violam a lei natural, assim como direito de aplicar essa pena, dado que num estado de perfeita igualdade a legitimidade para faz-lo rigorosamente a mesma para todos.
O estado de natureza no s diferente da sociedade civil como, segundo Locke, do estado de guerra, pois neste no h lei que vigore e as pessoas no tm direitos.
Locke caracteriza o estado de natureza como uma situao de abundncia de recursos e em que cada pessoa livre de se apropriar das terras e bens disponveis, atravs do seu trabalho e esforo. Sendo assim, que razes teriam as pessoas para abandonar o estado de natureza, aceitando limitar a sua liberdade a favor de um governo ao qual tm de se submeter?
O contrato social e a origem do governo
Locke pensa que qualquer poder exercido sobre as pessoas excetuando os casos de autodefesa ou de execuo da lei natural s legtimo se tiver o seu consentimento.
Nem outra coisa seria de esperar entre pessoas iguais e com os mesmos direitos naturais.
Assim, a existncia de um poder poltico s pode ter tido origem num acordo, ou contrato, entre pessoas livres que decidem unir-se para constituir a sociedade civil. E esse acordo s faz sentido se aqueles que o aceitam virem alguma vantagem nisso.
Apesar de parecer que Locke caracteriza o estado de natureza como um estado quase perfeito, no deixa de reconhecer alguns inconvenientes que, mais cedo ou mais tarde, iriam tornar a vida demasiado instvel e insegura. Isto porque h sempre quem, movido pelo interesse, pela ganncia ou pela ignorncia, se recuse a observar a lei natural, ameaando constantemente os direitos das pessoas e a propriedade alheia. Locke d o nome genrico de propriedade no apenas aos bens materiais das pessoas, mas a tudo o que lhes pertence, incluindo as suas vidas e liberdades.
Assim, parece justificar-se o abandono do estado de natureza em troca da proteo e estabilidade que s o governo pode garantir. Locke torna esta ideia mais precisa indicando trs coisas importantes que faltam no estado de natureza e que o poder poltico est em condies de garantir:
1. Falta uma lei estabelecida, conhecida e aceite por consentimento, que sirva de padro comum para decidir os desacordos sobre aspetos particulares de aplicao da lei natural. Isto porque, apesar de a lei natural ser clara, as pessoas podem compreend-la mal e divergir quando se trata da sua aplicao a casos concretos.
2. Falta um juiz imparcial com autoridade para decidir segundo a lei, evitando que haja juzes em causa prpria. Isto porque quando as pessoas julgam em causa prpria tm tendncia para ser parciais e injustas.
3. Falta um poder suficientemente forte para executar a lei e fazer cumprir as sentenas justas, evitando que aqueles que so fisicamente mais fracos ou em menor nmero sejam injustamente submetidos pelos mais fortes ou em maior nmero.
para fazer frente a estas dificuldades que as pessoas decidem abrir mo dos privilgios do estado de natureza, cedendo o poder de executar a lei queles que forem escolhidos segundo as regras da comunidade. E ainda que se possa dizer que ningum nos perguntou expressamente se aceitamos viver numa sociedade civil, Locke defende que, a partir d