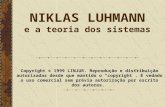Informação e comunicação em habermas e luhmann
Click here to load reader
-
Upload
clovis-de-lima -
Category
Documents
-
view
2.518 -
download
1
Transcript of Informação e comunicação em habermas e luhmann

1
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS TEORIAS DE J. HABERMAS E N.
LUHMANN
Flavio Beno Siebeneichler
PREÂMABULO
a) Hipótese de trabalho.
Os conceitos de comunicação, informação e
intersubjetividade constituem divisores de águas en tre as
teorias de NL e JH. Mesmo assim, e, inclusive, devi do à
distância que separa os dois projetos teóricos, ele s podem
ser tomados como perspectivas teóricas extremamente úteis
para uma melhor compreensão do homem e da sociedade atual.
b) Observações prévias:
Observação nº1: Apesar da importância e da centr alidade
da noção de agir comunicativo e de questões referentes á
comunicação , a teoria habermasiana não contem uma teoria
abrangente sobre a comunicação nem sobre a informação . Ao
vasculhar a multifacetada obra do autor eu encontre i um
único texto explícito sobre comunicação em geral, d e 24
páginas, o qual foi escrito em 1989 e publicado em 1991 na
obra Textos e contextos . E mesmo assim, esse texto versa
sobre a comunicação em Charles S. S. Peirce, que é
naturalmente uma das fontes do pensamento habermasi ano.
Ante tal constatação, considerei de bom alvitre
apresentar as questões envolvendo a comunicação, em
Habermas, tomando, como uma folha de contraste, a t eoria de
sistemas sociais auto-referenciais, de Niklas Luhma nn, que
está construída sobre uma explícita teoria da comun icação.

2
Observação nº2: Uma análise de textos representa tivos
dos dois autores revela que nem um nem outro preten deram
elaborar uma teoria da informação. Esta é sempre ab ordada
como parte integrante da comunicação. Por esta razã o,
adotarei, aqui, o mesmo procedimento: a informação será
abordada pelo viés da comunicação.
Observação nº 3: Fica patente que ambos possuem, apesar
das divergências, pontos teóricos em comum. A própr ia
Teoria do agir comunicativo , habermasiana, apesar de sua
declarada oposição ao funcionalismo luhmanniano, la nça mão
de motivos de pensamento sistêmicos, como é o caso, por
exemplo, da figura da dupla contingência.
Observação nº4: Para melhor compreensão do nosso
tema, julgo adequado referir, antes de entrar na te oria da
comunicação propriamente dita, e ainda que de modo sumário,
as principais divergências e os pontos comuns aos d ois
pensadores.
1. PONTOS EM COMUM E DIVERGÊNCIAS ENTRE OS PROJETOS
TEÓRICOS DE NL E JH.
Em primeiro lugar, pode-se observar que a teo ria da
diferenciação de sistemas sociais, delineada por Ni klas
Luhmann numa radical perspectiva funcionalista e a teoria
do agir comunicativo, de J. Habermas, analítica e, ao mesmo
tempo, hermenêutica, constituem exemplos (privilegi ados) e
contrapostos de tentativas racionais elaboradas com o
intuito de enfrentar os grandes problemas que preoc upam a
humanidade e a sociedade atual em geral.
Cumpre observar, outrossim, o nível de aborda gem no
qual ambos se situam, uma vez que tanto Jürgen Habe rmas,

3
como Niklas Luhmann, têm que ser interpretados numa dupla
perspectiva, sociológica e filosófica. E tal exigên cia não
deriva apenas do fato de ambos terem sido contempla dos com
o “Prêmio Hegel”, conferido pela Sociedade Hegelian a a
pensadores e filósofos cujas obras merecem destaque no
mundo de hoje pela capacidade de traduzirem a sua é poca em
pensamentos. Porquanto ambos fundam suas respectiva s
teorias sobre a sociedade, em última instância, na
filosofia.
Ora, a radicalidade de suas concepções filosó ficas
acarreta como conseqüência quase natural uma diverg ência
profunda na maneira de se compreender os princípios e as
funções da filosofia.
1.1. NL: A FILOSOFIA COMO TEORIA DA DIFERENÇA.
No que respeita a N.L, ele consegue atingir o nível
de uma teoria filosófica abstrata que pratica em si mesma o
que recomenda aos outros, isto é, redução de comple xidade.
Ele tem na mira o que ele mesmo designa como planta baixa
( Grundriss ) de uma teoria sociológica universal, cujo
domínio de objetos não consiste mais em fatos socia is
detectáveis em uma observação de primeira ordem, ma s em um
mundo total ( Gesamtwelt ) enquanto referido á diferença:
mundo/sistema/entorno, o que somente pode ser conse guido em
uma observação de segunda ordem.
Enquanto tal, ela segue uma epistemologia natura lista
que não pressupõe mais princípios a priori ou
inquestionáveeis (SS, 12). Ela se autoconcebe como uma

4
teoria policêntrica e policontextual que considera o mundo
e a sociedade como acêntricos.
Convem notar, todavia, que a pretensão de univer salidade
da superteoria luhmanniana não equivale a uma prete nsão de
validade única de seu princípio!
Ela abrange três níveis de análise:
Nível dos sistemas
Nível das máquinas, organismos, sistemas sociais, s istemas
psíquicos
Nível das interações, organizações, sociedades (SS, 16)
Ela não pretende ser simples método de análise d a
realidade porquanto parte do pressuposto de que exi stem
sistemas (SS, 30) que se diferenciam de modo funcio nal e
que exige uma observação de segunda ordem. Isso imp lica uma
série de teses bastante questionadas. Cito algumas
( Soziologische Aufklärung SA, 5):
- Os sistemas funcionais da sociedade são autônomos e se
autorregulam.
- Mesmo assim, a sociedade como um todo, isto é, a
sociedade como sociedade mundial não consegue se
autorregular.
- Não existe um centro capaz de servir como ponto d e
referência para orientações práticas na sociedade.

5
- A construção da sociedade acontece no modo de um
entrelaçamento recursivo entre observações e descri ções:
“Todo observador moderno vê o que os outros observa dores
vêem; porém, ele também vê o que os outros observad ores não
conseguem ver no momento em que realizam sua observ ação; e
ele também vê que eles não podem ver o que eles não
conseguem ver” (AS, 5).
A questão que se levanta nesse momento é a segui nte:
será que a sociedade, que não possui centro e que n ão
consegue se autorregular, pode, mesmo assim, desenv olver
estados próprios e estáveis?
Luhmann ilustra esse problema lançando mão da fi gura de
um labirinto percorrido por um grupo de ratos:
“Há somente ratos no labirinto, os quais se obser vam
uns aos outros e, por isso, jamais podem chegar a u m
consenso, quando muito, a estruturas sistêmicas. Nã o
existe nenhuma operação de observação que seja
destituída de labirinto ou de contexto. E é evident e
que uma teoria que descreve esse estado de coisas é uma
teoria para ratos. No labirinto, ela pode escolher um
bom lugar para uma observação. Eventualmente ela po de
enxergar mais do que outros, especialmente o que ou tros
não vêem; mesmo assim, ela não pode deixar de ser
observada ” (AS, 6).
Entretanto, o observador solitário luhmanniano i nicia o
seu trabalho observacional no labirinto lançando mã o de uma
diferenciação fundamental ou “basal” que pode ser
considerada como um verdadeiro imperativo categóric o
funcional: beginne mit einer Unterscheidung !

6
“Comece a observar através de uma diferenciação” “ Draw a
distinction ” (Georg Spencer Brown) (DWG, 374). E continue
seu trabalho fazendo diferenciações de diferenciaçõ es!
Fica, pois, claro que no início de tudo, isto é, no
observatório situado em um labirinto percorrido por ratos,
está uma diferenciação. Ela pretende realizar reduç ão de
complexidade, mesmo que não consiga reduzir nada, s egundo
NL (DWG, 375). Daí o grande paradoxo da teoria func ional
policêntrica. Trata-se de uma indecisão entre um “d entro” e
um “fora”, entre “e” e “ou”. Por exemplo, a diferen ça
“homem e/ou mulher”. Ela significa que existem amba s as
coisas e que é preciso decidir qual delas escolhemo s como
objeto de observação, como tema, etc.
Isso também significa que o início de nossas obs ervações
é sempre contingente, isto é, ao iniciarmos descobr imos que
haveria a possibilidade de iniciar de outra forma ( DWG,
374).
O imperativo categórico funcional leva NL a subs tituir o
conceito de “razão” pela idéia de um “ operar com o auxílio
de conceitos ”, o qual se processa através de diferenciações
por diferenciações de distinções ao nível de uma ob servação
de segunda ordem, a qual é capaz de observar as obs ervações
e as descrições dos observadores³.
Em consonância com esta visão, Niklas Luhma nn se
auto-entende como um teórico da diferença . Segundo ele, no
início de qualquer tipo de trabalho teórico não dev emos
tentar buscar simplesmente unidade ou coerência, ap enas
diferenças, isto é, diferenciações e diferenciações de
distinções.

7
1.2. JÜRGEN HABERMAS: A FILOSOFIA COMO GUARDIÃ E
“SEGURANÇA” DA RACIONALIDADE E COMO INTERPRETE DO
MUNDO DA VIDA.
Já a filosofia de Jürgen Habermas segue um caminho
bastante diverso. Apesar de sua reiterada modéstia pós-
metafísica, ele propõe uma forma de filosofia
revolucionária apoiada em linguagem comum e em
racionalidade comunicativa.
Convem frisar, no entanto, que Habermas, ao
contrário de Niklas Luhmann, não consegue desfazer- se do
conceito de razão nem do conceito de sujeito, apesa r de ele
abandonar o paradigma mentalista da filosofia do su jeito.
Ele considera que a razão, ao contrário do que se afirma
no paradigma mentalista, é essencialmente comunicat iva e
pública. Não uma inteligência que apenas observa, o pera ou
calcula monologicamente:
“Para sabermos se aquilo que fazemos no mundo ou se
nossas representações do mundo são racionais, não t emos
outra saída a não ser a troca ou comunicação públic a (o
discurso) – liberta e libertadora – de argumentos s obre
aquilo que experimentamos, pensamos ou pretendemos
fazer [...]”.
Neste contexto, a filosofia aparece como uma guardiã
ou segurança da racionalidade e como uma intérprete
mediadora e crítica do mundo da vida. (ilustração d e JH?)

8
2. OS CONCEITOS DE “COMUNICAÇÃO” E DE “INTERSUBJETI VIDADE”
COMO DIVISORES DE ÁGUAS NAS TEORIAS DE J. HABERMAS E N.
LUHMANN.
2.1. O CONCEITO DE COMUNICAÇÃO
2.1.1. Em linhas bem gerais e sucintas, em
Habermas, a comunicação é definida na linha lingüís tico-
pragmática de uma teoria da interação social ancora da
nos conceitos de subjetividade e de intersubjetividade .
Em segundo lugar, Habermas privilegia as a ções
comunicativas que têm como pano de fundo um horizon te
hermenêutico ou mundo da vida formador de contextos para
processos racionais de entendimento. Tais processos de
entendimento podem desdobrar-se em dois planos: o d a
comunicação trivial ou praxis comunicativa cotidian a, ao
nível do mundo da vida, isenta de questionamentos; e o
plano do discurso argumentativo “comunicação parado xal”
destinado a resgatar pretensões de validade a parti r do
momento em que o conteúdo informativo da atividade
comunicativa é questionado. Trata-se, neste caso, d e uma
comunicação paradoxal. Por isso, a teoria do agir
comunicativo também pode ser caracterizada como uma
teoria discursiva da verdade, da sociedade, da mora l, do
direito, da comunicação, etc.
2.1.2. Ao passo que Niklas Luhmann, de um p onto
de vista bem geral , situa o conceito de comunicação –
que ele define como um operar comunicativo – no
paradigma funcionalista de sistemas auto-referencia is,
onde ela é caracterizada como um processo de seleçõ es de
sentido autônomas, auto-referenciais e fechadas. Ne ste

9
contexto, a comunicação é entendida como operação
básica, porém, paradoxal, uma vez que possibilita, de um
lado, aos sistemas manterem seus limites dentro do seu
entorno. No entanto, tal concepção obriga Luhmann a
adotar uma compreensão sui generis da linguagem. Por
isso, ele afirma: mesmo que na “situação básica” ou
“situação basal” os participantes já disponham de u ma
linguagem, a qual contém sempre um fundo semântico, esta
linguagem é isenta de qualquer tipo de implicação
normativa prévia.
2.2. O CONCEITO DE INTERSUBJETIVIDADE.
2.2.1. O CONCEITO DE INTERSUBJETIVIDADE EM HABERMAS
Para compreender adequadamente as implicações de sse
conceito na obra de Jürgen Habermas é necessária,
inicialmente, uma referência à fenomenologia de Edm und
Husserl e, especialmente, à sociologia de Alfred Sc hütz,
um dos seguidores mais importantes desta fenomenolo gia.
Schütz, ao discutir as perspectivas abertas pela te oria
husserliana, bem como os impasses intransponíveis n os
quais ela desembocou, chegou à conclusão de que era
necessário abandonar as tentativas visando fundamen tar a
intersubjetividade pelo caminho de uma redução
fenomenológica.
E ante tal fracasso, a melhor solução seria, se gundo
ele, tomar como um pressuposto o fato de que a
intersubjetividade constitui um problema ineludível
decorrente das características do mundo da vida não
sendo, por esta razão, solucionável por nenhum tipo de

10
análise, seja ela, fenomenológica, transcendental,
linguistica ou estrutural. Dito de outra forma, o
conceito de intersubjetividade passa a ser um conceito
paradoxal porquanto ele é, ao mesmo tempo, ineludível
(incontornável) e indemonstrável .
E perante tal fato – o da ineludibilidade e da
indemonstrabilidade - tal conceito abre espaço para duas
abordagens distintas e opostas da intersubjetividad e, a
saber:
a) A intersubjetividade pode ser interpretada
como um “dado último”, evidente a priori , o qual tem a
ver com realizações fundantes de um sujeito que se vê
constrangido a constituir e interpretar o mundo. Es ta é
a posição assumida por Martin Heidegger.
b) Entretanto, a intersubjetividade também
pode ser tida como “resultado intermitente” de uma
relação comunicativa frágil entre um Ego e um Alter , a
qual pode se concretizar por meio de uma comunicaçã o
lingüística.
Jürgen Habermas se decide por esta segunda
possibilidade de interpretação da intersubjetividad e. E
como primeira conseqüência, ele não pode mais tomar como
ponto de partida a idéia de uma subjetividade funda da
apenas nas operações mentais solitárias de um sujei to
que constitui e desoculta monologicamente o mundo. Para
ele, a intersubjetividade é, ao mesmo tempo, pressu posto
e resultado, intermitente, da linguagem comum.

11
Desta forma, a intersubjetividade dá origem e
fundamenta o agir comunicativo entre um Alter e um Ego,
que é a base de qualquer processo social.
Convem salientar, no entanto, que Jürgen
Habermas acrescenta um elemento fundamental à visão
fenomenológica da intersubjetividade, dado o fato d e que
ele interpreta esse princípio à luz de um paradigma do
agir comunicativo orientado por entendimento racion al. E
neste paradigma, E go e A lter são tidos na conta de
sujeitos que se socializam e se individuam mediante esse
tipo específico de comunicação lingüística. Isso é
possível porque eles já se encontram previamente em
mundos da vida estruturados lingüisticamente que po dem
ser compartilhados de modo intersubjetivo.7
2.2.2. NIKLAS LUHMANN E A IMPOSSIBILIDADE DA
INTERSUBJETIVIDADE.
Para Niklas Luhmann a intersubjetividade é
impossível, dado o problema da dupla contingência. E
neste contexto a intersubjetividade passa a ser alg o
improvável.
Por isso Luhmann simplesmente abandona o conceit o
tradicional de intersubjetividade, o qual é, no ent anto,
adotado por Habermas.
NL se desfaz desse conceito porque o considera
problemático, um “não-conceito”. Segundo ele, tal
conceito se fundamenta na idéia de que a subjetivid ade e
a intersubjetividade são co-originárias e pressupõe m,
além disso, uma relação dialética entre Ego e Alter .
Ora, argumenta Luhmann, tal dialética apenas reprod uz a
relação de alteridade na perspectiva de uma egoidad e,
isto é, na perspectiva do próprio sujeito.

12
Para compreender melhor esse ponto convem elucid ar
o tema da dupla contingência:
2.2.2.1. O TEMA DA DUPLA CONTINGÊNCIA.
O conceito de “dupla contingência” aparece
inicialmente na obra conjunta organizada em 1951 po r
Talcott Parsons e Edward Shills intitulada: Toward a
General Theory of Action (Cambridge, 3-29) (SS 148):
“ Existe uma dupla contingência inerente à
interação. De um lado, as gratificações de Ego são
contingentes em sua seleção de alternativas
disponíveis. De outro lado, porém, a reação de Alte r
será contingente tendo em vista a seleção de Ego e
resultará de uma seleção complementar por parte de
Alter” (148).
Ante a constatação dessa contingência, Parsons
conclui que nenhum tipo de agir pode acontecer caso Alter
coloque seu agir na dependência do modo de agir de Ego e
caso Ego pretenda acoplar seu comportamento ao de A lter
(149).
Segundo luhmann, o problema da dupla contingênci a está
presente de modo virtual sempre que surge um sistem a
psíquico ou uma consciência capaz de experimentar s entido
(151). E esse problema eclode explicitamente quando tal
sistema psíquico se encontra com outro sistema psíq uico ao
qual se atribui sentido, ou com um sistema social. Nesse
caso, o problema da dupla contingência se torna um problema
de comunicação.

13
Na seqüência, Luhmann modifica e amplia o conceito da dupla
contingência, tornando-o mais abstrato (152) a pont o de se
configurar como um verdadeiro teorema. Ele passa a
caracterizar algo contingente, isto é, que não é ne cessário
nem impossível, isto é, algo que pode ser (foi, ser á) como
é, mas que também poderia ser de modo diferente (15 2).
Na obra intitulada Sistemas sociais (1987) Luhmann
caracteriza a situação básica da dupla contingência
lançando mão do conceito de “ caixa-preta ” ( black Box ):
“Duas caixas-pretas se encontram casualmente... Cad a
uma determina seu próprio comportamento mediante
operações auto-referenciais altamente complexas no
interior de seus próprios limites [...] ” (156).
(visualização, quadro das caixas pretas)
É possível visualizar nelas redução de complexid ade.
Porquanto cada uma delas pensa que a outra faz o me smo. Por
esta razão, apesar dos esforços e do tempo dispendi do, elas
continuam intransparentes entre si (156).
Entretanto, mesmo quando operam de forma estrita mente
mecânica ou quando operam cegamente, elas conseguem agir
melhor, uma em relação à outra, quando se atribuem
mutuamente determinabilidade em uma diferenciação, isto é,
em uma relação sistema/entorno e quando passam a se
observar a partir desta diferença (156).
Nesta nova perspectiva, as caixas-pretas continu am
separadas e também não se compreendem melhor do que antes.

14
Entretanto, elas podem concentrar-se naquilo que ob servam
uma na outra, a saber: um “ sistema-em-um-entorno ”. E desta
forma elas aprendem a se observar de um modo auto-
referencial, na perspectiva de um observador (senta do em um
labirinto percorrido por ratos). Elas podem, além d isso,
tentar influenciar, mediante seu agir, aquilo que o bservam.
(157)
3. A COMUNICAÇÃO Á LUZ DA DUPLA CONTINGÊNCIA.
3.1. LUHMANN
Luhmann toma como ponto de partida o fato de que
geralmente a comunicação é caracterizada mediante a
metáfora da transmissão ( Übertragung ). Dizemos que a
comunicação transporta, transfere ou transmite notí cias,
mensagens ou informações de vários tipos, de um rem etente
ou emissor para um destinatário ou receptor.
Depreende-se deste uso que a essência da comunicaçã o reside
no ato da transferência ( Mitteilung ) ou ato comunicativo.
Neste caso,o acento recai na habilidade daquele que
comunica, transmite uma mensagem ou informa algo. A lém
disso, é sugerido que a informação transferida é id êntica
tanto para o emissor como para o receptor.
No entanto, a situação paradoxal das caixas-pret as, ou
sistemas psíquicos, a qual é duplamente contingente , leva
Luhmann a buscar outro tipo de abordagem para a
comunicação. Ele a considera uma criação autônoma d e “ forma
no medium de um sentido ”, isto é, uma realidade emergente
que depende de seres vivos mas que não pode ser atr ibuída a
nenhum deles em particular nem à totalidade deles. Ela se
constitui numa seqüência de transformações de sinai s

15
extraídos de outras comunicações. Por isso, ela con stitui,
em sentido estrito, um sistema próprio, autopoiétic o (DKG
20).
A comunicação se torna, nesse contexto, um proce sso
auto-referencial de escolha de sentido que opera co m uma
diferença entre três elementos (194):
- informação;
- transmissão ou ato comunicativo;
- compreensão.
E neste caso, a própria comunicação processa tal di ferença
(209).
Dito de outra forma: a comunicação somente pode
acontecer se Ego for capaz de distinguir as seleçõe s e
conseguir operar com o auxílio delas (198). Pode-se
afirmar, pois, que a comunicação tem como meta orga nizar a
acoplabilidade entre as caixas-pretas tornando prov ável
aquilo que é altamente improvável: a acoplagem entr e Alter
e Ego!
3.2. HABERMAS.
Habermas toma como ponto de partida a interação social
que é viabilizada por exteriorizações lingüísticas. (ND
68). Tal interação também pode ser entendida como a solução
de um problema de acoplagem entre as ações de Alter e de
Ego. No caso de uma acoplagem bem sucedida haveria uma
redução do espaço de possibilidades de escolha
conflitantes.
Ora, existem dois tipos básicos de interação dep endendo
do modo como os planos de ação de Alter venham a se r
acoplados aos de Ego (69):

16
- No primeiro caso, a linguagem comum é utilizada a penas
como medium para a transmissão de informações ( agir
estratégico ).
- No segundo caso, a linguagem é utilizada também c omo
fonte de integração social ou de entendimento entre Alter e
Ego ( agir comunicativo ).
Isso significa que no próprio agir comunicativo podemos
deparar-nos com séries de ações estruturadas
teleologicamente. Entretanto, para haver uma acopla gem
entre Alter e Ego mister se faz uma mudança de atit ude.
Porquanto o medium da linguagem só pode exercer tal função
de acoplagem quando consegue interromper os planos de ação
comandados pelo sucesso próprio (agir teleológico) (ND 72).
Com isso, as orientações egocêntricas de Alter ou de
Ego são colocadas sob os limites estruturais de uma
linguagem compartilhada intersubjetivamente (72) a qual
permite realizar uma mudança de perspectiva: os ato res
(Alter e Ego) abandonam momentaneamente o enfoque
objetivador, orientado pelo telos do sucesso própri o, e
adotam o enfoque performativo de um, agente ou fala nte que
pretende entender-se com uma segunda pessoa a respe ito de
algo no mundo (72).
Sem essa passagem para as condições do uso da li nguagem
orientado por entendimento, eles não têm acesso aos
potenciais ou energias ilocucionárias de acoplagem
inerentes à linguagem. E ao nível de um agir estrat égico
tais forças de acoplagem fenecem. A linguagem e a f ala
encolhem, se retraem e se estreitam passando a ser um
simples medium de informações (72).

17
4. CONCLUSÃO
Penso que as considerações lacônicas apresentada s
validam a hipótese de trabalho levantada no início. Elas
nos revelam que a comunicação é o elemento fundamen tal de
configuração de uma sociedade, seja ela pensada nos moldes
de uma constituição autorregulada e autopoiética de
sistemas psíquicos, seja ela imaginada no espaço pú blico
intersubjetivo de uma sociedade radicalmente democr ática e
comunicativa.
No primeiro caso, quando a comunicação entra em c ena
surge um sistema que mantem uma relação sui generis com o
seu entorno que é acessível enquanto informação e s eleção
de sentido.
No segundo, a comunicação trivial entre pessoas
constitui o ponto de partida para uma troca ilimita da de
argumentos e informações sobre três tipos de realid ade: o
mundo dos objetos, o mundo social e o mundo subjeti vo.