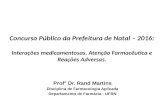Interações Medicamentosas Na Hipertensão
-
Upload
daniel-marques -
Category
Documents
-
view
120 -
download
3
description
Transcript of Interações Medicamentosas Na Hipertensão
-
INTERAES MEDICAMENTOSAS NA HIPERTENSO: PAPEL DO FARMACUTICO NO ACOMPANHAMENTO CLNICO DOS PACIENTES
Crisnatany Lillian Pereira Lima | Priscila Souza de Sena Rios | Cludio Moreira de Lima | Marcos Cardoso Rios
Farmcia
ISSN 1980-1769
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
RESUMO
A hipertenso arterial sistmica (HAS) acomete mais de 50% dos indivduos na faixa etria de 55 anos ou mais de idade. Estes pacientes merecem ateno especial pela possibi-lidade de interao medicamentosa j que, muitas vezes, fazem uso de associaes de me-dicamentos. Problemas relacionados a medicamentos, como interaes medicamentosas, podem repercutir negativamente na sade do paciente, provenientes do no alcance do objetivo teraputico desejado ou o aparecimento de efeitos indesejveis. Atravs de uma reviso de literatura, o objetivo deste trabalho foi identi car interaes medicamentosas que ofeream riscos sade de pacientes hipertensos, bem como a importncia dos cuida-dos farmacuticos a m de evit-las. Os medicamentos anti-hipertensivos podem interagir com vrias drogas, ou mesmo com alimentos, sendo que algumas interaes oferecem ris-cos potenciais ao paciente. O farmacutico capacitado o pro ssional mais indicado para realizar a identi cao e a monitorizao de possveis interaes medicamentosas, eviden-ciando a necessidade deste pro ssional na orientao quanto ao uso dos medicamentos.
PALAVRAS-CHAVE
Cuidados Farmacuticos. Hipertenso. Interaes Medicamentosas.
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
70 | ABSTRACT
Hypertension (HAS) aff ects more than 50% of individuals aged 55 years or older. The-se patients deserve special attention concerning the possibility of drug interactions as they often make use of combinations of antihypertensive drugs. Drug-related problems such as drug interactions may adversely aff ect the health of the patient, not from the range of the desired therapeutic goal or undesirable eff ects. The aim of this work was to identify drug interactions that cause risks to the health of patients with hypertension, as well as the im-portance of pharmaceutical care to avoid them through a literature review. The antihyper-tensive drugs can interact with various drugs, and some interactions off er potential risks to the patient. The pharmacist is the most quali ed person to perform the identi cation and monitoring of potential drug interactions, highlighting the need of this professional in ad-vising the use of drugs.
KEYWORDS
Pharmaceutical Care. Hypertension. Drug Interactions.
1 INTRODUO
A hipertenso arterial sistmica (HAS) uma condio clnica multifatorial caracteri-zada por nveis elevados e sustentados de presso arterial (PA). Associa-se frequentemente a alteraes funcionais e/ou estruturais dos rgos-alvo (corao, encfalo, rins e vasos sanguneos) e a alteraes metablicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e no fatais (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSO).
Segundo a Vigilncia de Fatores de Risco e Proteo para Doenas Crnicas por In-qurito Telefnico (VIGITEL), a proporo de brasileiros com diagnstico mdico prvio de hipertenso arterial alcanou 23,3% em 2010, sendo ligeiramente maior em mulheres (25,5%) do que em homens (20,7%). Em ambos os gneros, o diagnstico de hipertenso arterial se torna mais comum com a idade, alcanando cerca de 8% dos indivduos entre os 18 e os 24 anos de idade e mais de 50% na faixa etria de 55 anos ou mais de idade (BRASIL, 2011).
Pacientes com hipertenso arterial utilizam medicamentos de uso crnico e, muitas vezes, associaes de anti-hipertensivos, j que poucos hipertensos conseguem o controle ideal da presso com um nico agente teraputico. Alm disso, com frequncia o paciente hipertenso necessita tambm de outros medicamentos de uso contnuo, para tratamento de patologias associadas e/ou complicaes do prprio quadro hipertensivo. Dessa forma, esses pacientes merecem ateno especial pela possibilidade de interao medicamentosa (SCHOROETER, 2007; MORENO et al., 2007).
A interao medicamentosa pode ser de nida como a in uncia recproca entre um ou mais frmacos ou entre frmacos e outras substncias e tem como consequncia um efeito diferente do esperado ou desejado. As interaes medicamentosas podem interferir nas concentraes sricas e, consequentemente, na e ccia dos frmacos envolvidos (PAI et al., 2006, apud ARBEX et al., 2010).
Os medicamentos podem interagir durante o preparo, por interaes fsico-qumicas entre os componentes da soluo ou pela mistura em mesmo recipiente, incorrendo fora do organismo; ou no organismo, no momento da absoro, distribuio, metabolizao,
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
| 71eliminao, podendo induzir a modi caes na sua concentrao plasmtica, ou na liga-o ao receptor farmacolgico, induzindo, dessa maneira, aumento ou reduo da ativida-de farmacolgica de um dos medicamentos. Desta forma, os mecanismos envolvidos no processo interativo so classi cados de acordo com o tipo predominante de fase farmaco-lgica em que ocorrem: farmacutica, farmacocintica e farmacodinmica (SECOLI, 2001; MIYASAKA ; ATALLAH, 2003).
Ressalta-se que a interao medicamentosa uma das causas de problemas relacio-nados a medicamentos (PRM), situao que no processo de uso do medicamento pode repercutir negativamente na sade do paciente, provenientes do no alcance do objetivo teraputico desejado ou o aparecimento de efeitos indesejveis (MACHUCA et al., 2004).
Diante do exposto, so imperativos os cuidados farmacuticos, demandados pela (a) necessidade social, (b) necessidade de uma prtica centrada no paciente, (c) atendimento s necessidades farmacoteraputicas do indivduo. O farmacutico dever identi car e re-solver problemas reais ou mesmo prevenir problemas potenciais associados farmacotera-pia, como as interaes medicamentosas perigosas para o paciente (CIPOLLE et al., 2006). Desta forma, a atuao do farmacutico especialmente importante quando os regimes teraputicos so complexos, com administrao de mltiplos produtos, em pacientes ido-sos ou crnicos (ROZENFELD, 2008).
2 JUSTIFICATIVA
A maioria dos pacientes hipertensos usurio da polifarmcia. Medeiros et al. (2009) apontaram que a mdia de consumo de medicamentos em pacientes idosos, faixa etria em que se encontra a maioria dos hipertensos, foi 4,5 medicamentos. Um estudo realizado no municpio de Iju/RS por Bueno et al. (2009) demonstrou uma utilizao mdia de 5,2 medicamentos, observando-se 4 interaes medicamentosas por idoso.
A elevada prevalncia da hipertenso arterial no Brasil e os males que o uso conco-mitante de medicamentos anti-hipertensivos com outras drogas pode causar despertaram o interesse em realizar um estudo sobre as possveis interaes medicamentosas para este grupo de risco e como o pro ssional farmacutico pode atuar na preveno do apareci-mento destas, fazendo com que o tratamento farmacolgico seja o mais seguro possvel.
3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Identi car interaes medicamentosas que ofeream riscos sade de pacientes hi-pertensos, destacando a importncia dos cuidados farmacuticos a m de evit-las.
3.2 Objetivos Especficos
Fazer levantamento na literatura sobre os medicamentos anti-hipertensivos mais utilizados;
Determinar mecanismos de interaes medicamentosas entre os frmacos anti--hipertensivos - outras drogas e frmacos anti-hipertensivos - alimentos;
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
72 | Caracterizar o papel do farmacutico na preveno de interaes medicamento-sas em pacientes hipertensos.
4 METODOLOGIA
Nesta reviso de literatura, a busca ativa de informaes foi executada utilizando os seguintes descritores: interaes medicamentosas, drug interaction, hipertenso arte-rial, hypertension, farmacutico, pharmacist, ateno farmacutica, pharmaceutical care, automedicao, inibidores da ECA, ACE inhibitors, diurticos, diuretics, beta-bloqueadores, betablokers, captopril, hidroclorotiazida, hydrochlorothiazide e propra-nolol. As informaes extradas foram avaliadas quanto relevncia, atualizao, citaes e adequao tcnica. Os critrios de incluso foram estudos originais, livros e dissertaes cujas publicaes se deram entre os anos 2000 e 2011, nos idiomas espanhol, portugus ou ingls. No estudo foram excludas cartas ao editor e publicaes em congressos.
5 REVISO DE LITERATURA
5.1 Medicamentos Anti-Hipertensivos
Schoroeder et al. (2007) observaram que os medicamentos anti-hipertensivos mais usados por pacientes idosos portadores de HAS foram os diurticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e betabloqueadores, devido ao fornecimento dos mes-mos pelo Sistema nico de Sade (SUS).
Linarelli et al. (2009) con rmaram os resultados de Schoroeder et al. (2007), ao mos-trar em seu estudo que os medicamentos anti-hipertensivos mais prescritos foram captopril (65,0%), pertencente classe dos IECA, seguido da hidroclorotiazida (44,4%) e do proprano-lol (28,4%), diurtico e betabloqueador, respectivamente, havendo uma predominncia do uso de IECA em relao aos diurticos.
A predominncia do captopril como frmaco de escolha pode ser devida a um efei-to mais favorvel na qualidade de vida, com boa tolerabilidade, que favorece a adeso do paciente; como o tratamento da hipertenso crnico, esta questo constitui um impor-tante aspecto a ser considerado (NEAL et al., 2000, apud LINARELLI et al., 2009).
5.2 Interaes Medicamentosas
5.2.1 Aines e anti-hipertensivos
As prostaglandinas (PGs) vasodilatadoras endgenas, mediadores qumicos da in a-mao, tm papel importante na siopatognese da hipertenso, uma vez que modulam a vasodilatao, a ltrao glomerular, a secreo tubular de sdio/gua e o sistema renina--angiotensina-aldosterona, os quais so fatores essenciais no controle da presso arterial (LOPES, 2005). As PGs so ainda mais importantes em pacientes hipertensos, os quais pos-suem baixa produo de renina (DOWD et al., 2001). Portanto, a inibio da formao de PGs e a abolio da inibio induzida por PGs na reabsoro de Cl- e na ao do hormnio antidiurtico, ocasionando reteno de sal e gua, provocada pelos anti-in amatrios no--esteroidais (AINEs), podem levar a diversos efeitos colaterais; entre eles, o aumento da presso arterial, sendo os hipertensos os pacientes de maior risco (FORTES ; NIGRO, 2005; BURKE et al., 2010).
Embora se deseje atuao sobre PGs patolgicas (COX-2), a no especi cidade de
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
| 73muitos desses frmacos interfere na sntese de PGs constitutivas (COX-1) e efeitos home-ostticos. Destarte, os AINES podem diminuir a ao dos anti-hipertensivos, pois inibem a sntese de PGs renais de modo que todos os frmacos do largo espectro dos AINEs somen-te devem ser prescritos aps considerao do balano risco/benefcio (BATLOUNI, 2010; BURKE et al., 2010).
De acordo com Fortes e Nigro (2005), todos os AINEs podem antagonizar parcial ou totalmente os efeitos de muitos agentes anti-hipertensivos. Dessa forma, podem aumentar a morbidade relacionada hipertenso arterial. O efeito na presso arterial pode levar a crises hipertensivas.
As classes de anti-hipertensivos cujo mecanismo de ao envolve tambm a sntese das prostaglandinas vasodilatadoras, como diurticos, IECA e betabloqueadores, sofrem mais interferncia dos AINEs em seus efeitos do que os bloqueadores dos canais de clcio e antagonistas dos receptores de angiotensina II, uma vez que no dependem da PGs renais (BATLOUNI, 2010).
Silva Jnior et al. (2008) encontraram a interao entre dipirona e o captopril como a mais prevalente entre AINEs e anti-hipertensivos, j que estes frmacos so os mais prescri-tos de suas respectivas classes. O diclofenaco foi considerado o segundo AINE com maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares em pacientes hipertensos, devido, principal-mente, ao aumento da presso arterial.
O cido acetilsaliclico (AAS), usado pela maioria dos pacientes em baixas doses (80 a 200 mg) para preveno de acidentes cardiovasculares, relacionado ao aumento dos nveis pressricos quando em uso crnico, sobretudo no paciente idoso (SILVA JNIOR et al., 2008; CODAGNONE NETO et al., 2010).
5.2.2 Ieca e ltio
Os IECA agem fundamentalmente pela inibio da enzima conversora de angiotensi-na, bloqueando a transformao da angiotensina I em II no sangue e nos tecidos, embora outros fatores possam estar envolvidos nesse mecanismo de ao (VI DIRETRIZES BRASI-LEIRAS DE HIPERTENSO).
A supresso do sistema renina-angiotensina-aldosterona pelo IECA provoca a eleva-o da excreo de sdio. Esta, por sua vez, interfere na excreo do ltio, elevando as suas concentraes plasmticas, com risco de toxicidade. Dessa forma, pacientes que fazem uso concomitante de IECA e ltio devem ter os nveis sanguneos deste ltimo monitorizados mais estreitamente (GUS, 2006, apud GONZAGA et al., 2009; MARCOLIN et al., 2004; RIBEI-RO ; MUSCAR, 2001).
5.2.3 Ieca e espironolactona
Embora no se conhea a real frequncia da interao, a literatura vem mostrando que pacientes tratados com IECA e espironolactona, um diurtico poupador de potssio an-tagonista da aldosterona, tm uma maior tendncia no desenvolvimento de hipercalemia. Isto acontece porque estes diurticos competem com a aldosterona, inibindo a secreo do potssio. Ressalta-se que outros frmacos so capazes de aumentar o potssio plasm-tico, como os betabloqueadores e antagonistas dos receptores de angiotensina. Ocasional-
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
74 | mente, essa co-administrao tem provocado arritmias e mortes (NOVAES ; GOMES, 2006; LIMA et al., 2008; RANG et al., 2008).
5.2.4 Captopril e furosemida
Vrios estudos apontam a interao entre o captopril e a furosemida como uma das mais frequentes em hipertensos (FERREIRA SOBRINHO; NASCIMENTO, 2006; VERONEZ ; SIMES, 2008).
A furosemida pertence classe dos diurticos da ala, os quais provocam a perda de 15% a 25% do Na+ ltrado. Dessa maneira, provocam perda excessiva de Na+ e K+. O uso concomitante de furosemida com captopril pode provocar um efeito hipotensor aditivo (RANG et al., 2008; AZEVEDO, 2007).
5.2.5 Captopril e venlafaxina
A venlafaxina um antidepressivo com potente ao bloqueadora da recaptao de noradrenalina e serotonina, de modo que poder elevar a PA de pacientes normotensos, geralmente em nveis no patolgicos sem, portanto, implicar em repercusses clnicas signi cativas. Entretanto, em pacientes hipertensos, essa alterao da PA poder trazer con-sequncias clnicas moderadas ou at graves (SUCAR, 2000).
H relato de descompensao dos nveis tensionais, antes estveis com captopril, aps a introduo da venlafaxina (RICHELSON, 1997, apud MARCOLIN, et al., 2004). Pos-sivelmente, o aumento da atividade noradrenrgica tenha sido ampliado na presena do captopril, que, alm de diminuir a concentrao de angiotensina II, aumenta a concentra-o da bradicinina. Logo, o aumento da neurotransmisso noradrenrgica nesse caso seria seguido por uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina, sendo possvel ainda um aumento na degradao da bradicinina, que desempenha papel decisivo na regulao dos nveis pressricos, nessa situao, por sua ao vasodilatadora (SUCAR, 2000).
5.2.6 Captopril e alimentos
O captopril, quando administrado prximo ou durante as refeies, no adequa-damente absorvido; logo, h uma diminuio no seu efeito teraputico. Dessa forma, re-comenda-se administr-lo uma hora antes ou duas horas aps as refeies. Um acompa-nhamento mais prximo dos pacientes pelos pro ssionais de sade durante a prescrio e/ou administrao de medicamentos necessrio. Alm disso, pacientes em tratamento de doenas crnicas devem ser orientados sobre estas questes farmacolgicas, a m de mi-nimizar as reaes adversas e interaes medicamentosas (drogas/alimentos e alimentos/drogas) (LOPES, et al., 2010; MOURA; REYES, 2002).
5.2.7 Diurticos e ltio
Os diurticos tendem a aumentar a eliminao urinria de outros frmacos, mas isto raramente clinicamente importante. Por outro lado, os diurticos tiazdicos e de ala au-mentam a excreo de sdio e, indiretamente, a reabsoro tubular do ltio, reduzindo o seu clearance renal e, consequentemente, induzindo o aumento de suas concentraes sanguneas, com risco de toxicidade (BATLOUNI, 2009; RANG et al. 2008).
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
| 755.2.8 Hidroclorotiazida/furosemida e digoxina
Todos os diurticos que agem antes da poro nal do tbulo contorcido distal, como os de ala e os tiazdicos, promovem aumento da excreo de K+. A perda urinria desse on maior com os tiazdicos, devido sua ao mais prolongada, di cultando a atuao intermitente dos mecanismos de reteno de potssio (BATLOUNI, 2009).
As associaes hidroclorotiazida versus digoxina e furosemida versus digoxina po-dem resultar em um quadro de intoxicao digitlica, caracterizado por arritmias. A ao dos digitlicos se baseia na alterao do equilbrio sdio/potssio em ambos os lados da membrana miocrdica, e o nvel plasmtico, principalmente do potssio, in ui decisiva-mente na sua ao. Um decrscimo dos nveis plasmticos de potssio potencializa a ao dos digitlicos, o que pode ser desencadeado pelo uso da furosemida ou da hidroclorotia-zida. Se a hipocalemia for intensa ou a dose de digitlicos for bastante elevada, pode haver a precipitao da intoxicao digitlica (ESPOSITO ; VILAS-BOAS, 2001, apud VERONEZ ; SIMES, 2008).
5.2.9 Diurticos e hipoglicemiantes orais
Os efeitos adversos dos tiazdicos no metabolismo de glicose em pacientes diabticos tm sido observados desde a sua introduo na prtica clnica (BATLOUNI, 2009).
Os diurticos podem antagonizar a ao hipoglicemiante, principalmente das sul-fonilureias, cuja funo estimular a liberao de insulina pelas clulas das ilhotas de Langerhans, atravs do bloqueio da secreo de insulina pelo pncreas. A hipocalemia tem sido apontada como possvel mecanismo siopatognico relacionado alterao do meta-bolismo de carboidratos (ESPOSITO; VILAS-BOAS, 2001; MION et al., 2001, apud VERONEZ; SIMES, 2008; BATLOUNI, 2009).
O uso contnuo de diurticos de ala induz alteraes mnimas no metabolismo da glicose, provavelmente pela ao de curta durao, ensejando que mecanismos compen-satrios sejam utilizados para neutralizar os efeitos relacionados intolerncia glicose. Entretanto, se vrias doses de diurticos de ala forem utilizadas durante o dia, os efeitos metablicos passam a ser similares (BATLOUNI, 2009).
Estes pacientes deveriam ter sua glicemia rigorosamente controlada, e a calemia tambm deve ser vigiada e corrigida se detectada uma perda de potssio considervel (VE-RONEZ ; SIMES, 2008).
5.2.10 Hidroclorotiazida e propranolol
Esta interao eleva os nveis de glicose sangunea por atuao direta da hidroclo-rotiazida no bloqueio de secreo de insulina e na produo heptica de glicose, na qual os betabloqueadores inibem de forma indireta a captao tissular da glicose sangunea, causando um alto risco de crise hiperglicmica, principalmente em pacientes diabticos (ESPSITO ; VILAS-BOAS, 2001, apud VERONEZ ; SIMES, 2008).
5.2.11 Betabloqueadores e rifampicina
A rifampicina um potente indutor do sistema citocromo P450 (CYP450), incluindo
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
76 | as subfamlias CYP3A e CYP2C, que representam mais de 80% das isoenzimas da CYP450. Portanto, a rifampicina pode aumentar o metabolismo de frmacos que so metabolizados de forma parcial ou total pelo CYP450, quando administrados de maneira concomitante. Alm disso, a rifampicina tambm induz a UDP-glicuroniltransferase, outra enzima impli-cada no metabolismo de diversos medicamentos que podem ter seus nveis plasmticos reduzidos quando administrados em conjunto (BACIEWICZ et al., 2008, NIEMI et al., 2003, apud ARBEX et al., 2010)
Os betabloqueadores so extensamente metabolizados pelo fgado e, quando admi-nistrados concomitantemente rifampicina, tm sua concentrao plasmtica diminuda. Aconselha-se espaar em at 12 h o intervalo de administrao entre os frmacos (ARBEX et al., 2010, PETRI JR, 2010).
5.2.12 Propranolol e hidralazina
A hidralazina um anti-hipertensivo pertencente classe dos vasodilatadores dire-tos, os quais atuam sobre a musculatura da parede vascular, promovendo relaxamento muscular com consequente vasodilatao e reduo da resistncia vascular perifrica (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSO).
Alguns estudos apontam para a ocorrncia de interao entre a hidralazina e o pro-pranolol, resultando em aumento da biodisponibilidade deste ltimo. As evidncias suge-rem que esse aumento da biodisponibilidade do propranolol no decorre da inibio de seu metabolismo, mas sim em funo das aes hemodinmicas induzidas pela hidralazina, que determinam reduo do tempo para o metabolismo de primeira passagem do frmaco (MCLEAN, 1980; BYRNE et al., 1984, apud CAMPANA et al., 2009).
5.2.13 Betabloqueadores no-seletivos e sulfonilureias
Os betabloqueadores interferem no mecanismo regulador da glicemia, mediado pe-las catecolaminas, especialmente na glicogenlise, mecanismo este produzido em resposta a um episdio hipoglicmico.
Ao ocorrer uma crise de hipoglicemia, se produz liberao de adrenalina endge-na, resultando numa maior produo heptica de glicose e diminuio de captao nos tecidos insulino-sensveis. Como os betabloqueadores atuam bloqueando os receptores beta-adrenrgicos, a adrenalina no consegue desempenhar tal papel (ESPOSITO ; VILAS--BOAS, 2001; apud, VERONEZ ; SIMES, 2008; GUS et al.., 2005; NERY, 2007).
A glibenclamida age estimulando a secreo de insulina e pode desencadear hipogli-cemia. Dessa forma, quando associada aos betabloqueadores, pode acontecer um aumen-to potencial da frequncia e severidade de episdios de hipoglicemia (RANG et al, 2008; CODAGNONE NETO et al., 2010; ESPOSITO ; VILAS-BOAS, 2001 apud, VERONEZ ; SIMES, 2008; GUS et al., 2005;).
5.2.14 Propranolol e amiodarona
A amiodarona um frmaco que pertence classe III dos antiarrtmicos. Tem um espectro alargado de indicaes, sendo e caz no tratamento de arritmias supraventricu-lar, nodal e ventricular. Alm de ser um potente antiarrtmico, um dos poucos que pode
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
| 77ser utilizado com segurana na disfuno ventricular esquerda grave. Pode ainda, segun-do alguns trabalhos, reduzir a mortalidade cardaca ps-enfarte do miocrdio (VAUGHAN WILLIAMS, 1984, JULIAN et al., 1997, SINGH et al., 1995, CEREMUZYNSKKI et al., 2000 apud CAMPOS, 2004).
A amiodarona no deve ser administrada conjuntamente ao propranolol. A interao entre esses dois medicamentos pode levar a processos de assistolia ou brilao ventricular por um mecanismo desconhecido. O mesmo no ocorre com outros betabloqueadores (GUSMO ; MION, 2006, apud VERONEZ ; SIMES, 2008).
6 OS CUIDADOS FARMACUTICOS
Um fator importante para reduzir as interaes medicamentosas a abordagem mul-tidisciplinar focada no paciente, devendo-se integrar ao diagnstico mdico o juzo far-macutico, visando a elaborao de uma proposta concisa e racional da farmacoterapia (FERREIRA SOBRINHO ; NASCIMENTO, 2006).
O farmacutico detm conhecimentos em farmacologia e toxicologia, tornando-se o pro ssional mais indicado para realizar a identi cao e a monitorizao de possveis in-teraes medicamentosas em prescries, representando uma das ltimas oportunidades de, ainda dentro do sistema de sade, corrigir os possveis riscos associados terapu-tica (FERREIRA SOBRINHO ; NASCIMENTO, 2006). Suas responsabilidades, no momento da dispensao, so mltiplas, envolvendo questes de cunho legal, tcnico e clnico. No momento que antecede o aviamento da receita/prescrio, o farmacutico pode examin--la atentamente, cruzando estas informaes com dados da histria clnica do paciente. imprescindvel o total entendimento das informaes constantes na prescrio (BROWN, 1997, apud PEPE ; CASTRO, 2000).
A Organizao Mundial da Sade (OMS) preconiza que o farmacutico destine orientao ao menos trs minutos por paciente. Este tempo possibilita que sejam repassa-das durante a dispensao informaes importantes, tais como a nfase no cumprimento da dosagem, a in uncia dos alimentos, a interao com outros medicamentos, o reco-nhecimento de reaes adversas potenciais e as condies de conservao dos produtos (BRASIL, 2001; SANTOS ; NATRINI, 2004).
A proximidade desse pro ssional junto comunidade destaca sua posio estratgica na implementao de projetos no combate hipertenso, tendo como local de realizao a prpria farmcia e a aplicao de uma nova prtica: a Ateno Farmacutica, de nida como a proviso responsvel do tratamento farmacolgico com o objetivo de alcanar resultados satisfatrios na sade, melhorando a qualidade de vida do paciente. Dessa for-ma, proporciona a reduo das reaes adversas, das interaes medicamentosas e dos agravamentos da patologia (MORENO et al., 2007; PEREIRA ; FREITAS, 2008; EUROPHARM Frum/CINDI, 2000, OPS/OMS, 2002 apud RENOVATO ; TRINDADE, 2004).
As interaes medicamentosas podem resultar em problemas relacionados a medi-camentos (PRM), categorizados conforme os Consensos de Granada e Minnesota, em tipos 4 e 6, e serem causa de Resultados Negativos associados ao Medicamentos (RNM). O PRM 4 se refere ao problema de falta de efetividade quantitativo. Neste caso, a interao de dois frmacos faz com que o efeito de um deles diminua. J o PRM 6 um problema de segu-rana quantitativo, no qual a interao medicamentosa resulta no aumento do efeito de um
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
78 | dos frmacos, e o paciente manifesta reao como se a dose tivesse ultrapassado sua dose mxima segura (MACHUCA et al., 2004; VICTORIO et al., 2008).
Victrio et al. (2008) analisaram 500 prescries de pacientes hipertensos e encontra-ram 1638 potenciais PRM. Destes, 20% correspondiam ao PRM 4 (falta de efetividade) e 7%, ao PRM 6 (problema de segurana). Tais resultados indicam a necessidade de implantao dos servios de Ateno Farmacutica a grupos espec cos, em particular, a usurios de medicamentos anti-hipertensivos, visto que tal prtica pode evitar o uso irracional dessas substncias, principalmente com associaes inadequadas que podem causar srios danos sade do indivduo (VERONEZ ; SIMES, 2008).
7 CONSIDERAES FINAIS
O presente estudo evidenciou a necessidade da presena do pro ssional farmacuti-co na equipe multidisciplinar, ofertando seus cuidados aos portadores da hipertenso arte-rial. Estes pacientes esto mais expostos ao risco de interaes medicamentosas, j que, na sua maioria, so usurios de uma grande quantidade de medicamentos e esto acima dos 55 anos, faixa etria que traz consigo mudanas na farmacocintica e na farmacodinmica associadas ao envelhecimento.
A dispensao adequada e a prestao de servios e cuidados farmacuticos podem contribuir para diminuir tal risco, tornando a farmacoterapia mais segura e e caz.
SOBRE O TRABALHO
Esse artigo foi produzido como Trabalho de Concluso do Curso de Farmcia, no perodo de 2011/1. Contato eletrnico com os autores: Crisnatany Lilian Pereira Lima ([email protected]), graduada em Farmcia pela Universidade Tiradentes UNIT. Prisci-la Souza de Sena ([email protected]), Especialista em Farmcia Hospitalar pela UNIT, Cludio Moreira de Lima ([email protected]), Mestre em Tecnologia Farmacu-tica pela Universidade de So Paulo - USP, Marcos Cardoso Rios ([email protected]), Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal da Sergipe UFS, so docentes do curso de Farmcia da UNIT.
REFERNCIAS
ARBEX, M.M.; VARELLA, M.C.L.; SIQUEIRA, H.R.; MELLO, F.A.F. Drogas antituberculose: In-teraes medicamentosas, efeitos adversos e utilizao em situaes especiais. Parte 1: Frmacos de primeira linha. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 36, n. 5, p. 626-640, 2010.
AZEVEDO, R.C.P. Estudo da liberao in vitro de captopril cpsulas magistrais por cromato-gra a lquida de alta presso. Alfenas, MG, 2007. 180f. Dissertao (Mestrado em Cincias Farmacuticas). Universidade Federal de Alfenas, 2007.
BATLOUNI, M. Anti-in amatrios No Esteroides: Efeitos Cardiovasculares, Crebro-vascu-lares e Renais. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 94, n.4, p. 556-563, 2010.
BATLOUNI, M. Diurticos. Revista Brasileira de Hipertenso, v.16, n.4, p. 211-214, 2009.
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
| 79BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Secretaria de Gesto Estra-tgica e Participativa. Vigitel Brasil 2010: Vigilncia de Fatores de Risco e Proteo para Doenas Crnicas por Inqurito Telefnico. Braslia: Ministrio da Sade, 152 p., 2011.
BRASIL Ministrio da Sade. Secretaria de Polticas de Sade. Departamento de Ateno Bsica. Poltica nacional de medicamentos 2001/Ministrio da Sade, Secretaria de Po-lticas de Sade, Departamento de Ateno Bsica. Braslia: Ministrio da Sade, 2001.
BUENO, C.S.; OLIVEIRA, K.R.; BERLEZI, E.M.; EICKHOFF, H.M.; DALLEPIANE, L.B.; GIRARDON--PERLINI, N.M.O.; MAFALDA, A. Utilizao e medicamentos e risco de interaes medica-mentosas em idosos atendidos pelo Programa de Ateno ao Idoso da Uniju. Revista de Cincias Farmacuticas Bsica e Aplicada, v.30, n.3, p.331-338, 2009.
BURKE, A.; SMYTH, E.; FITZGERALD, G. A. In: GOODMAN ; GILMAN. As Bases Farmacolgi-cas da Teraputica. 11 ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.
CAMPANA, E.M.G.; LEMOS, C.C.; MAGALHES, M.E.C.; BRANDO, A.A.; BRANDO, A.P. In-teraes e associaes medicamentosas no tratamento da hipertenso Bloqueadores alfa-adrenrgicos e vasodilatadores diretos. Revista Brasileira de Hipertenso, v.16, n.4, p. 231-236, 2009.
CAMPOS, M.V. Efeitos da Amiodarona na Tireoide. Aspectos Atuais. Acta Mdica Portugue-sa, v.17, p.241-246, 2004.
CIPOLLE, R.J.; STRAND, L.M.; MORLEY, P.C. O exerccio do cuidado farmacutico. Con-selho Federal de Farmcia, Braslia, 2006.
CODAGNONE NETO, V.; GARCIA, V.P.; SANTA HELENA, E.T. Possible pharmacological in-teractions in hypertensive and/or diabetic elderly in family health units at Blumenau (SC). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v.46, n.4, p.795-804, 2010.
DOWD, N.P.; SCULLY, M.; ADDERLEY, S.R.; CUNNINGHAM, A.J.; FITZGERALD, D.J. Inhibition of cyclooxygenase-2 aggravates doxorubicin-mediated cardiac injury in vivo.J Clin Invest, v.108, n.4, p.585-90. 2001
FERREIRA SOBRINHO, F.; NASCIMENTO, J.W.L. Avaliao de interaes medicamentosas em Prescries de Pacientes Hospitalizados. Racine, n.94, 2006.
FORTES, Z.B.; NIGRO, D. Aspectos farmacolgicos da interao anti-hipertensivos e antiin- amatrios no-esteroides. Revista Brasileira de Hipertenso, v.12, n.2, p. 108-111, 2005.
GONZAGA, C.C.; PASSARELLI JR, O.; AMODEO, C. Interaes medicamentosas: inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores dos receptores da angiotensina II, inibidores diretos da renina. Revista Brasileira de Hipertenso, v. 16, n. 4, p. 221-225, 2009.
GUS, M.; GUERRERO, P.; FUCHS, F.D. Perspectivas na associao de frmacos no tratamento da hipertenso arterial sistmica. Revista de Cardiologia, v. 14, n.6, p.127-34, 2005.
LIMA, M.V.; OCHIAI, M.E.; CARDOSO, J.N.; MORGADO, P.C.; MUNHOZ, R.T.; BARRETTO, A.C.P. Hiperpotassemia na Vigncia de Espironolactona em Pacientes com Insu cincia Cardaca Descompensada. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.91, n.3, p.194-199, 2008.
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
80 | LINARELLI, M.C.B.; MASSAROTTO, A.N.; ANDRADE, A.M.G.M.C.; JOAQUIM, A.P.; MEYER, L.G.C.; GUIMARES, L.; SANTIAGO, M.C.; FELIPPE, M.B.; LAGE, R. Anlise do uso racional de medicamentos anti-hipertensivos utilizados em hospital-escola. Revista de Cincias M-dica, v.18, n.4, p. 193-200, 2009.
LOPES, E.M.; CARVALHO, R.B.N.; FREITAS, R.M. Analysis of possible food/nutrient and drug interactions in hospitalized patients. Einstein, v.8, n.3, parte 1, p. 298-302, 2010.
LOPES, H.F. Marcadores in amatrios e hipertenso arterial. Revista Brasileira de Hiperten-so, v.12, n.2, p. 112-113, 2005.
MACHUCA, M.; FRNANDEZ-LLIMS, F.; FAUS, M.J. Mtodo Dder. Manual de Acompa-nhamento Farmacoteraputico. 45 p., 2004. Grupo de Investigao em Ateno Farma-cutica. Universidade de Granada.
MARCOLIN, M.A.; CANTARELLI, M.G.; GARCIA JUNIOR, M. Interaes farmacolgicas entre medicaes clnicas e psiquitricas. Revista de Psiquiatria Clnica, v.31, n.2, p. 70-81, 2004.
MEDEIROS, A.C.D.; COSTA, A.R.; PALMEIRA, A.C.; SIMES, M.O.S.; CALDEIRA, C.C. Utilizao de medicamentos por idosos assistidos por uma Farmcia Comunitria. Latin American Journal of Pharmacy, v. 28, n. 5, p. 700-705, 2009.
MIYASAKA, L.S.; ATALLAH, A.N. Risk of drug interaction: combination of antidepressants and other drugs. Revista de Sade Pblica, v. 37, n. 2, p. 212,215, 2003.
MORENO, A.H.; NOGUEIRA, E.P.; PEREZ, M.P.M.S.; LIMA, L.R.O. Ateno farmacutica na pre-veno de interaes medicamentosas em hipertensos. Revista do Instituto de Cincias da Sade, v. 25, n. 4, p. 373-377, 2007.
MOURA, M.R.L.; REYES, F.G.R. Interao frmaco-nutriente: uma reviso. Revista de Nutri-o, v.15, n.2, p. 223-238, 2002.
NOVAES, M.R.C.G.; GOMES, K.L.G. Estudo da utilizao de medicamentos em pacientes pe-ditricos. Infarma, v.18, n.7, 2006.
PEPE, V.L.E.; CASTRO, C.G.S.O. A interao entre prescritores, dispensadores e pacientes: in-formao compartilhada como possvel benefcio teraputico. Caderno de Sade Pblica, v.16, n.3, p.815-822, 2000.
PEREIRA, L.R.L.; FREITAS, O. A evoluo da Ateno Farmacutica e a perspectiva para o Brasil. Revista Brasileira de Cincias Farmacuticas, vol. 44, n. 4, p.601-612, 2008.
PETRI JR, W.A. In: GOODMAN ; GILMAN. As Bases Farmacolgicas da Teraputica. 11 ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
RENOVATO, R.D.; TRINDADE, M.F. Ateno Farmacutica na Hipertenso Arterial em uma Farmcia de Dourado, Mato Grosso do Sul. Infarma, v.16, n.11-12, p. 49-55, 2004.
-
Cadernos de Graduao - Cincias Biolgicas e da Sade | Aracaju | v. 13 | n.14 | p. 69-81 | jul./dez. 2011
| 81RIBEIRO, W.; MUSCAR, M.N. Caractersticas farmacocinticas de antagonistas de clcio, inibidores da ECA e antagonistas de angiotensina II em humanos. Revista Brasileira de Hi-pertenso, v.8, p.114/124, 2001.
ROZENFELD, S. Farmacutico: pro ssional de sade e cidado. Revista Cincia ; Sade Coletiva, v. 13, supl., p. 561-568, 2008.
SANTOS, V.; NATRINI, S.M.O.O. Indicadores do uso de medicamentos prescritos e de assis-tncia ao paciente de servios de sade. Revista de Sade Pblica, v. 38, n.6, p. 819-826, 2004.
SECOLI, SR. Interaes medicamentosas: fundamentos para a prtica clnica da enferma-gem. Rev Esc Enf. USP, v.35, p. 28-34, 2001.
SCHOROEDER, G.; TROMBETTA, T.; FAGGIANI, F.T.; GOULART, P.V.; CREUTZBERG, M.; VIE-GAS, K.; SOUZA, A.C.A.; CARLI, G.A.; MORRONE, F.B. Terapia anti-hipertensiva utilizada por pacientes idosos de Porto Alegre/RS, Brasil. Scientia Medica, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 14-19, 2007.
SILVA JNIOR, E.D.; SETTE, I.M.F.; BELM, M.F.; PEREIRA, G.J.S.; BARBOSA, J.A.A. Interao medicamentosa entre antiin amatrios no-esteroides e anti-hipertensivos em pacientes hipertensos internados em um hospital pblico: uma abordagem em farmacovigilncia. Revista Bahiana de Sade Pblica/Secretaria da Sade do Estado da Bahia, v.38, n.1, p.18-28, 2008. SUCAR, D.D. Interao medicamentosa de venlafaxina com captopril. Revista Brasileira de Psiquiatria, v.22, n.3, p. 134-137, 2000.
VERONEZ, L.L.; SIMES, M.J.S. Anlise da prescrio de medicamentos de pacientes hiper-tensos atendidos pelo SUS da rede municipal de sade de Rinco SP. Revista de Cincias Farmacuticas Bsica Aplicada, v.29, n. 1, p. 45-51, 2008.
VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSO. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Revista Brasileira de Hipertenso, v. 17, n. 1, 2010.
VICTORIO, C.J.M.; CASTILHO, S.R.; NUNES, P.H.C. Identi cao de potenciais problemas re-lacionados com medicamentos a partir da anlise de prescries de pacientes hipertensos. Revista Brasileira de Farmcia, v.89, n.3, p.233-235, 2008.