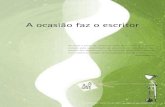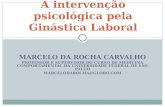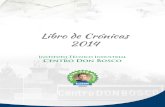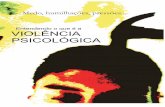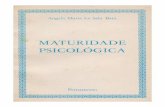Intervencao Psicologica Pacientes Com Dor Cronica
-
Upload
gabrielsteffen -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of Intervencao Psicologica Pacientes Com Dor Cronica
-
625
Implicaes da Doena Orgnica Crnica na Infncia para asRelaes Familiares: Algumas Questes Tericas
Elisa Kern de CastroCsar Augusto Piccinini 1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
ResumoO presente artigo examina algumas questes tericas e achados de estudos recentes acerca das implicaes da doena orgnicacrnica na infncia. Analisam-se, em particular, as conseqncias emocionais da enfermidade precoce tanto para a criana comopara sua famlia, especialmente no que se refere relao me-criana. Alm disso, discute-se as dificuldades enfrentadas pelafamlia ao lidar com uma criana doente e os possveis riscos de ajustamento aos quais ela pode estar exposta. Apesar dos avanosno tratamento de doenas crnicas orgnicas infantis e a melhora nas taxas de sobrevivncia dessas crianas, poucas investigaesso encontradas na literatura em relao s implicaes emocionais e familiares da doena orgnica crnica na infncia. Osestudos revisados sugerem que mudanas importantes nos relacionamentos familiares podem ocorrer quando h uma crianacom doena crnica orgnica na famlia, em particular no que se refere ao estresse parental, isolamento social, comportamentosde superproteo com a criana e riscos aumentados para desajustes psicolgicos tanto para a criana quanto para seus genitorese irmos.Palavras-chave: Doena crnica; infncia; relaes familiares.
Implications of Physical Chronic Disease in Childhoodto Family Relationships: Some Theoretical Questions
AbstractThe present article examines some theoretical questions and reviews recent findings concerning the implications of physicalchronic disease in childhood. The emotional consequences of the disease to the child and the childs family, in particular to thechild-mother relationship are analyzed. Furthermore, family difficulties when dealing with an ill child and the possible risks tohis/her adjustment are discussed. Despite the medical advances in the treatment of childhood physical chronic diseases and theincrease on survival rates of these children, there are few studies on the emotional and family implications of a physical chronicdisease in childhood. The reviewed studies suggest that important changes in family relationships may happen when a child hasa physical chronic disease, such as parental stress, social isolation, overprotective behavior, and increased risk of psychologicalmaladjustment to the child, his/her parents, as well as to his/her brothers and sisters.Keywords: Physical chronic disease; childhood; family relationship.
A doena crnica na infncia apresenta uma prevalnciabastante elevada com implicaes para o desenvolvimentoda prpria criana e tambm para sua relao familiar.Estimativas sobre sua prevalncia indicam que entre 15% e18% da populao infantil americana pode sofrer de algumaforma de disfuno crnica, incluindo condies fsicas,deficincias no desenvolvimento, dificuldades deaprendizagem e doena mental (Perrin & Shonkoff, 2000).Aproximadamente 7% destas crianas sofrem de algumalimitao nas suas atividades dirias. No caso da doenaorgnica crnica, objeto do presente estudo, estima-se quesua prevalncia seja de aproximadamente 5% nos pases
ocidentais (Garralda, 1994). A literatura nacional nomenciona informaes precisas sobre a prevalncia dedoena crnica na infncia. Dentre as inmeras doenascrnicas que surgem na infncia podemos destacar afibrose cstica (Goldberg, Gotowiec & Simmons, 1995;Goldberg, Washington, Morris, Fischer-Fay & Simmons,1990; Stark, 1999), doenas hepticas (Bradford, 1997;Hoffman, Rodrigue, Andres & Novak, 1995; Minde,1999; Stewart & cols., 1988), cardiopatias congnitas(Clark & Miles, 1999; Goldberg & cols., 1995), paralisiacerebral (Findler, 2000; Pianta, Marvin, Britner, Browitz,1996) e cncer (Zahr & El-Haddad, 1998).
A doena crnica se caracteriza por seu curso demorado,progresso, necessidade de tratamentos prolongados(Wasserman, 1992) e pelo seu impacto na capacidadefuncional da criana (Heinzer, 1998). Embora o tratamentomdico para as doenas orgnicas crnicas tenha evoludoe as taxas de sobrevivncia tenham aumentado de formasignificativa, a criana geralmente precisa passar por
1 Este artigo baseado em parte da dissertao de mestrado de Elisa Kernde Castro realizada sob orientao de Csar Augusto Piccinini, apresentadano Programa de Ps-Graduao em Psicologia do Desenvolvimento daUFRGS, Porto Alegre, RS.2 Endereo para correspondncia: Rua Ramiro Barcelos, 2600, 90035-003,Porto Alegre, RS. E-mail: [email protected] /[email protected]
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2002, 15(3), pp. 625-635
-
626
procedimentos mdicos aversivos, hospitalizaes eagravamento de sua condio fsica (Garralda, 1994;Wallander, Varni & Babini, 1988).
Alguns estudos apontam que a criana portadora dedoena crnica pode ter seu desenvolvimento fsico eemocional afetado, podendo apresentar desajustespsicolgicos decorrentes da enfermidade e do tratamento(Bennet, 1994; Burke & Elliot, 1999; Hamlett, Pellegrini &Katz, 1992; Walker & Zeman, 1992). Entretanto, os achadosdestes estudos que tentam explicar a forma pela qual essesdesajustes ocorrem numa perspectiva interacional da crianacom sua famlia so ainda inconsistentes e at contraditrios.
Dessa forma, pretende-se com o presente trabalhocontribuir para um melhor entendimento das implicaesda doena orgnica crnica na infncia para a relao dacriana com sua famlia, em especial para a dade me-criana. Inicialmente sero abordadas questes referentes criana portadora de doena orgnica crnica e as relaesfamiliares. Em seguida, sero discutidos os aspectosemocionais decorrentes da doena crnica na infncia. Porfim, examina-se em particular a interao me-criana emcrianas que apresentam doena orgnica crnica.
Ao examinarem situaes envolvendo doena crnica,alguns autores fazem referncia tanto doenas crnicasorgnicas (Ex.: fibrose cstica, cardiopatias congnitas,insuficincia renal crnica, atresia de vias biliares, cirroseheptica, cncer, hemofilia, aids); deficincias fsicas (Ex.:deformidades ou falta de algum membro do corpo, fissuralbio-palatal, deficincia visual e auditiva); dificuldades deaprendizagem e enfermidades neurolgicas (Ex.: epilepsia,paralisia cerebral, dficit de ateno); doena mental (Ex.:autismo); e, ainda, doenas psicossomticas (Ex.: asma,obesidade).
Considerando que o objetivo do presente estudo foi ode examinar especificamente a doena orgnica crnicaexcluiu-se, na medida do possvel, artigos que estudaramoutros tipos de doena crnica. Isto no quer dizer queachados e consideraes tericas sobre um tipo particularde doena crnica no possam ser utilizado paracompreender a dinmica familiar envolvendo os demaistipos de doena. Para evitar repeties o termo doenacrnica ser utilizado abaixo para se referir s doenasorgnicas, ou seja, aquelas que envolvem ocomprometimento ou mau funcionamento de algum rgoou sistema do organismo da criana. Quando necessriosero especificadas outras formas de doena crnica, comopor exemplo, doena mental.
A Criana Portadora de Doena Crnica e sua FamliaO papel da famlia no bem-estar da criana que sofre
de doena crnica tem sido estudado por diversos autores
(Berenbaum & Hatcher, 1992; Gngora, 1998; Kazak,Reber & Carter, 1988; Krahn, 1993; Silver, Westbrook &Stein, 1998; Walker & Zeman, 1992). A doena crnicapode ser vista como um estressor que afeta odesenvolvimento normal da criana e tambm atinge asrelaes sociais dentro do sistema familiar. A rotina da famliamuda com constantes visitas ao mdico, medicaes ehospitalizaes (Hamlett & cols., 1992) e acaba atingindotodas as pessoas convivendo com a criana (Bradford, 1997;Gngora, 1998).
Os recursos psicolgicos dos genitores, da prpriacriana e a estrutura familiar interagem e podem contribuirpara a adaptao da criana doena. Por vezes, odesajustamento da criana doente pode estar maisrelacionado com o modo como a famlia lida com a crianado que com os comportamentos da criana em si (Wallander& Varni, 1998). O suporte familiar e as competncias decada membro da famlia so importantes fontes deinformao e influenciam o modo da criana lidar coma doena (Hamlett & cols., 1992). Por exemplo, a investigaorealizada por Hoffman e colaboradores (1995) sobreajustamento social de crianas com doena crnica de fgadomostrou que o funcionamento familiar um preditorimportante do ajustamento da criana. A famlia pode servircomo moderadora na atenuao dos efeitos negativos dadoena, promovendo para a criana um ambiente facilitadorpara o seu envolvimento em atividades sociais.
Nas famlias em que um de seus membros esteja doentetrs subsistemas estariam interagindo: o paciente e suaenfermidade, a famlia e sua rede social e os servios desade (Gngora, 1998). Para o autor, a intervenopsicolgica deve orientar-se para o que ocorre em cada ume entre esses subsistemas. Tomando por base a teoria familiarsistmica, Gngora descreve trs modelos tericos quebuscam explicar o que ocorre nestes subsistemas quandoum membro da famlia apresenta doena crnica. Noprimeiro, denominado modelo da famlia patolgica,algumas caractersticas da famlia tais como falta de limitesinter-individuais e entre os subsistemas, carncia dehabilidades de soluo de problemas e padres de interaorgidos seriam caractersticas predominantes destas famlias.Isto teria grande influncia no curso de algumas doenascrnicas, como por exemplo na diabetes, asma e outrosproblemas psicossomticos. O segundo, denominadomodelo de afrontamento familiar, se refere especialmente afamlias com um membro esquizofrnico. Esse modelo tentamostrar como determinadas caractersticas da famlia, comopor exemplo, hostilidade e crticas, podem predizer recadasda doena. Finalmente, o modelo de impacto examina aorganizao da famlia como resultado do impacto dadoena crnica no seu modo de funcionamento.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2002, 15(3), pp. 625-635
Elisa Kern de Castro & Csar Augusto Piccinini
-
627
A contextualizao do estresse familiar associado doena crnica, especialmente o parental, precisa levarem conta as prprias caractersticas das mes e pais e apercepo que eles possuem com relao doena dofilho (Berenbaum & Hatcher, 1992). Entretanto, Kazak,Reber e Carter (1988) referiram que as diferentes respostasque as famlias tm com relao ao estresse podem sermuito influenciadas pela rede de apoio social quepossuem.
Embora os resultados das investigaes no sejamconclusivos, mudanas na natureza do apoio socialpodem ocorrer em famlias com crianas com problemasde sade (Kazak & cols. 1988; Krahn, 1993; Pelletier,Godin, Lepage & Dussault, 1994). Estes autoresassinalaram que, embora a importncia do apoio social sejarelativa, pois depende de quem d e das necessidades dequem recebe, mes de crianas doentes tendem a percebero apoio social recebido como insuficiente. Para Krahn(1993), sentimentos de apoio social inadequados estariamparticularmente associados a doenas que necessitam demuitos cuidados por parte das mes e geram altos nveisde estresse. De qualquer forma, o autor encontrou que oapoio social recebido pelas famlias com crianas doentestende a ser menor do que o apoio social de famlias comcrianas saudveis. Pelletier e colaboradores (1994)verificaram que mes de crianas cronicamente enfermascarecem de apoio emocional e de informao, necessitamcompartilhar sentimentos pessoais e precisam ser encorajadasnas suas habilidades de cuidar da criana. Alm disso, essasmes referiram que os profissionais de sade poderiam ajud-las se propiciassem grupos de auto-ajuda para mes e paisque vivem a mesma experincia. Com relao famliaextensiva da criana, Heinzer (1998) salientou que, alm deajudar pouco e frustrar os genitores da criana doente, muitasvezes os parentes criticam as escolhas feitas por eles,contribuindo para o seu isolamento social. Contrariandoessas idias, o estudo realizado por Findler (2000) noencontrou diferenas no que diz respeito ao apoio recebidode familiares e de amigos por mes de crianas com paralisiacerebral e mes de crianas saudveis. Um dos achadosinteressantes desse estudo foi a importncia dos avs,considerados por algumas mes como figuras de apoiomais importantes do que os prprios pais dessas crianas.
O isolamento social da famlia em que um dos membros portador de doena crnica um acontecimento freqenteque pode deixar o doente mais vulnervel a transtornosemocionais, perpetuar o estigma da doena e criarproblemas para o enfrentamento da enfermidade(Gngora, 1998). Isso pode ocorrer por diversas razes,dentre elas a natureza da prpria doena, o estigma social,
como no caso da aids, e a evitao da famlia em falarsobre a doena.
As repetidas visitas a mdicos, hospitais e a necessidadede assegurar que as medicaes sejam dadas em horasespecficas so fatores que potencializam o estresse dessasmes e pais com um filho com doena crnica (Bradford,1997). Eles sentem seus papis parentais muito maisexigidos do que nas situaes em que a criana saudvel.Mesmo assim, importante que eles sejam encorajadosdesde cedo a participar das rotinas de cuidados e remdioscom a criana (Quittner, Opipari & Espelage, 1998). Oestudo de Silver e colaboradores (1998) comparou o nvelde estresse de mes e pais de crianas saudveis e comdoena crnica envolvendo ou no limitao funcional.Os resultados no revelaram diferenas no nvel deestresse entre o grupo saudvel e doentes sem limitaofuncional. Contudo, mes e pais de crianas doentes comlimitao funcional, envolvendo restries na audio,viso, comunicao, no brincar ou atividades da vida diriareportaram mais estresse que os dois primeiros grupos.Em um estudo sobre estresse materno realizado porBerembaum e Hatcher (1992) com mes de crianas dediversas idades entre as quais um grupo que estavainternado em UTIs, outro que estava na enfermariapeditrica e um terceiro grupo que apenas foi ao hospitalpara consultas ambulatoriais, verificou-se que as mes doprimeiro grupo eram mais ansiosas, apresentavam maissintomas depressivos e maior confuso. Por outro lado,as mes de crianas dos outros dois grupos (internadasna enfermaria ou que foram ao hospital para consulta)apresentaram os mesmos nveis de estresse. Canning,Harris e Kelleher (1996) encontraram um dado curiososobre estresse paterno e sua relao com o sexo dacriana. Segundo esses pesquisadores, genitores demeninas cronicamente enfermas eram mais vulnerveisao estresse do que genitores de meninos. Para os autores,uma explicao possvel para isso seria de que os genitoresde meninas expressavam seu estresse de forma maisaberta e clara do que os genitores de meninos.
Embora seja plausvel supor que os nveis de estressede pais e mes de crianas cronicamente doentes sejamparecidos, geralmente as mes se envolvem mais noprocesso de tratamento indo com mais freqncia aohospital e interagindo com a equipe de profissionais quetratam da criana (Silver & cols., 1998). O estudo dePelletier e colaboradores (1994) mostrou que em cada10 visitas da criana doente ao hospital, em mdia asmes a acompanharam em oito. De qualquer modo, Clarke Miles (1999) assinalaram a importncia da incluso dospais nas decises sobre o tratamento da criana. Ademais,eles devem ser mantidos informados sobre o progresso
Implicaes da Doena Orgnica Crnica na Infncia para as Relaes Familiares: Algumas Questes Tericas
-
628
e cuidados que a criana necessita. Segundo os autores,sentimentos de responsabilidade, de necessidade demanterem controladas suas emoes e serem fortes paraapoiar a me da criana foram os sentimentos reveladospor pais de bebs com doena cardaca congnita queparticiparam do estudo. Encobrindo seus prpriossentimentos, estresse e necessidades pessoais, os paispermaneciam aparentemente fortes para manter seu papelde cuidador da famlia, que foi conseguido atravs dotrabalho e da manuteno da rotina. Ainda que sejaimportante respeitar esta necessidade de manter o controlee permanecer forte para os outros, os autores acreditamque esses pais tambm necessitem de oportunidades parafalar sobre suas preocupaes e medos.
Aspectos Emocionais da Doena Crnica na InfnciaEpisdios de doena na infncia podem proporcionar
aprendizado sobre o conceito de sade e doena para acriana (Walker & Zeman, 1992). Entretanto, quando se tratade crianas cronicamente doentes, o longo processo deadaptao enfermidade exige que ela se adapte a umaexperincia difcil de enfrentar (Hamlett & cols., 1992).
Na verdade, as tarefas desenvolvimentais de crianassaudveis e crianas portadoras de doena crnica sosimilares (Bradford, 1997; Wallander & Varni, 1998). Noentanto, cumprir com as tarefas prprias da infncia elidar com o estresse comum desta etapa se torna maisdifcil para a criana enferma. A existncia de sintomasdolorosos associados doena e as constantes avaliaese tratamentos podem alterar seu funcionamento fsico emental, bem como sua interao com o ambiente(Bradford, 1997). Assim, embora a possibilidade deatrasos no desenvolvimento da criana seja relativa, aautonomia e a independncia em atividades podem sermodificadas pela doena crnica.
Para Wasserman (1992), quando o incio da doenacrnica ocorre em perodos especficos do seudesenvolvimento, como no perodo de aprendizagemdo caminhar, isto pode prejudic-la de forma particular,podendo, por exemplo, restringir sua autonomia. Osinmeros cuidados com remdios, alimentao e horriospodem interferir no desejo de controle da criana, gerandoapatia e passividade. Alm disso, as mes e pais, muitasvezes, tm dificuldades em impor limites necessrios aoscomportamentos das crianas, que pode interferirtambm no controle dos seus impulsos.
Dependendo do estgio de desenvolvimento cognitivoem que a criana se encontra ela ter um conceito de doenae sade. Essa sua concepo de doena afetar sua percepodos sintomas, sua reao emocional frente doena, suaexperincia de dor e desconforto, sua aceitao de cuidados
mdicos bem como sua resposta ao tratamento (Berry,Hayford & Ross, 1993; Goldman, Granger, Whitney-Saltiel & Rodin, 1991). Crianas hospitalizadas que nocompreendem o motivo do tratamento tendem aperceber o mdico como algo negativo e assustador(Goldman & cols., 1991). Alm disto, crianas entre 6meses e 4 anos de idade podem sofrer mais com ahospitalizao do que crianas maiores, talvez pela maiordificuldade em entender o que est se passando(Berenbaum & Hatcher, 1992). Wasserman (1992) ampliaesta explicao sugerindo que crianas entre 18 meses e3 anos de idade, devido ao seu egocentrismo, sentem-seculpadas pela doena e hospitalizaes e sua percepoda doena se relaciona com a interferncia que elaprovoca na sua vida. Mescon e Honig (1995) revelaramque, mesmo quando a criana doente sente-serazoavelmente bem, ela demonstra dificuldades emobedecer me e ao pai e a tomar certos remdios,especialmente quando isso ocorre vrias vezes ao dia. s no momento em que a criana passa a adquirir afuno simblica, representao mental e a linguagemque ela se torna capaz de expressar seu entendimento dadoena com maior clareza.
Os estudos acima sugerem que a forma como adoena representada pelo indivduo influencia seu modode agir sobre ela. Entretanto, no existem muitos estudosque esclaream sobre como a criana entende, organiza eexperiencia a doena. No estudo realizado por Goldmane colaboradores (1991) sobre a representao da doenaem crianas saudveis entre 4 e 6 anos, verificou-se queelas percebiam a doena como algo externo, nodemonstravam indcios do entendimento do seu papel namanifestao da enfermidade e a maioria delas acreditavaque a doena iria curar-se por ela mesma num curto espaode tempo. Em outra investigao, Sterling e Friedman(1996) examinaram as respostas empticas em crianascronicamente doentes e crianas saudveis, entre 6 e 12anos de idade, atravs de um filme com situaes desofrimento. Os achados mostraram que as crianasdoentes tinham mais habilidade de tomar o lugar do outroe entender suas dificuldades nessas situaes do que ascrianas saudveis. possvel que a criana doente crnicadesenvolva a habilidade emptica mais cedo do que seuspares normais, e isso pode ser visto como um resultadopositivo dessa experincia.
A criana percebe quando est seriamente doente nosomente pelas dores e mal-estares que sente, mas tambmpela preocupao e angstia de sua famlia (Wasserman,1992). Alm de ter a percepo da sua doena, oconhecimento da criana sobre seu corpo intrnseco aoseu conceito de doena (Mescon & Honig, 1995). A partir
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2002, 15(3), pp. 625-635
Elisa Kern de Castro & Csar Augusto Piccinini
-
629
de sua experincia como psicanalista de crianas, Aberastury(1984) revelou que desde muito cedo a criana capaz desentir e expressar seu temor morte, principalmente atravsda linguagem no-verbal. A criana percebe, tambm, fatosque os adultos lhe tentam esconder, inclusive situaes dedoena. O que acontece, freqentemente, que os adultosno entendem esses sinais da criana e, ainda, tm dificuldadesem aceitar sua condio.
Um fator que tem sido investigado como potencialmenteassociado a doena crnica a depresso infantil. Emboraos resultados se mostrem controversos, a depresso emcrianas doentes se constitui em um problema que atinge asua percepo e experincia com a doena (Bennet, 1994;Burke & Elliot, 1999; Hoffman, 1995). Obviamente,existem muitos fatores de risco para a depresso infantilalm da prpria doena crnica tais como histriapsiquitrica na famlia (especialmente depresso) e eventosestressores do ambiente (Burke & Elliot, 1999). Estesautores atribuem a depresso em crianas cronicamentedoentes como resultado de interaes entre a vulnerabilidadeda criana para a depresso, caractersticas da prpriadoena, estressores do ambiente e eventos de vida. Hdificuldades em diagnosticar a depresso em situaesenvolvendo doena crnica, pois os sinais e sintomas dadoena freqentemente se sobrepem a esses. Tambm importante se examinar se o tipo de doena crnicadifere em suas conseqncias psicolgicas para compreendera relao entre depresso e doena crnica peditrica. Pareceque caractersticas especficas da doena bem como fatorescomuns a todas elas so importantes para determinar sea criana doente desenvolver sintomas psicolgicos, masno claro quais caractersticas da doena so maisinfluentes. Embora no haja evidncias conclusivas,existem indcios de que a depresso seja mais comumem crianas maiores que tenham doena crnica do queem crianas pequenas (Burke & Elliot, 1999).
Por exemplo, Hoffman e colaboradores (1995)mostraram que crianas portadoras de doena hepticaentre 4 e 12 anos de idade apresentavam apreenso,medo, ansiedade e depresso. A maioria dessas crianasprecisa passar por diversas hospitalizaes e alteraesna aparncia em funo da ascite. Soma-se a isto restriesnas suas atividades fsicas que podem limitar as suasoportunidades de engajamento social, com conseqnciasnegativas no desenvolvimento social da criana. Essavulnerabilidade social no ocorre somente quando oestgio da doena est avanado, mas em qualquer etapa.Entretanto, segundo Hoffman e colaboradores, crianascuja doena heptica pouco severa acabam tendo maisoportunidades de participao em atividades sociais.
Apesar de crianas cronicamente doentes possuremgrandes riscos para depresso, a maioria no apresentaeste diagnstico (Bennet, 1994). Alm disto, segundo oautor, quando a durao da doena longa as crianastendem a apresentar menos depresso do que aquelascuja durao da doena curta, o que pode ocorrerdevido ao desenvolvimento de estratgias para lidar comela. Alguns autores relacionaram os baixos nveis dedepresso em crianas doentes crnicas, em especialcrianas com cncer, ao que tem sido chamado de estilorepressivo adaptativo (E. H. Canning, R. D. Canning &Boyce, 1992a; Phipps, Steele & Leigh, 2001; E. H. Canning,Hanser, Shade & Boyce, 1992b). Este estilo caracteriza-sepor um funcionamento altamente defensivo e tem sidoassociado a diversas conseqncias negativas para a sadeda criana, incluindo tenso, dores de cabea, alergias, lcerae hipertenso (Phipps & cols., 2001), como se a crianasubestimasse ou escondesse seus sintomas e sua ansiedade(E. H. Canning & cols., 1992a). O estudo de Phipps ecolaboradores (2001) revelou que um ano aps o diagnsticode cncer, mesmo as crianas e adolescentes j curados aindamantinham o estilo repressivo adaptativo como forma delidar com a situao da doena.
De fato, em funo das caractersticas dissociativas erepressivas de alguns indivduos que tiveram experinciastraumticas - incluindo a doena crnica - pode surgir umquadro de estresse ps-traumtico tanto nas crianas quantonos pais, que contribui para dificuldades na aderncia aotratamento (M. Z. Wamboldt & F. Wamboldt, 2000). Porisso, E. H. Canning e colaboradores (1992b) alertaram paraque os profissionais de sade estejam atentos para apossibilidade da criana doente obscurecer os sintomas deestresse e o prprio agravamento de sua condio de sade.
Alm de associada depresso e ao estilo repressivoadaptativo, a doena crnica na infncia tem sido tambmrelacionada com freqncia a desajustes comportamentais(Bennet, 1994; Burke & Elliot, 1999; Hamlett & cols.,1992; Meijer & Oppenheimer, 1995; Silver, Stein &Dadds, 1996; Sterling & Friedman, 1996; Wallander &cols., 1988; Wallander & Varni, 1998). Os achados indicamque crianas com doena crnica possuem maiores riscosde apresentarem problemas de comportamento, emboramuitas delas no os desenvolvam. Um dos poucos achadosconsistentes de que crianas com doenas crnicasrelacionadas ao crebro sofrem de mais desordenspsicolgicas ou de comportamento do que crianas comoutras doenas crnicas (Bradford, 1997; Gortmaker,Walker, Weitzman & Sobol, 1990; Wasserman, 1992).Entretanto, a relao entre doena crnica e problemasde comportamento no est ainda claramente estabelecida.Contribui para isto a falta de uma definio conceitual mais
Implicaes da Doena Orgnica Crnica na Infncia para as Relaes Familiares: Algumas Questes Tericas
-
630
precisa sobre o prprio conceito de problema decomportamento que acaba muitas vezes limitado sdefinies operacionais dos instrumentos utilizados paramedi-lo nos diferentes estudos (Alvarenga & Piccinini, 2001).
Evidncias recentes apontam, inclusive, para uma forteassociao entre o nmero de hospitalizaes no primeiroano de vida (no necessariamente envolvendo doenacrnica) e a presena de problemas de comportamentono quarto ano, conforme estudo de Anselmi, Piccinini eBarros (em preparao). Em um extenso estudo queinvestigou os determinantes dos problemas decomportamento em 634 crianas acompanhadas desde onascimento, os autores verificaram que, dos 20 fatoresoriginalmente investigados, o nmero de hospitalizaes nos esteve significativamente correlacionado aos problemasde comportamento como foi um dos poucos que semanteve na equao final de regresso mltipla contribuindopara explicar a varincia total.
O risco aumentado para problemas de comportamentoem crianas cronicamente enfermas parece ter pouca relaocom caractersticas scio-econmicas, demogrficas e raciais(Gortmaker & cols., 1990) e tambm com o sexo dacriana (Bradford, 1997). Todavia, outros fatores almda sua sade fsica podem estar influenciando ocomportamento da criana (Silver & cols., 1996), dentreeles o estresse associado doena (Hamlett & cols., 1992),o funcionamento familiar (Meijer & Oppenheimer, 1995;Wallander & Varni, 1998), as oportunidades limitadas desocializao, a dependncia aumentada e as eventuaislimitaes fsicas (Bennett, 1994). Meijer e Oppenheimer(1995) enfatizaram ainda que no foram encontradas relaesentre gravidade da doena e ajustamento psicolgico.Contudo, alguns tipos de doenas crnicas mais instveis einvisveis, como por exemplo asma, tm sido maisfreqentemente relacionadas com desordens emocionais nacriana (Meijer & Oppenheimer, 1995). Uma melhorcompreenso dos comportamentos no ajustados da crianacom doena crnica poder ajudar os profissionais em suasintervenes visando ajudar as interaes destas crianas comos diversos contextos que as cercam famlia, escola, equipemdica (Wallander & cols., 1988).
Wallander e Varni (1998) assinalaram tambm aimportncia do estudo do temperamento da crianaenferma, pois alguns tipos poderiam predispor a crianaa um funcionamento mais ajustado s demandasambientais. Numa pesquisa sobre a relao entretemperamento e doena crnica na infncia (Zahr & El-Haddad, 1998), verificou-se que as mes destas crianasas percebiam como mais persistentes, menos adaptveise mais difceis de lidar em comparao com seus paressaudveis. Alm disso, crianas mais gravemente doentes
e do sexo masculino foram consideradas como tendotemperamento mais difcil. Foram tambm encontradasdiferenas relacionadas a doenas crnicas especificas,indicando que a natureza da doena pode influenciar apercepo materna sobre o temperamento da criana.Por exemplo, crianas com leucemia foram avaliadas porsuas mes como tendo temperamento mais difcil doque crianas com doena cardaca congnita ou asma, eas crianas com doena cardaca congnita forampercebidas como possuidoras de temperamento maisirregular do que crianas com asma.
Quanto s dificuldades de desenvolvimento dascrianas com doena crnica, Bradford (1997) examinouesse tema em crianas que sofriam atresia de vias biliarese aguardavam transplante heptico. Foram encontradosproblemas no desenvolvimento dessas crianas tanto deordem emocional como comportamental. As mes dessascrianas consideravam o processo da doena como aprincipal causa desses problemas na criana. Contudo, aidade com que apareceu a doena crnica parece ter sidoum fator importante no aparecimento dos problemasde desenvolvimento. Stewart e colaboradores (1988),compararam o funcionamento mental e o crescimentofsico de 21 crianas em que a doena heptica surgiuantes do primeiro ano de vida, e 15 pacientes em que adoena apareceu mais tarde (entre 17 meses e 12 anos).Os resultados evidenciaram que crianas que tiveram amanifestao da doena precocemente tiveram escoressignificativamente mais baixos em testes de inteligncia.Alm disso, tanto a estatura como a circunferncia da cabeadestas crianas eram menores comparadas crianas damesma idade. Segundo os autores, esses achados sugeremque as anormalidades metablicas especficas queacompanham a doena crnica de fgado podem terconseqncias bastante prejudiciais para o seudesenvolvimento, em particular no crebro ainda vulnervelde crianas pequenas, nas quais ainda no ocorreu uma plenamaturao do sistema nervoso central. Outra explicaopossvel oferecida pelos autores para explicar as diferenasde inteligncia entre os dois grupos foi a longa durao dadoena crnica, sua gravidade e o status nutricional agudo.Em funo das possveis conseqncias deste quadro clinico,eles sugeriram que o transplante heptico precoce poderiabeneficiar esses pacientes.
Como pode ser visto acima, vrios estudos comcrianas cronicamente enfermas tm examinado os riscose as dificuldades de ajustamento da criana e sua famlia.Embora os resultados destes estudos ainda no sejamdefinitivos (Bennet, 1994; Burke & Elliot, 1999; Hamlett& cols., 1992; Silver & cols., 1998), a reviso de literaturarealizada por Bauman, Drotar, Leventhal, Perrin e Pless
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2002, 15(3), pp. 625-635
Elisa Kern de Castro & Csar Augusto Piccinini
-
631
(1997) aponta para algumas propostas de intervenescom crianas com enfermidades crnicas objetivandominimizar ou reverter os eventuais problemas emocionais,como programas a serem desenvolvidos com crianasem suas famlias no ambiente hospitalar. As evidnciasmostraram que existem intervenes que podem ajudartanto as crianas como as famlias a lidar com asconseqncias psicolgicas e sociais associadas s doenascrnicas. Estas intervenes podem trazer contribuiesno s para melhorar a qualidade da interao destascrianas nos vrios contextos em que vive famlia, escola,equipe mdica -, como tambm para o prprio tratamentoda doena, atravs de respostas mais positivas da crianae da famlia s exigncias e demandas clnicas da doena.
A Relao Me-Criana em Crianas que ApresentamDoena Crnica
Os primeiros anos de vida da criana se constituem emuma etapa fundamental para o seu desenvolvimento fsicoe emocional. Nessa etapa, estabelecem-se as primeirasrelaes que formam a base para as relaes futuras (Bowlby,1989; Brazelton & Cramer, 1992; Stern, 1997).
A teoria do apego desenvolvida por Bowlby enfatizaa funo biolgica dos laos emocionais ntimos,especialmente entre a me e o beb, e a influncia doscuidadores principais para o desenvolvimento da criana(Bowlby, 1969/1990). A disponibilidade e prontidomaterna para responder adequadamente s solicitaes dofilho esto associadas capacidade da criana de explorar omundo e de perceber com tranqilidade que, ao retornar,sero bem-vindas, confortadas e nutridas fsica eemocionalmente Os estudos sobre o desenvolvimento doapego tm mostrado que a qualidade da interao me-beb determinante para os padres de apego da criana.Crianas com apego seguro tendem a ser confiantes,enquanto crianas com apego inseguro tendem a ser maisansiosas, evitativas e desorganizadas. Esta relao entrequalidade da interao me-beb e o apego influenciadapor diversos fatores associados tanto me, como porexemplo, suas caractersticas de personalidade (Canavarro,1999) e relao com sua prpria me (Sagi, vanIjzendoorn & Scharf, 1997), assim como relacionadas prpria criana, como por exemplo seu temperamento(Sameroff, Seifer & Schiller, 1996) e a prpria doenacrnica (Minde, 1999).
Na verdade, a relao me-beb j vai se constituindodurante a gravidez e at mesmo antes dela, na relao dagestante com sua prpria me e nas fantasias e brincadeirasde ser me que aparecem desde a sua infncia (Stern,1997). Mais especificamente durante a gravidez, a futurame vai desenvolvendo uma imagem ideal para seu beb
- o beb imaginrio (Brazelton & Cramer, 1992; Klaus& Kennel, 1992). Todavia, quando o beb nocorresponde s expectativas da me por causa de umaenfermidade e ela fica muito abalada no conseguindoresponder s necessidades do filho, o desenvolvimentodo vnculo entre eles pode ficar ameaado (Martini, 2000).Quando isto acontece, as representaes da me sobreseu beb ficam afetadas, dificultando sua avaliao doque acontece no presente e a sua imaginao quanto aofuturo da criana (Stern, 1997).
Mes e pais buscam uma explicao clara sobre adoena crnica do filho e sobre suas conseqncias, esentem-se frustrados quando isto no possvel (Irvin,Klaus & Kennel, 1992). Quando isso acontece, podemat mesmo se questionar quanto sua competnciagentica e isso pode levar a sentimentos de culpa. ParaWasserman (1992), o fantasma do beb saudvel podeinterferir na adaptao da famlia situao de doenacrnica, especialmente se o processo de luto no forresolvido adequadamente. A auto-estima dos genitoresfica diminuda e eles podem at sentir-se defeituosos.Apesar disso, segundo o autor, grande parte dos genitoresde bebs com doena crnica consegue aceitar a situaoestabelecendo objetivos e expectativas realistas que levamem conta as limitaes da criana.
Irvin e colaboradores (1992) salientaram ainda que apreocupao parental com relao incerteza dodesenvolvimento da criana, a culpa e a clera noresolvidas podem determinar um comportamentosuperprotetor nos cuidados da criana. Entretanto, adistncia entre superproteo e respostas adequadas snecessidades especiais da criana muito tnue. Bradford(1997) identificou modelos de interao familiar deproteo e dependncia, particularmente em crianasgravemente enfermas que aguardam cirurgia em centrosde transplantes. Especialmente as mes sentiam anecessidade de proteger a criana e tendiam a se isolardo convvio social. A presena de superproteo de mese pais juntamente com uma maior dependncia da crianapotencializam eventuais problemas emocionais ecomportamentais da criana.
Quando a interao pai/me-criana inadequada, acriana tem maiores riscos de atrasos e/ou dificuldadesno desenvolvimento, limitaes sociais, cognitivas,lingsticas e at negligncia (Leitch, 1999). Por exemplo,Goldberg e colaboradores (1990) enfatizaram que seeventualmente o beb, por sua doena ou deformao, menos responsivo sorrindo menos e oferecendo menoscarinho aos seus cuidadores, esses podem diminuir suainterao com a criana. Isto acaba afetando os modelospaternos bem estabelecidos de interao com o beb.
Implicaes da Doena Orgnica Crnica na Infncia para as Relaes Familiares: Algumas Questes Tericas
-
632
Wasserman (1992) ressaltou que um ponto importante aser investigado se as drogas que a criana est ingerindopodem estar interferindo no seu comportamento ecausando sonolncia, irritao, nuseas, ansiedade e depresso,com conseqncias negativas para a sua interao com osadultos e outras crianas do seu convvio.
Na verdade, a experincia de ser pais de crianas comdoena crnica pode variar enormemente, podendo servivida de forma bastante peculiar. Na investigaorealizada por Clark e Miles (1999), os autores encontraramque pais de crianas com doena cardaca congnitaexpressavam sentimentos ambivalentes com relao paternidade. Embora eles se sentissem alegres, havia apreocupao com a possvel perda associada doenada criana. Alguns pais expressaram o medo de apegar-se criana e interagir com ela por causa do risco demorte proeminente. Eles sentiam-se tomados por intensasemoes mas, apesar dos medos e preocupaes,conseguiam expressar sentimentos de apego paternal.
Estudos sobre apego e enfermidade em crianasportadoras de doena crnica tm mostrado resultadosinconsistentes. Goldberg e colaboradores (1990)encontraram menos apego seguro em crianas com doenacardaca congnita e crianas com fibrose cstica aos 12 e 18meses de idade quando comparadas crianas saudveis.Nos dois grupos clnicos o tipo de apego inseguro maiscomum foi o evitativo. Apesar dos autores teremevidenciado que a relao me-criana portadora de doenacrnica era mais resiliente do que suas expectativas iniciais,eles sugeriram que possa haver um aumento navulnerabilidade dessas dades, para um apego menosadequado.
No estudo realizado por Posada, Carbonell, Alzate,Bustamante e Arenas (1999) sobre apego com crianasdoentes no contexto hospitalar, os pesquisadores mostraramque mes sensitivas respondiam adequadamente aos sinaisda criana tanto em casa quanto no hospital. No entanto, nohospital elas lanavam mo de outros tipos decomportamento associados ao apego seguro para dar contadas necessidades da criana. Entre estes comportamentossensitivos destacavam-se: abraar a criana moldando-asao seu corpo, ajustar a postura da criana quando asmudavam de posio de forma cuidadosa, mostrar afetopelo toque, interagir com proximidade fsica em respostaaos sinais da criana, brincar, estimular e repetir palavrasdevagar e carinhosamente e criar um ambiente deinteresse para a criana. Esses comportamentos maternosprovavelmente indicam que mes sensitivas respondemao status precrio de sade da criana sendo carinhosasem mudanas que envolvem contato fsico e buscam secertificar que a criana est confortvel. Segundo os
autores, elas proporcionavam criana a experincia deajud-la a aliviar o desconforto de sua situao e dar alvio,mostrando que em diferentes contextos e situaes oscomportamentos do cuidador podiam variar, mas osresultados para a criana eram os mesmos. Contudo, ascrianas que participaram desse estudo no sofriam dedoena crnica e sim de enfermidades agudas.
J a investigao realizada por Stark (1999) sobreinterao pai/me-criana em portadoras de fibrose csticae crianas sem problemas de sade, no revelou diferenasentre os dois grupos em diversos tipos de comportamentosexaminados durante as refeies. No entanto, as famliascom crianas portadoras de fibrose cstica gastavam umamdia de seis minutos a mais de tempo durante a refeio,apresentando duas vezes mais comportamentos tantoadaptativos quanto desadaptativos. Neste sentido, asexigncias da dieta da criana com fibrose cstica podemeventualmente levar mes e pais a um maior estresse duranteas refeies devido uma maior freqncia de determinadoscomportamentos.
Com relao s intervenes na relao pai/me-crianacom crianas doentes crnicas, Minde (1999) salientou queas dificuldades que surgem nessa relao podem serreduzidas atravs de sesses teraputicas formais e doenvolvimento de uma equipe de sade que seja sensvel situao. Atravs da descrio de trs casos de crianas comproblemas hepticos crnicos com indicao de transplante,o autor evidenciou a existncia de uma ruptura na afetividadedessas crianas com seus cuidadores que foram amenizadascom acompanhamento psicolgico.
A literatura nacional sobre a relao me-criana emcrianas portadoras de doena crnica ainda escassa.No estudo realizado por Peanha (1993), o tipo de doenacrnica se mostrou um importante determinante docomportamento materno. A interao me-criana emdades com crianas asmticas foi menos harmnica doque com dades cujas crianas sofriam de doena cardacacongnita e crianas sem problemas de sade. As mesde crianas com asma foram mais intrusivas e menosresponsivas do que as mes dos outros dois grupos, compossveis implicaes na maneira pela qual a me lidacom a autonomia e dependncia com relao crianacom asma. A ausncia de diferenas entre os dois ltimosgrupos sugere que no necessariamente a doena crnicase constitui num determinante da intrusividade eresponsividade materna. Alm disto, os resultados sugeremque existem particularidades entre as doenas crnicasque podem contribuir para comportamentos especficosda me. Outro estudo, dessa vez sobre prticas educativasmaternas empregadas por mes de crianas com doenacrnica realizado por Piccinini, Castro, Alvarenga, Oliveira
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2002, 15(3), pp. 625-635
Elisa Kern de Castro & Csar Augusto Piccinini
-
633
e Vargas (manuscrito em preparao) mostrou que nohouve diferenas nos tipos de prticas indutivas ou coercitivasutilizadas pelas mes de ambos os grupos. Entretanto, umadas particularidades encontradas foi quanto categorianegociao/conversa, mais utilizada por mes de crianasdoentes, e quanto s categorias privao/castigo e puniofsica, menos utilizadas por elas. Embora a doena crnicapossa no ter um impacto determinante nas prticaseducativas maternas, os autores concluram que a maiorutilizao da categoria negociao/troca pode ser umamaneira adequada das mes lidarem com as diversassituaes estressantes que a criana vive no dia a dia taiscomo horrios de medicao, freqentes idas ao mdico,hospitalizaes, etc. Alm disso, o uso menos freqente deprivao/castigo e punio fsica pode ser devido fragilidade fsica e tambm psicolgica percebida pelas mesdessas crianas.
Consideraes Finais
A reviso de literatura apresentada acima aponta paraas possveis conseqncias de uma enfermidade crnicana infncia no s para a prpria criana, mas tambmpara sua famlia e, particularmente, para a relao me-criana. Apesar da existncia de poucos estudos que tratemdeste tema, as evidncias apontam que as relaes familiaresso fundamentais para o adequado enfrentamento da doenae do prolongado tratamento que comumente se faznecessrio. A necessidade de articulao terica sobre essaproblemtica, como j foi apontado por Bradford (1997),contribui para que a pesquisa nesta rea ainda sejarelativamente incipiente.
Os estudos revisados apontam que a presena dedoena crnica pode afetar negativamente a dinmicade interao de mes e pais com seu filho. Contudo, aexistncia de poucos estudos sobre este tema e acomplexidade dos fatores que interatuam nestas situaesno permite que se chegue a muitas concluses. Ascaractersticas da prpria doena crnica, a idade em quesurgiu, o prognstico e a assistncia mdica disponvel vointeragir com inmeros fatores subjetivos, comportamentaise sociais relacionados aos genitores e criana, criando umadinmica particular para cada caso investigado. Apesar disto,sabe-se pelas evidncias existentes que a presena de umacriana com doena crnica em uma famlia merece a atenoespecial no apenas do ponto de vista mdico, mas tambmna sua dimenso psicolgica e social.
Com relao ao funcionamento familiar, os pesquisadoresesto de acordo com a idia de que a famlia deve se adaptar nova realidade de convvio com um de seus membrosenfermo, e que padres rgidos de funcionamento ou a
dificuldade de mes e pais em aceitar a realidade podemagravar o desenvolvimento da criana. Todavia, comocada indivduo e cada famlia tem uma forma singularde ser e de enfrentar essa situao, no existe um modeloideal de funcionamento que possa servir a todos. Osuporte social recebido pelos genitores da criana, tantoda famlia extensiva quanto de amigos e dos profissionaisde sade, de fundamental importncia para o bem-estar da criana, pois ameniza o estresse de mes e pais,possibilitando uma maior tomada de conscincia doproblema da criana e conseqentemente uma vinculaomais adequada com seu filho.
Embora a presena de doena crnica tenha sidoconsiderada um fator de risco para problemascomportamentais e emocionais, os resultados dos diversosestudos j realizados tm sido inconsistentes tanto no que serefere prevalncia desses desajustes quanto aos possveisfatores indicadores de maior risco. Contribui para estequadro os diferentes critrios e medidas utilizadas nessasinvestigaes. De qualquer forma, as seqelas emocionaisque a enfermidade crnica pode causar na criana so muitase complexas, e a relao que ela vai estabelecer com seusgenitores parte importante deste processo.
Em funo da relevncia das primeiras relaes pai/me-beb para o desenvolvimento fsico e emocional dacriana, importante que esta relao seja cuidadosamenteavaliada em situaes envolvendo doena crnica, embusca de eventuais indicadores de problemas. Pesquisasrealizadas mostram que pode haver dificuldades especiaisde pais e mes em lidar com bebs com doena crnica,com conseqncias, inclusive, para seu desenvolvimentogeral. Ademais, podemos supor que diferentes enfermidadespodem gerar demandas e dificuldades especficas nessascrianas e em seus familiares. Parece que o tipo de doena eas exigncias de certos tratamentos podem interferir deforma particular na relao me-criana, especialmentequando ela tem incio precoce, mas tambm em funo donmero de hospitalizaes e da necessidade de cirurgias etransplantes. A relao da me com sua criana tende a serpermeada de medos com relao ao futuro da criana, bemcomo por culpa e sofrimento pela presena da doenacrnica. Para que possam superar esses sentimentos e sevincular criana da melhor forma possvel, pareceimportante que as mes tenham um relacionamentosatisfatrio com o parceiro, bem como suporte emocionale social, dentre outros fatores.
Frente s situaes envolvendo a doena crnica fundamental uma abordagem multiprofissional, queenvolva no s os seus aspectos clnicos, mas suasrepercusses psicolgicas e sociais, tanto para a crianacomo para a famlia. Torna-se necessrio que os profissionais
Implicaes da Doena Orgnica Crnica na Infncia para as Relaes Familiares: Algumas Questes Tericas
-
634
de sade estejam atentos aos aspectos que transcendem otratamento mdico da doena da criana, pois sem umaviso abrangente sobre sua evoluo e das relaes dacriana com as figuras significativas que a cercam, o xitodo tratamento pode ficar comprometido. Alm disso,uma boa relao entre a criana, a famlia e os profissionaisde sade facilita a tomada de conscincia sobre a extensoe a gravidade da enfermidade bem como sobre aaderncia da criana e famlia ao tratamento, especialmentenaqueles muito invasivos, dolorosos e prolongados, maissujeitos ao abandono ou a uma proteo exagerada criana.
Espera-se que a discusso destes temas contribua paraum melhor entendimento da complexidade que envolve adoena crnica na infncia e estimule a que profissionaisdesenvolvam possveis estratgias de interveno emocionale social que levem em conta as especificidades dos diversostipos de enfermidades crnica.
Referncias
Aberastury, A. (1984). A percepo da morte na criana e outros escritos (M. N.Folberg, Trad.). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Alvarenga, P. & Piccinini, C. A. (2001). Prticas educativas maternas e problemas de comportamento em pr-escolares. Psicologia: Reflexo eCrtica, 14(3), 449-460.
Bauman, L. J., Drotar, D., Leventhal, J. M., Perrin, E. C. & Pless, I. B. (1997).A review of psychosocial interventions for children with chronichealth conditions. Pediatrics, 100(2), 244-251.
Bennet, D. S. (1994). Depression among children with chronic medical problems: A meta-analysis. Journal of Pediatric Psychology, 19(2), 149-169.
Berenbaum, J. & Hatcher, J. (1992). Emotional distress of mothers ofhospitalized children. Journal of Pediatric Psychology, 17(3), 359-372.
Berry, S. L., Hayford, J. R. & Ross, C. K. (1993). Conceptions of illness bychildren with juvenile rheumatoid arthritis: A cognitivedevelopmental approach. Journal of Pediatric Psychology, 18(1), 83-97.
Bowlby, J. (1990). Apego e perda (Vol. 1: Apego) (A. Cabral, Trad.). So Paulo:Martins Fontes. (Original publicado em 1969)
Bowlby, J. (1989). Uma base segura: Aplicaes clnicas da teoria do apego (S. N.Barros, Trad.). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Bradford, R. (1997). Children, families and chronic disease. London: Routledge.Brazelton, T. B. & Cramer, B. G. (1992). As primeiras relaes (M. B. Cipolla,
Trad.). So Paulo: Martins Fontes.Burke, P. & Elliott, M. (1999). Depression in pediatric chronic illness: A
diathesis-stress model. Psychosomatics, 40(1), 243-249.Canavarro, M. C. (1999). Relaes afectivas e sade mental. Coimbra: Quarteto.Canning, E. H., Canning, R. D. & Boyce, W. T. (1992a). Depressive symptoms
and adaptative style in children with cancer. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 1120-1124.
Canning, E. H., Hanser, S. B., Shade, K. A. & Boyce, W. T. (1992b). Mentaldisorders in chronically ill children: Parent-child discrepancy andphysician identification. Pediatrics, 90(5), 692-696.
Canning, R. D., Harris, E. S. & Kelleher, K. J. (1996). Factor predicting distress among caregivers to children with chronic medical conditions.Journal of Pediatric Psychology, 21(5), 735-749.
Clark, S. M. & Miles, M. S. (1999). Conflicting responses: The experiencesof fathers of infants diagnosed with severe congenital heart disease.Journal of the Society of Pediatric Nurses, 4(1), 7-14.
Findler, L. S. (2000). The role of grandparents in the social support system of mothers of children with a physical disability. Families insociety, 81(4), 370-381.
Garralda, M. E. (1994). Chronic physical illness and emotional disorder inchildhood. British Journal of Psychiatry, 164, 8-10.
Goldberg, S., Gotowiec, A. & Simmons, R. (1995). Infant-mother attachmentand behavior problems in healthy and chronically ill preschoolers.Development and Psychopathology, 7, 267-282.
Goldberg, S., Washington, J., Morris, P., Fischer-Fay, A. & Simmons, R. J.(1990). Early diagnosed chronic illness and mother-child relationshipsin the fist two years. Canadian Journal of Psychiatry, 35(9), 726-733.
Goldman, S. L., Granger, J., Whitney-Saltiel, D. & Rodin, J. (1991). Childrensrepresentations of everyday aspects of health and illness. Journal ofPediatric Psychology, 16(6), 747-766.
Gngora, J. N. (1998). El impacto psicosocial de la enfermedad crnica en la famlia. Em J. A. Ros (Org.), La famlia: Realidad y mito. (pp. 176-201).Madrid: Centro de Estudios Ramn Areces.
Gortmaker, S. L., Walker, D. K., Weitzman, M. & Sobol, A. M. (1990). Chronic conditions, socioeconomic risks, and behavioral problemsin children and adolescents. Pediatrics, 85(3), 267-276.
Hamlett, K. W., Pellegrini, D, S. & Katz, K. (1992). Childhood chronic illness as a family stressor. Journal of Pediatric Psychology, 17(1), 33-47.
Heinzer, M. M. (1998). Health promotion during childhood chronic illness: A paradox facing society. Holistic Nursing Practice, 12(2), 8-16.
Hoffman, R. G., Rodrigue, J. R., Andres, J. M. & Novak, D. A. (1995). Moderating effects of family functioning on the social adjustment ofchildren with liver disease. Childrens Health Care, 24(2), 107-117.
Irvin, N., Klaus, M. H. & Kennel, J. H. (1992). Atendimento aos pais de umbeb com malformao congnita (D. Batista, Trad.). Em M. H. Klaus& J. H. Kennel (Orgs.), Pais/beb: A formao do apego (pp. 170-244). PortoAlegre: Artes Mdicas.
Kazak, A. E., Reber, M. & Carter, A. (1988). Structural and qualitative aspects of social networks in families with young chronically illchildren. Journal of Pediatric Psychology, 13(2), 171-182.
Klaus, M. H. & Kennel, J. H. (1992). Pais/beb: A formao do apego (D. Batista,Trad.). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Krahn, G. L. (1993). Conceptualizing social support in families of childrenwith special health needs. Family Process, 32, 235-248.
Leicth, D. B. (1999). Mother-infant interaction: Achieving synchrony. NursingResearch, 49(1), 55-58.
Martini, I. I. (2000). Em uma enfermaria de cardiologia peditrica. Em N.M. Caron (Org.), Relao pais-beb: Da observao clnica (pp. 233-249).So Paulo: Casa do Psiclogo.
Meijer, A. M. & Oppenheimer, L. (1995). The excitation-adaptations modelof pediatric chronic illness. Family Process, 34, 441-454.
Mescon, J. A. W. & Honig, A. S. (1995). Parents, teachers and medical personnel: Helping children with chronic illness. Early Child Developmentand Care, 111, 107-129.
Minde, K. (1999). Mediating attachment patterns during a serious medicalillness. Infant Mental Health Journal, 26(2), 115-125.
Peanha, D. (1993). Padres de interao me-criana em dades com crianas asmticas.Dissertao de Mestrado no-publicada, Curso de Ps-Graduao emPsicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio Grandedo Sul. Porto Alegre, RS
Pelletier, L., Godin, G., Lepage, L. & Dussault, G. (1994). Social support received by mothers of chronically ill children. Child, Care, Health andDevelopment, 20, 115-131.
Perrin, J. M. & Shonkoff, J. P. (2000). Developmental disabilities and chronicillness: An overview. Em R. E. Behrman, R. M. Kliegman & H. B.Jenson (Orgs.), Nelson textbook of pediatrics (pp. 452-464). Philadelphia:W. B. Saunders.
Phipps, S., Steele, R., Hall, K. & Leigh, L. (2001). Repressive adaptation inchildren with cancer: A replication and extension. Health Psychology,20(6), 445-451.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2002, 15(3), pp. 625-635
Elisa Kern de Castro & Csar Augusto Piccinini
-
635
Pianta, R. C., Marvin, R. S., Britner, P. A. & Borowitz, K. C. (1996). Mothersresolution of their childrens diagnosis: Organizes patterns ofcaregiving representations. Infant Mental Health Journal, 17(3), 239-256.
Posada, G., Carbonell, O. A., Alzate, G., Bustamante, M. R. & Arenas, A.(1999). Maternal care and attachment security in ordinary andemergency contexts. Developmental Psychology, 35(6), 1379-1388.
Quittner, A. L., Opipari, L. C., Espelage, D. & cols. (1998). Role strain incouples with and without a child with a chronic illness: Associationswith marital satisfaction, intimacy, and daily mood. Health Psychology,17(2) 112-124.
Sagi, A., Van Ijzendoorn, M. H. & Scharf, M. (1997). Ecological constraintsfor intergenerational transmission of attachment. International Journalof Behavioral Development, 20(2), 287-299.
Sameroff, A. J., Seifer, R. & Schiller, M. (1996). Attachment, maternal sensitivity, and infant temperament during the first year of life.Developmental Psychology, 32(1), 12-25.
Silver, E. J., Westbrook, L. E. & Stein, R. E. K. (1998). Relationship of parental psychological distress to consequences of chronic healthconditions in children. Journal of Pediatric Psychology, 23(1), 5-15.
Silver, E. J., Stein, R. E. K. & Dadds, M. R. (1996). Moderating effects offamily structure on the relationship between physical and mentalhealth in urban children with chronic illness. Journal of PediatricPsychology, 21(1), 43-56.
Stark, L. J. (1999). Beyond feeding problems: The challenge of meetingdietary recommendations in the treatment of chronic diseases inpediatrics. Journal of Pediatric Psychology, 24(3), 221-222.
Sterling, C. M. & Friedman, A. G. (1996). Empathic responding in childrenwith a chronic illness. Childrens Health Care, 25(10), 53-69.
Stern, D. N. (1997) A constelao da maternidade (M. A. V. Veronese, Trad.).Porto Alegre: Artes Mdicas.
Stewart, S. M., Uauy, R., Kennard, B. D., Waller, D. A., Benser, M. & Andrews,W. (1988). Mental development and growth in children with chronicliver disease of early and late onset. Pediatrics, 82(2), 167-173.
Walker, L. S. & Zeman, J. L. (1992). Parental response to child illness behavior. Journal of Pediatric Psychology, 17(1), 49-71.
Wallander, J. L., Varni, J. W. & Babani, L. (1988). Children with chronicphysical disorders: Maternal reports of their psychological adjustment.Journal of Pediatric Psychology, 13(2), 197-212.
Wallander, J. L. & Varni, J. W. (1998). Effects of pediatric chronic physicaldisorders on child and family adjustment. Journal of Child Psychology &Psychiatry, 39(1), 29-46.
Wamboldt, M. Z. & Wamboldt, F. (2000). Role of the family in the onsetand outcome of childhood disorders: Selected research findings.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30(10),1212-1219.
Wasserman, M. D. A. (1992). Princpios de tratamento psiquitrico de crianas e adolescentes com doenas fsicas (M. C. M. Goulart, Trad.).Em B. Garfinkel; G. Carlson & E. Weller (Orgs.), Transtornos psiquitricosna infncia e adolescncia (pp. 408-416). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Zahr, L. K. & El-Haddad, A. (1998). Temperament and chronic illness inEgyptian children. International Journal Intercultural Relations, 22(4), 453-465.
Recebido: 05/10/20011 Reviso: 22/03/2002
ltima Reviso: 12/06/2002Aceite Final: 20/06/2002
Sobre os autoresElisa Kern de Castro Psicloga, Mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e atualmente doutoranda em Psicologia da Sade naUniversidad Autnoma de Madrid, Espanha (bolsista CAPES).Cesar Augusto Piccinini Psiclogo, Doutor em Psicologia pela University College, University ofLondon, Inglaterra, Professor do Instituto de Psicologia da UFRGS e pesquisador do CNPq.
Implicaes da Doena Orgnica Crnica na Infncia para as Relaes Familiares: Algumas Questes Tericas