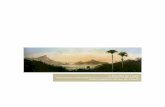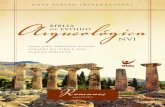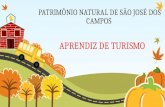IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 11 a 14 … · do direito à produção, gestão e...
-
Upload
nguyendiep -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 11 a 14 … · do direito à produção, gestão e...
IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
11 a 14 de novembro de 2015, UFG – Goiânia, GO
Grupo de Trabalho: MUSEUS, PATRIMÔNIO E DIREITOS CULTURAIS.
Museus comunitários e patrimônio arqueológico:
constrangimentos, desafios e possibilidades de diálogo.
Dra. Camila A. de Moraes Wichers
Profa. Adjunta do Curso de Museologia da FCS/ UFG
2
Resumo
No Brasil, o patrimônio arqueológico é considerado Bem da União, conforme Lei 3924 de 1961 e Constituição Federal de 1988. Esse contexto reserva sua manipulação por especialistas e sua guarda por instituições chanceladas pelos órgãos de preservação patrimonial, colocando desafios para o pleno exercício do direito à produção, gestão e difusão dos patrimônios e memórias construídas pela prática arqueológica, a partir das comunidades envolvidas com aquele patrimônio. A compreensão da Arqueologia como prática de construção de narrativas e de leitura de paisagens aponta caminhos possíveis para esse diálogo, uma vez que a palavra do arqueólogo é só uma, dentre as possíveis interpretações do registro arqueológico. Nesse sentido, o enquadramento de lugares - elevados ao status de “sítios arqueológicos”, e a coleta e a guarda de objetos que conformam as coleções arqueológicas, devem ser decididos e encaminhados coletivamente. Nesse trabalho apresento alguns caminhos e descaminhos evidenciados no diálogo entre museus comunitários e práticas arqueológicas no cenário brasileiro, apontando as potencialidades e tensões evidenciadas nesses processos. Palavras-chave: Arqueologia – Museus – Museologia Social – Práticas comunitárias – Arqueologia Pública Introdução
Nesse texto apresento alguns constrangimentos no que concerne à
relação entre prática arqueológica - e o correspondente patrimônio construído a
partir da Arqueologia, e as práticas comunitárias e educativas em Memória e
Museologia Social (BAPTISTA & SILVA, 2013). Primeiramente, trago um
panorama sintético do movimento teórico que marca a Arqueologia
contemporânea, em direção a uma matriz plural de construção do
conhecimento no âmbito das arqueologias pós-processuais (HODDER, 1988).
Em um segundo momento, faço uma breve contextualização acerca da
Museologia Social e das práticas comunitárias relacionadas a esse campo.
Passo então, ao cerne desse texto, a partir da explicitação dos principais
constrangimentos que restringem o diálogo entre Arqueologia e museus
comunitários, assim como trago argumentos em favor dessa interlocução. Na
última parte do texto entrelaço essa potencialidade a partir do olhar da
Arqueologia Pública e do diálogo com as categorias de patrimônio, cultura,
ressonância, materialidade e subjetividade fornecidas por Gonçalves (2005).
3
Da prática colonialista a uma Arqueologia no plural
Em uma perspectiva histórica, os vestígios arqueológicos estão
associados ao colecionismo, aos gabinetes de curiosidades e à própria gênese
das instituições museológicas. Assim como os museus, a Arqueologia também
esteve associada à colonização, ao saque e ao extermínio.
Herdamos um olhar forjado no século XIX, quando a Arqueologia iniciou-
se como disciplina científica, na esteira do imperialismo das grandes potências.
Conforme destacam Ferreira & Funari (2009), ao lado dessa vertente imperial e
colonialista,
a disciplina esteve imbricada na construção de identidades nacionais, de cunho masculino, tendo como objetivo a coesão social e a uniformidade, no presente e no passado. A disciplina, assim, surgia e firmava-se como parte do amplo espectro de agenciamentos das normatizações, tanto em âmbito interno, em cada Estado Nacional, como na relação com os sujeitos externos da opressão, nas periferias asiática, africana, médio-oriental e latino-americana. (FERREIRA & FUNARI, 2009: 01, grifo meu)
Gnecco (2009), ao examinar a Arqueologia latino-americana, chama
atenção para sua vinculação com uma violência epistêmica, denunciando a
estreita correlação entre Arqueologia e práticas colonialistas. Embora o cenário
brasileiro tenha sido marcado por especificidades no que tange ao contexto
trazido pelo autor, também trilhou caminhos marcados pela exclusão de
epistemologias distintas do olhar moderno e europeu. Um olhar branco, de
cunho masculino e homogeneizante.
Contudo, a partir de década de 1980, vemos um crescente
questionamento das práticas arqueológicas pela sociedade. As respostas têm
sido múltiplas e acompanham a própria reordenação epistemológica das
ciências humanas. Nesse quadro destacam-se as práticas devotadas à
construção de arqueologias plurais, tais como a Arqueologia Pública, a
Arqueologia Comunitária, a Arqueologia Indígena, a Arqueologia Relacional, a
Arqueologia Colaborativa, a Arqueologia Reacionária, entre outras (ACUTO &
ZARANKIN, 2008). Essas arqueologias se orientam por paradigmas pós-
4
processuais1, cujas críticas envolvem o questionamento do caráter neutro do
conhecimento arqueológico e defendem que os arqueólogos são construtores e
intérpretes do passado a partir de sua classe social, ideologia, cultura e gênero
(REIS, 2004, p.73).
No Brasil, essas discussões tardaram a chegar, mas já mostram alguns
frutos no século XXI. Estudos têm buscado salientar a diversidade cultural das
populações indígenas com a participação ativa das mesmas
(HECKENBERGER, 2001), outros estão ressaltando as diversas interpretações
de um mesmo contexto arqueológico no âmbito de arqueologias híbridas
(CABRAL & SALDANHA, 2008). Diversos trabalhos têm encaminhado
reflexões acerca do desenvolvimento da Arqueologia Pública no Brasil
(FUNARI, 2001; CARVALHO & FUNARI, 2009), a inserção da Arqueologia em
terras indígenas (SILVA et al, 2011) e em comunidades tradicionais
(MACHADO, 2012), a relação entre comunidades ribeirinhas e objetos
arqueológicos (BEZERRA, 2011), entre outros. Destaca-se o potencial da
Arqueologia Histórica2 (FUNARI, HALL & JONES, 1999) em construir a história
de segmentos da sociedade que em raras ocasiões têm condições de deixar
registros escritos sobre si próprios (ORSER, 1996; FUNARI, 2002). Algumas
pesquisas arqueológicas vêm buscando construir narrativas polifônicas acerca
do passado, em seus múltiplos contextos, desde o estudo de populações
quilombolas (SYMANSKI & SOUZA, 2007), passando por vestígios associados
a revoltas populares (ZANETTINI, 1988), a valorização dos conhecimentos
tradicionais na construção de identidades historicamente marginalizadas
(AMARAL, 2012), o exame do cotidiano fabril (SOUZA, 2010), a Arqueologia
dos desaparecidos durante o regime militar (BASTOS, 2010), a questão da
repatriação dos objetos arqueológicos (FERREIRA, 2008), o papel ativo da
cultura material em contextos sertanejos (SOUZA, 2013), entre outros.
1 Como aponta Reis (2004), longe de ser homogênea, a Arqueologia pós-processual “É um saco de gatos. Esta arqueologia tem sido provocativa, inquietante, instigadora e ousada em suas propostas” (Reis, 2004, p. 69). Opto por utilizar as “arqueologias pós-processuais”, devido à pluralidade de abordagens mencionadas. Tais abordagens são influenciadas por distintas tendências teóricas contemporâneas, associadas a história, sociologia, teoria crítica, filosofia, semiótica, entre outros campos científicos. 2 Denominamos de Arqueologia Histórica as pesquisas que envolvem desde o exame de processos sociais já influenciados pela colonização europeia, iniciados no século XVI, até processos posteriores relacionados ao período imperial e republicano, chegando até mesmo a período recentes.
5
Esse fazer arqueológico plural tem a potência de alavancar práticas
arqueológicas mais democráticas, possibilitando construções identitárias
multifocais. Por sua vez, o fazer museológico solidário com o referencial teórico
da Museologia Social poderá lançar proposições para a musealização dessas
coleções, paisagens e narrativas. Mais do que isso, esse fazer museológico
possibilita uma leitura crítica do patrimônio arqueológico depositado nas
instituições museológicas, fruto de práticas coloniais e imperialistas. Nesse
sentido, as iniciativas comunitárias apresentam-se como um terreno fértil para
a construção de uma prática arqueológica crítica e engajada. Cabe então,
olharmos mais de perto as premissas e práticas da Museologia Social.
Museologia Social e práticas comunitárias
Nas últimas décadas, a Museologia tem passado por mudanças teórico-
metodológicas significativas, em um esforço constante de democratização não
apenas do acesso, mas também da seleção e da produção do patrimônio
cultural. Essas mudanças resultaram em novas designações como Nova
Museologia, Museologia Social, Sociomuseologia, Museologia da Libertação,
Museologia Comunitária, entre outras, expressões que correspondem a
diferentes enfoques sobre o objeto de estudo, mas que obedecem aos mesmos
princípios essenciais que constituem a Museologia (RECHENA, 2011).
A Museologia Social, conceituação aqui adotada, se caracteriza pelos
compromissos sociais que assume e com os quais se vincula, comprometendo-
se com a redução das injustiças e desigualdades sociais, com o combate aos
preconceitos e com a utilização do poder da memória (CHAGAS & GOUVEIA,
2015: 17).
Para Franco (2009), que adota o termo Sociomuseologia – a exemplo de
Moutinho (1993), devem ser destacados três preceitos nessas práticas: o
conceito de multi e interdisciplinaridade, o comprometimento com questões
sociais e patrimoniais de mais amplo espectro, e o olhar acurado para questões
de sustentabilidade das populações envolvidas.
Segundo Primo e Moutinho (2002), os modelos museológicos
relacionados aos Museus de Território, Museus Comunitários e Ecomuseus
6
têm em comum a articulação da tríade Território-Patrimônio-Comunidade, o
desenvolvimento integrado como meta, a sustentabilidade do projeto, a
valorização das identidades locais e a consolidação do exercício da cidadania.
Não obstante, alguns autores e atores comunitários têm designado suas
práticas museológicas como Museologia Comunitária, demarcando um espaço
específico, onde o pertencimento do pesquisador à comunidade torna-se
imperativo. Nesse contexto o ‘ator comunitário – pesquisador’ aparece como
elemento chave de uma Museologia que não constrói espaços onde a
animação da apresentação oculte a voz dos que falam, mas sim, espaços que
destacam o direito que têm os povos para falar de si mesmos, por si mesmos.
Uma Museologia onde sujeitos sociais, comunidades e povos, projetem sua
vida como interpretadores e autores de sua história, como conclamam Teresa
Morales Lersch e Cuauhtémoc Camarena Ocampo (2004). Dessa feita, o
museu comunitário é uma opção diferente do “mainstream museum” ou museu tradicional. A instituição do museu surgiu com base em uma história de concentração de poder e riqueza, que se refletia na capacidade de concentrar tesouros e troféus arrancados a outros povos. Para Napoleão, Paris era o lugar onde as obras tinham “seu verdadeiro lugar para honra e progresso das artes, sob o cuidado da mão de homens livres” e alimentou o Louvre de troféus de guerra dos lugares que caíam sob seu império. O museu comunitário tem uma genealogia diferente: suas coleções não provêm de despojos, mas de um ato de vontade. O museu comunitário nasce da iniciativa de um coletivo não para exibir a realidade do outro, mas para defender a própria. É uma instância onde os membros da comunidade livremente doam objetos patrimoniais e criam um espaço de memória (LERSCH & OCAMPO, 2004, p.03, grifo meu).
Para Baptista & SILVA (2013, p.11), faz-se “necessário que as
produções relacionadas à memória das comunidades sejam efetivamente
realizadas a partir de relações de pertencimento com as mesmas”, ou seja, a
figura do denominado ‘ator comunitário – pesquisador’ torna-se imprescindível.
Cabe destacar que o presente trabalho se debruça sobre a possível
integração entre prática arqueológica e práticas comunitárias e educativas em
Memória e Museologia Social, entendendo essas últimas como um campo
dinâmico, onde atuam perspectivas diversas, mas que partem da necessária
intervenção das comunidades3 na seleção, produção, circulação e usos de
3 “entende-se por comunidades grupo ou grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social unidas por vínculos históricos relacionados a aspectos territoriais, étnicos, culturais e ou
7
seus patrimônios. Essas práticas não estão restritas aos processos que se
autodenominam como museus comunitários, integrando experimentações e
intervenções que têm na memória e no patrimônio uma ferramenta de luta para
a valorização e visibilidade de memórias submetidas a contextos adversos que
negligenciam os Direitos Humanos e Culturais (BAPTISTA & SILVA, 2013),
envolvendo, assim, um diálogo profícuo com os movimentos sociais.
Contudo, a inserção do patrimônio arqueológico nesses processos
enfrenta alguns constrangimentos no contexto brasileiro, a seguir explicitados.
Constrangimentos para o diálogo entre práticas arqueológicas e
comunitárias
Primeiro Constrangimento
No contexto brasileiro, a inserção do patrimônio arqueológico como Bem
da União, conforme Lei 3924 de 1961 e Constituição Federal de 1988, reserva
a manipulação dessa categoria patrimonial por especialistas e sua guarda em
instituições chanceladas pelos órgãos de preservação, colocando desafios para
o pleno exercício do direito à produção, gestão e difusão dos patrimônios e
memórias construídas pela prática arqueológica, a partir das comunidades
envolvidas com aquele patrimônio.
A premissa de que os “os membros da comunidade livremente doam
objetos patrimoniais” (LERSCH & OCAMPO, 2004, p.03), já mencionada, não
encontra terreno fértil no campo da Arqueologia do ponto de vista legal. Assim,
o patrimônio arqueológico representa um desafio específico ao fazer
museológico contemporâneo, particularmente à Museologia Comunitária, pois
não permite a necessária intervenção das comunidades na seleção e
preservação do patrimônio.
Segundo Constrangimento
No Brasil, ao longo das últimas décadas, a consolidação da legislação
ambiental impulsionou o crescimento de projetos de pesquisa arqueológica no de gênero, em especial quando movidas ou organizadas em prol da defesa e promoção do Direito à Memória e à História, assim como a outros tópicos dos Direitos Humanos e Culturais. (Carta das Missões, 2012 Apud BAPTISTA & SILVA, 2013, p.9).
8
âmbito de empreendimentos de natureza diversa, configurando o campo de
atuação da denominada Arqueologia Preventiva4 (MORAIS, 2006).
A correlação entre práxis arqueológica e um modelo de crescimento
econômico, que não significa, necessariamente, desenvolvimento, deve ser
considerada na análise da relação entre os campos da Arqueologia e da
Museologia. Esses projetos correspondem à grande parte dos estudos
arqueológicos realizados no país (98%) (ZANETTINI, 2009), gerando acervos
significativos, quer do ponto de vista quantitativo, quer qualitativo, os quais
podem e devem ser alvo de processos museológicos.
A violência epistêmica marca de forma perversa a antropofagia
arqueológica no contexto brasileiro (MORAES WICHERS, 2010), ainda mais
em um cenário onde, muitas vezes, o patrimônio arqueológico é atrelado a
empreendimentos que acarretam impactos negativos nas sociedades
envolvidas.
Alguns dilemas se colocam para a disciplina: Quais as repercussões
sócio-políticas da prática arqueológica associada a empreendimentos? Qual o
significado em falarmos sobre “um patrimônio arqueológico importante” em
contextos onde as comunidades são expropriadas economicamente,
socialmente e simbolicamente? Como nos posicionarmos ante ao “destino de
silêncio”5 das coleções formadas na contemporaneidade? Qual a relevância
dos programas de “educação patrimonial”6 e afins?
Potencialidades para o diálogo entre práticas arqueológicas e
comunitárias
4 O termo Arqueologia Preventiva foi instituído a partir da Portaria IPHAN 230, de 22 dezembro de 2002, antecedido por designações como Arqueologia de Salvamento e Arqueologia de Contrato. Essas denominações se referem ao mesmo fenômeno: pesquisas arqueológicas realizadas no âmbito de obras potencialmente lesivas ao meio ambiente. 5 Adriana Dias (2013) usa o termo “destino de silêncio” para denominar o processo no qual as coleções geradas pelas pesquisas têm sido destinadas às reservas técnicas das instituições, não sendo dinamizadas a partir da pesquisa e da socialização. 6 A partir da Portaria 230/02 foi determinada a obrigatoriedade de Programas de Educação Patrimonial nas diversas fases das pesquisas arqueológicas realizadas no âmbito do licenciamento de empreendimentos. Recentemente, a referida Portaria foi revogada com a Instrução Normativa n.01 de 25 de Março de 2015, contudo, a obrigatoriedade da realização desses processos, agora intitulados “Programas Integrados de Educação Patrimonial”, foi mantida e inclusive reafirmada a partir da definição de fases e itens desses programas.
9
Primeiro Argumento
Quando compreendemos a Arqueologia como leitura do mundo,
orientada para objetos, estruturas e paisagens, independentemente de sua
cronologia (MORAES WICHERS, 2011), abrimos um imenso leque de
possibilidades de diálogo. Um campo voltado ao estudo de mulheres, homens
e crianças por meio de sua cultura material,
“isto é, aquele segmento do universo físico que é socialmente apropriado (...) que engloba tanto objetos, utensílios, estruturas como a natureza transformada em paisagem e todos os elementos bióticos e abióticos que integram um assentamento humano” (MENESES, 1987a, p.186).
A cultura material é entendida como produto e vetor de relações
sociais, devendo ser explorada do ponto de vista analítico não só como produto
ou reflexo de atividades humanas. Numa perspectiva relacional, os artefatos
assumem um caráter ativo, dinâmico e polissêmico em sua trajetória no tempo
e espaço desde a sua geração, uso, reapropriações ou reciclagens até seu
descarte final. Tal processo envolve distintas formas de apropriação de acordo
com quem os cria e os manipula: um determinado grupo, classe ou
comunidade, num momento histórico preciso (ZANETTINI, 2005, pp.17-19).
Assim, os artefatos devem ser encarados, em sua forma e materialidade, como
a própria substância da vida social e cultural (GONÇALVES, 2005, p.23).
As críticas pós-processuais envolvem o questionamento do caráter
neutro do conhecimento arqueológico e defendem que a palavra do arqueólogo
é uma, dentre outras opiniões sobre essa cultura material, pois há muitas e
plausíveis interpretações sobre o registro arqueológico: o registro arqueológico
passa a ser considerado um texto polissêmico, podendo ser lido de diversas
maneiras (SHANKS & TILLEY, 1988; 1987/1992). Essa forma de compreender
a Arqueologia abre rotas de aproximação entre o fazer arqueológico e as
práticas comunitárias.
Segundo Argumento
Diversos autores têm criticado a separação do patrimônio entre
“material” e “imaterial”. Para Sant’Anna (2001), a ideia de patrimônio cultural
traz em si tanto o conceito de patrimônio material quanto imaterial. Segundo a
autora, esses dois conceitos devem ser entendidos não como opostos, mas
10
como complementares, “um não faz sentido sem o outro, e um não pode ser
completamente apreendido sem o outro” (SANT’ANNA, 2001, p.160). O
patrimônio imaterial tem uma face material expressa em objetos concretos
(artefatos, vestimentas, locais de produção e reprodução) da mesma forma que
monumentos, edificações e sítios possuem uma face imaterial expressa em
valores e representações sociais a eles atribuídos.
Para Gonçalves (2005, p.21), não “há como falar em patrimônio sem
falar da sua dimensão material”. Da mesma forma, Arantes (2004) enfatiza que
produto e processo são indissociáveis:
As coisas feitas testemunham o modo de fazer e o saber fazer. Elas abrigam também os sentimentos, lembranças e sentidos que se formam nas relações sociais envolvidas na produção e, assim, o trabalho realimenta a vida e as relações humanas (ARANTES, 2004, p.13).
Para Toji (2009), a terminologia “material” e “imaterial” expressa, na
realidade, diferentes posturas das ações de patrimonialização. O “material”
referindo-se a atuação tradicional dos órgãos do patrimônio e o “imaterial”
refletindo o reconhecimento oficial de manifestações que sempre estiveram
alijadas desse processo (TOJI, 2009, pp.13-14).
Nesse sentido, o diálogo entre Arqueologia e iniciativas comunitárias em
Memória e Museologia Social pode contribuir, efetivamente, para um olhar
integrado entre patrimônio ‘tangível’ e ‘intangível’. A Arqueologia coloca-se
como prática construtora de patrimônio material, a partir do recorte de
paisagens e seleção de objetos, mas é na sua faceta imaterial, envolvendo
narrativas plurais acerca dessa materialidade que reside sua força.
Enquanto objeto tangível, o patrimônio arqueológico pode assumir papel
de destaque em processos onde “a finalidade do museu é converter-se em
universidade popular, a universidade para o povo através dos objetos”
(VARINE, 1979). Essa citação assume especial relevância, pois vemos muitas
vezes uma Museologia Social ou Comunitária ser apresentada como uma
Museologia sem objetos. Entretanto, não é o caráter tangível de um patrimônio
que o aproxima ou afasta de uma comunidade, mas sua ressonância
(GONÇALVES, 2005).
É recorrente o colecionamento de objetos arqueológicos por
comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, cujas relações envolvem
11
sentimentos, lembranças e sentidos, construindo narrativas próprias acerca
desses vestígios, nos ensinando a observar a Arqueologia de outro ângulo,
certamente mais democrático e pleno de alternativas (BEZERRA, 2011; SILVA
et al, 2011).
Integrando argumentos: a Arqueologia Pública e processos comunitários
em Memória e Museologia Social
“Arqueologia Pública é uma vertente da Arqueologia preocupada em compreender as relações entre distintas comunidades e o patrimônio arqueológico, considerando o impacto do discurso acadêmico em sua visão de mundo, o lugar de suas narrativas na construção do passado e a gestão comunitária dos bens arqueológicos (...). Como se vê, a Arqueologia Pública é, ao mesmo tempo, produto e vetor de reflexões acadêmicas, de ações políticas e de estratégias de gestão” (BEZERRA, 2011, p.62).
“Já não se trata apenas de democratizar o acesso aos museus instituídos, mas sim de democratizar o próprio museu compreendido como tecnologia, como ferramenta de trabalho, como dispositivo estratégico para uma relação nova, criativa e participativa com o passado, o presente e o futuro” (CHAGAS, 2008, p.60).
Essas duas citações revelam as possibilidades de diálogo entre uma
Arqueologia Pública, inspirada em paradigmas pós-processuais, e uma
Museologia Social, pautada nas práticas comunitárias. Cabe então
desvelarmos o lugar da Arqueologia Pública nesse processo.
Para Funari (2001) a principal questão a ser abordada na Arqueologia
Pública está associada ao fato de quem se beneficia da Arqueologia, das suas
práticas, teorias e discursos, postura com a qual concordo. Uma Arqueologia
Pública inserida nos debates contemporâneos acerca dos patrimônios culturais
deveria envolver, antes de tudo, uma avaliação pública das formas de verdade
construídas pela prática arqueológica. No entanto, antes de enveredar por
autores brasileiros que têm abordado essa temática, discorrerei sobre as
origens do termo, em contexto norte-americano.
A obra Public Archaeology (1972), do arqueólogo norte-americano
McGimsey, é considerada um marco na inauguração deste campo da
Arqueologia. Essa obra discorre sobre as ferramentas jurídicas e estratégias
devotadas à preservação do patrimônio arqueológico inserido em terras
12
estatais norte-americanas, elencando algumas ameaças a esse patrimônio,
como a urbanização, a industrialização, o comércio ilícito e a escavação por
amadores. Não obstante, se no início a participação da sociedade havia sido
um elemento fundamental para a contenção da destruição e promulgação de
leis de regulação e proteção do patrimônio, durante a década de 1970, a
crescente profissionalização da Arqueologia resultou no afastamento dessa
mesma sociedade. A partir de então, arqueólogos e Estado passaram a definir
a agenda ‘pública’ da Arqueologia. Nesse sentido, a preservação dessas
referências para as sociedades futuras passou a ser o mote justificador da
preservação do patrimônio (MERRIMAN, 2004).
Com a criação do Word Archaeological Congress (WAC), em 1986
outras questões vieram à tona. A partir de então, proliferaram abordagens que
enfatizam a necessidade da Arqueologia Pública integrar plataformas onde o
público pudesse avaliar as formas de verdade presentes no discurso
arqueológico.
Como postula Cornelius Holtorf (2007) existem três modelos gerais que
caracterizam as atuações dos arqueólogos dentro do campo da Arqueologia
Pública: 1) o modelo da Educação; 2) o modelo da Relação Pública e, por fim,
3) o modelo Democrático. No primeiro modelo temos uma Arqueologia,
creditada como ciência neutra e exata, como instrumento de educação das
massas. Por sua vez, a vertente da Relação Pública almeja melhorar a imagem
da Arqueologia na sociedade, garantindo um aval social para a continuidade
dos próprios trabalhos arqueológicos. Por fim, no modelo Democrático, todas
as pessoas são detentoras de conhecimentos válidos: esses saberes podem
variar de acordo com a trajetória de vida de cada um dos indivíduos, mas
possuem igual importância (HOLTORF, 2007).
Dessa forma, não existe uma Arqueologia Pública, mas diferentes
Arqueologias Públicas, assertiva que corresponde plenamente à realidade
brasileira contemporânea, pautada por uma ampla gama de experiências
marcadas pelos três modelos mencionados.
Nas últimas décadas, a Arqueologia Pública tem crescido no Brasil.
Entretanto, o desconhecimento da trajetória desse campo, bem como dos
diferentes modelos que ele congrega, tem levado, muitas vezes, à banalização
13
do termo. Por vezes, a Arqueologia Pública é até mesmo entendida como
sinônimo de Educação Patrimonial.
Não pretendo aqui examinar de forma aprofundada como essa
problemática tem sido tratada no Brasil, existem trabalhos que delinearam tais
questões: Funari (2001) traçou um painel da área a partir da perspectiva latino-
americana; Almeida (2002) inaugurou no país os trabalhos acadêmicos sobre
esse campo, trazendo ainda uma experiência inédita da prática de Arqueologia
Pública; Robrahn-González (2005) inseriu essa abordagem na compreensão
da relação Arqueologia e Sociedade; Bastos (2006) trouxe uma reflexão
aprofundada acerca da Arqueologia Pública a partir da ação do estado; e, por
fim, Fernandes (2007) fez uma ampla revisão da literatura especializada,
procurando sintetizar o desenvolvimento da Arqueologia Pública no país.
Almeida (2002), Funari (1994, 2001) e Carvalho & Funari (2009) deixam
claro que não se trata de educar ou divulgar nossas pesquisas, obtendo uma
aparente sustentação social para nosso trabalho, afirmando, como alerta
Gnecco (1999), de forma irreflexiva a hegemonia de um conhecimento
cientifico Ocidental sobre outras visões de mundo, mas sim de realmente nos
questionarmos: a quem interessa o conhecimento que produzimos?
Embora essa visão de Arqueologia Pública venha se fazendo premente
no contexto contemporâneo brasileiro, vemos ainda abordagens marcadas
pelos dois primeiros modelos de Holtorf (2007). Dessa forma, a Arqueologia
Pública não pode ser tomada como sinônimo de uma ‘Arqueologia engajada’,
uma vez que ainda é marcada por experiências influenciadas por uma
abordagem de interesse público, segundo definição trazida por Merriman
(2004). Muitas vezes essas ações visam ‘ensinar’ o que é Arqueologia, obter a
‘aprovação’ das pesquisas pelas comunidades ou ainda ‘corrigir’ visões acerca
da prática arqueológica. Essa abordagem de interesse público se insere nos
modelos de Educação e de Relação Pública, sugeridos por Holtorf (2007).
Fernandes (2007), ao se dedicar ao exame aprofundado do tema, indica
a persistência de ações da public education no Brasil, marcados por um desejo
de se construir uma confiança no trabalho arqueológico. Carneiro (2009) indica
o mesmo predomínio de processos inseridos na educação formal, onde impera
uma abordagem devolutiva do patrimônio, sendo raros os processos nos quais
14
ocorrem redirecionamentos das pesquisas por conta dos interesses envolvidos,
ou mesmo a inserção de outras interpretações ‘não científicas’ nesses
contextos.
O exame da historicidade do termo Arqueologia Pública e a constatação
dos diversos rumos que essas ações têm tomado no país, me levou a optar
pela integração das Arqueologias Pós-Processuais com a Museologia Social,
marcando de forma mais direta minha vinculação com ideias que primam por
questionar o papel da Arqueologia no mundo contemporâneo. Ideias que visam
construir Arqueologias verdadeiramente híbridas (CABRAL & SALDANHA,
2008). Essa opção envolve um diálogo profícuo com uma Arqueologia Pública
devotada à discussão acerca dos interesses subjacentes ao fazer arqueológico
(FUNARI, 2001).
Bezerra (2011) propõe como percurso a articulação da Arqueologia
Pública com a Etnografia, onde a “Archaeology is a Subject of Ethnography” e
torna-se o “fio condutor do projeto” (BEZERRA, 2011: 61), perspectiva também
aqui adotada. Nesse caminho, a Arqueologia Pública seria ao mesmo tempo,
produto e vetor de reflexões acadêmicas, de ações políticas e de estratégias de
gestão, assim, a sua articulação com a Arqueologia Etnográfica (CASTAÑEDA,
2008) evidenciaria as “relações entre distintas comunidades e o patrimônio
arqueológico, considerando o impacto do discurso acadêmico em sua visão de
mundo, o lugar de suas narrativas na construção do passado e a gestão
comunitária dos bens arqueológicos” (BEZERRA, 2011: 62).
Considerações finais
Mesmo que constrangimentos marquem a relação entre Arqueologia e
práticas comunitárias no Brasil, sobretudo, pelo fato da manipulação desse
patrimônio ser restrita a especialistas e pela associação da prática
arqueológica com grandes empreendimentos, vejo caminhos profícuos a partir
da integração das arqueologias pós-processuais com a Museologia Social e,
em especial, entre a Arqueologia Pública e as práticas comunitárias em
memória e Museologia Social.
15
Gonçalves (2005) ao explorar o potencial descritivo e analítico da
categoria patrimônio, apontando as suas múltiplas dimensões sociais e
simbólicas, explora as categorias “ressonância”, “materialidade” e
“subjetividade”. Essas categorias são rotas interessantes para pensarmos o
diálogo aqui proposto.
Por ressonância podemos entender o poder de um objeto exposto atingir
um universo mais amplo. O patrimônio não depende apenas da vontade e
decisão políticas de uma agência de Estado, dos profissionais do campo do
patrimônio – em sua acepção moderna, nem depende exclusivamente de uma
atividade consciente e deliberada de indivíduos ou grupos (GONÇALVES,
2005). Os objetos que compõem um patrimônio precisam encontrar
“ressonância” junto a seu público e isso é válido também para o patrimônio
arqueológico. A perspectiva da Arqueologia Pública, entendida como
Arqueologia Etnográfica, e as práticas comunitárias em memória e Museologia
Social possibilitam a necessária mediação entre olhares, possibilitando essa
ressonância.
No que concerne à materialidade, Gonçalves (2005) destaca que uso
analítico da categoria “patrimônio” poderá colocar em primeiro plano a
materialidade da cultura no âmbito das teorias antropológicas. Para o autor, o
material e o imaterial aparecem de modo indistinto nos limites dessa categoria.
Conforme exposto no primeiro argumento em favor da relação entre
Arqueologia e Museologia Social, entendo a Arqueologia como forma de ler o
mundo a partir da sua cultura material, não obstante, entendo essa
materialidade como carregada de sentidos, significados, afetividades e
subjetividades.
Por sua vez, a categoria subjetividade apresenta-se como potente para
uma compreensão mais ampla da categoria analítica de patrimônio. Essa
categoria desempenha papel fundamental no processo de formação de
subjetividades individuais e coletivas, “não há patrimônio que não seja ao
mesmo tempo condição e efeito de determinadas modalidades de
autoconsciência individual ou coletiva” (GONÇALVES, 2005, p.27).
É no plano de construção de subjetividades individuais e coletivas que a
prática arqueológica pode assumir um papel fundamental. Para tanto, ainda
16
que sua inserção no âmbito de uma semântica moderna e ocidental de
patrimônio seja importante – domínio do primeiro constrangimento aqui
apontado, é a partir de uma concepção mais alargada de patrimônios culturais,
como elementos mediadores entre diversos domínios social e simbolicamente
construídos, que vejo uma rota plena de possibilidades.
O potencial estratégico da Arqueologia no cenário brasileiro
contemporâneo reside em sua abordagem da diversidade cultural, trazendo as
múltiplas apropriações das paisagens na longa-duração (DE BLASIS, 2014),
perpassando os patrimônios consagrados e não consagrados e evidenciando o
caráter arbitrário da divisão entre material e imaterial. Dessa forma, a
Arqueologia poderia trazer discursos alternativos ante uma força hegemônica,
‘vencendo’ o segundo constrangimento aqui delineado, por meio de práticas
colaborativas onde as comunidades participem da construção de seu passado
e da gestão de seus territórios.
Referências Bibliográficas
ACUTO, Félix A. & ZARANKIN, Andrés (Eds). Sed non satiata II:
acercamientos sociales en la arqueología latinoamericana. Córdoba:
Encuentro Grupo Editor, 2008.
ALMEIDA, Márcia. O australopiteco corcunda: as crianças e a arqueologia
em um projeto de arqueologia pública na escola. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
AMARAL, Daniella Magri. Loiça de barro do Agreste: um estudo
etnoarqueológico de cerâmica histórica pernambucana. Dissertação de
Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012.
ARANTES, A. A. O patrimônio imaterial e a sustentabilidade de sua
salvaguarda. Resgate, vol.13 (11-18), 2004.
BAPTISTA, Jean & SILVA, Cláudia Feijó da (Orgs). Práticas comunitárias e
educativas em memória e museologia social. Rio Grande: FURG, 2013.
BASTOS, Rossano Lopes. A Arqueologia Pública no Brasil: novos tempos. IN:
Patrimônio: Atualizando o debate. São Paulo: Superintendência Regional
do IPHAN, pp. 55-168, 2006.
17
BASTOS, Rossano Lopes. Uma Arqueologia dos Desaparecidos:
Identidades Vulneráveis e Memórias Partidas. São Paulo:
Superintendência Regional do IPHAN, 2010.
BEZERRA, Márcia. “As moedas dos índios”: um estudo de caso sobre os
significados do patrimônio arqueológico para os moradores da Vila de
Joanes, ilha de Marajó, Brasil. Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi –
Ciências Humanas, Belém, v. 6, n. 1, 2011.
BRUNO, Maria Cristina O. Musealização da Arqueologia: um estudo de
modelos para o Projeto Paranapanema. Tese de Douturado, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 1995.
CABRAL, Mariana Petry & SALDANHA, João Darcy de Moura. Um sítio,
múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”.
Revista de Arqueologia Pública, Campinas, 2008.
CARNEIRO, Carla Gibertoni. Ações educacionais no contexto da
arqueologia preventiva: uma proposta para a Amazônia. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
CARVALHO, Aline Vieira & FUNARI, Pedro Paulo de Abreu. As possibilidades
da Arqueologia Pública. Acessado em 11 de Abril de 2009 em
http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=31.
CASTAÑEDA, Q. E. The ‘Ethnographic Turn’ in Archaeology. Research
Positioning and Reflexivity in Ethnographic Archaeologies. In: CASTAÑEDA,
Q. E.; MATTHEWS, C. N. (Eds.). Ethnographic Archaeologies: reflections
on stakeholders and archaeological practices. Plymouth: Altamira Press,
p. 25-61, 2008.
CHAGAS, Mário. Diversidade museal e movimentos sociais. In: CHAGAS,
Mário & STORINO, Claudia M. Pinheiro. (Org.). Ibermuseus 2: Reflexões e
Comunicações. 1ªed.Brasília: IPHAN - DEMU, 2008, v. 2º, p. 59-69
CHAGAS, Mário & GOUVEIA Inês. Apresentação. IN: CHAGAS, Mário &
GOUVEIA Inês. (Organizadores). (2014). Dossiê Museologia Social.
Cadernos do CEOM. v. 27, n. 41, 2014.
DE BLASIS, Paulo. O Arqueólogo é o cara? (Impressões sobre o papel social
da arqueologia no Brasil hoje). In: CAMPOS, J. B. et al (Orgs.). Arqueologia
18
Ibero-americana e transatlântica: Arqueologia, sociedade e território. 1
ed. Erechim: Habilis, pp. 429-442, 2014.
DIAS, Adriana S. Caminhos Cruzados? Refletindo sobre os Parâmetros de
Qualidade da Prática Arqueológica no Brasil. Jornal Arqueologia em
Debate, Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2013. Disponível em
http://sabnet.com.br/jornal/component/content/article/1-temas-em-debate/88-
caminhos-cruzados-refletindo-sobre-os-parametros-de-qualidade-da-pratica-
arqueologica-no-brasil. Acessado em 2 de Junho de 2015.
FERNANDES, Tatiana Costa. Vamos criar um sentimento?! Um olhar sobre
a arqueologia pública no Brasil. Dissertação (Mestrado). Universidade de
São Paulo, 2007.
FERREIRA, Lúcio M. & FUNARI, Pedro P. de A. Arqueologia como prática
política. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, v. 4, pp.1-4, 2009.
FERREIRA, Lúcio M. Patrimônio, Pós-Colonialismo e Repatriação
Arqueológica. Ponta de Lança: História, Memória e Cultura, n.1, pp.37-62,
2008.
FRANCO, Maria Inês M. Museu da Cidade de São Paulo: um novo olhar da
Sociomuseologia para uma megacidade. Tese de Doutorado,
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2009.
FUNARI, Pedro P. de A. Arqueologia Brasileira: Visão Geral e Reavaliação.
Revista da História da Arte e Arqueologia, n.1, pp.24-41, 1994.
FUNARI, Pedro P. de A. Public archaeology from a Latin American perspective.
Public Archaeology. London: James & James Science Publishers, v. 1. Pp.
239-243, 2001.
FUNARI, Pedro P. de A. Desaparecimento e emergência dos grupos
subordinados na arqueologia brasileira. Horizontes Antropológicos, v.8,
n.18, pp. 131-153, 2002.
FUNARI, Pedro P. de A.; HALL, Martin; JONES, Siân. (Eds). Historical
archaeology: back from the edge. London & New York: Routledge, 1999.
GNECCO, Cristóbal. Multivocalidad histórica: hacia una cartografía
postcolonial de la arqueología. Bogotá: Departamento de Antropología,
Universidad de Los Andes, 1999.
19
GNECCO, Cristóbal. Caminos de la Arqueología: de la violencia epistémica a la
relacionalidad. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém,
1 (4), 15-26, 2009.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. (2005). Ressonância, Materialidade e
Subjetividade: as Culturas como Patrimônios. Horizontes Antropológicos,
Porto Alegre, ano 11, n. 23, p. 15-36, jan/jun 2005.
HECKENBERGER, Michael. Estrutura, história e transformação: a cultura
xinguana na longue durrée, 1000-2000 d.C. In: FRANCHETTO, Bruna &
HECKENBERGER, Michael (Orgs). Os povos do Alto Xingu: história e
cultura. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, pp.21-62, 2001.
HODDER, Ian. Interpretacíon en Arqueología. Corrientes actuales.
Barcelona: Crítica, 1988.
HOLTORF, Cornelius. Archaeology is a brand. Oxford: Archaeopresse, 2007.
LERSCH, Teresa Morales & OCAMPO, Cuauhtémoc C. O conceito de museu
comunitário: história vivida ou memória para transformar a história?
Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Artes y Cultura Latinas,
Kansas City, Missouri, 6-10 octubre, 2004. Disponível em
https://bibliotextos.files.wordpress.com/2011/12/o-conceito-de-museu-
comunitc3a1rio.pdf Acessado em 13 de janeiro de 2015.
MACHADO, Juliana Salles. Lugares de gente. Mulheres, plantas e redes de
troca no delta amazônico. Tese de Doutorado. Museu Nacional/ Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social, Rio de Janeiro, 2012.
MCGIMSEY III, C. R. Public Archeology. New York: Seminar Press, 1972.
MENESES, Ulpiano T. B. de. Identidade Cultural e Arqueologia IN: Cultura
Brasileira, Temas e Situações. São Paulo: Ática, 1987.
MERRIMAN, Nick. Involving the public in museum archaeology. IN:
MERRIMAN, Nick. Public Archaeology. Londres: Routledge, 2004.
MORAES WICHERS, Camila A. de. Museus e Antropofagia do Patrimônio
Arqueológico: (des) caminhos da prática brasileira. Tese (Doutorado).
Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2010.
MORAES WICHERS, Camila A. de. Patrimônio Arqueológico Paulista:
proposições e provocações museológicas. Tese de Doutorado, Museu de
Arqueologia e Etnologia da USP, 2011.
20
MORAIS, José Luiz. Reflexões acerca da arqueologia preventiva. IN:
Patrimônio: Atualizando o debate. São Paulo: Superintendência Regional
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pp. 191-220, 2006.
MOSER, Stephanie. Transforming Archaeology Through Practice: Strategies for
Collaborative Archaeology and the Community Archaeology Project at
Quseir, Egypt. IN: BROWN, Alison K. & PEERS, Laura (eds.) Museums and
Source Communities: A Routledge Reader. London, UK; New York, US:
Routledge. Pp. 208-226, 2003.
MOUTINHO, Mário. Sobre o conceito de Museologia Social. Cadernos de
Sociomuseologia, n°1, 1993.
MOUTINHO, Mário. Definição evolutiva de Sociomuseologia. Atelier
Internacional do MINOM, Lisboa/ Setubal, 2007.
ORSER, Charles & FUNARI, Pedro P. de A. A pesquisa arqueológica inicial em
Palmares. Estudos Ibero-Americanos, n.18, pp.53-69, 1992.
ORSER, Charles. A Historical Archaeology of the Modern World. New York:
Plenum, 1996.
PANICH, Lee. Collaborative Archaeology - South of the Border. Published in
News from Native California, 20(4). Pp.12-15, 2007.
PRIMO, Judite. & MOUTINHO, Mario. O Ecomuseu da Murtosa. Patrimônios,
ano XXIII, 2º Serie. Aveiro: AEDPNCRA, 2002.
RECHENA, A. M. D. Sociomuseologia e Gênero: imagens da mulher em
exposições de museus portugueses. Tese de Doutorado, Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2011.
REIS, Jose Alberione dos. Não pensa muito que dói - um palimpsesto sobre
teoria na Arqueologia brasileira. Tese (Doutorado). Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2004.
SANT’ANNA, M. Patrimônio Imaterial do Conceito ao Problema da Proteção. In:
Revista Tempo Brasileiro, n. 147, p.151-161, out-dez, 2001.
SHANKS, Michael & TILLEY, Christopher. Social Theory and Archaeology.
Albuquerque: University Of New Mexico Press, 1998.
SHANKS, Michael & TILLEY, Christopher. Re-Constructing Archaeology.
London & New York: Routledge, 1992 (Publicado Original 1987).
21
SILVA, Fabíola A. et al, Arqueologia Colaborativa Na Amazônia: Terra
Indígena Kuatinemu, Rio Xingu, Pará. Amazônica, 3 (1): 32-59, 2011.
SOUZA, Rafael de Abreu. Louça paulista para paulicéia. Arqueologia
histórica da fábrica de louça Santa Catharina/ IRFM – São Paulo e a
produção da faiança fina nacional (1913-1937). Dissertação de Mestrado,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
SOUZA, Rafael de Abreu. Novos paradigmas à cultura material sertaneja e a
Arqueologia do século XX nos sertões do Pernambuco, Ceará e Piauí.
Edição Especial – ANAIS I Semana de Arqueologia – Unicamp
“Arqueologia e Poder”, 2013.
SYMANSKI, Luis Claudio P. & SOUZA, Marcos A. T. O Registro Arqueológico
dos Grupos Escravos; Questões de Visibilidade e Preservação. Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº33, pp. 215-243, 2007.
TOJI, S. Patrimônio Imaterial: Marcos, Referências, Políticas Públicas e
Alguns Dilemas. Patrimônio e memória, UNESP – FCLAs – CEDAP, v. 5,
n.2, p. 11-26, 2009.
VARIVE-BOHAN, H. Entrevista com Hugues de Varine-Bohan. In: Os Museus
no Mundo. Rio de Janeiro: SALVAT Editora do Brasil, 1979. 8-21p., 70-81p
ZANETTINI, Paulo Eduardo. Canudos: memórias do fim do mundo. Horizonte
Geográfico, ano I, n°3, pp. 28-38, 1988.
ZANETTINI, P. E. Projetar o Futuro para a Arqueologia Brasileira: um desafio
de todos. Revista Americana, (27): 71-87, 2009.
ZANETTINI, Paulo Eduardo. Maloqueiros e seus palácios de barro: o
cotidiano doméstico na Casa Bandeirista. Tese de Doutorado,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
ZARANKIN, Andrés. Paredes que Domesticam: Arqueologia da Arquitetura
Escolar Capitalista. Campinas: Centro de História da Arte e Arqueologia –
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/ Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, 2002.