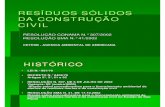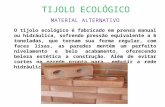Jalcione Almeida - A Contrução Social de Uma Nova Agricultura
-
Upload
samuel-pires -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Jalcione Almeida - A Contrução Social de Uma Nova Agricultura
-
UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIOGRANDE DO SUL
ReitoraWrana Maria Panizzi
Vice-ReitorMilton Rodrigues PaimPr-Reitor de Extenso
Luiz Fernando Coelho de SouzaVice-Pr-Reitora de Extenso
Rosa Blanco
EDITORA DA UNIVERSIDADE
DiretorGeraldo f. Huff
CONSELHO EDITORIALAnna Carolina K. P. Regner
Christa BergerEloir Paulo Schenkel
Georgina Bond-BuckupJos Antnio Costa
Livio AmaralLuiza Helena Malta MollMaria da Graa Krieger
Maria Helosa LenzPaulo G. Fagundes VizentiniGeraldo F. Huff, presidente
A construo socialde uma nova agriculturaTecnologia agrcola e movimentos sociais
no sul do Brasil
Jalcione Almeida
EDITORA DA UNIVERSIDADE/UFRGS Av. Joo Pessoa, 415 - 90040-000 - Porto Alegre, RS - Fone/fax (051) 224-8821, 316-4082 e 316-4090 - E-mail: [email protected] - http://www.ufrgs.br/editora Direo: GeraldoFrancisco Huff Editorao: Paulo Antnio da Silveira (coordenador), Carla M. Luzzatto, Cludia Bittencourt, Ma-ria da Glria Almeida dos Santos, Najara Machado, Rubens Renato Abreu Administrao: Jlio Csar de Souza Di-as (coordenador), Jos Pereira Brito Filho, Laerte Balbinot Dias Apoio: Iara Lombardo, Idalina Louzada, LarcioFontoura.
l EditoraJ da Universidade
IHnMMiFMmldoFfeamhitoM PG^DRPrognmi de Pfe4rtiiffe CT, OeKiwjKmmio fcrt
-
Captulo 3
Aes coletivas e a constituio do social
A "DESSOCIALIZAO" DO SOCIAL
Vivemos um momento da vida social em que os atores sociaisparecem perder a capacidade de se perceber em um sistema derelaes sociais. O "carter global" da sociedade parece se cristali-zar, o mesmo acontecendo com os conflitos que serviam para de-senhar sua unidade. O movimento operrio e sindical encontra-se em srias dificuldades para imprimir uma direo e definir umquadro de significaes, um modelo de compreenso graas aoqual o modelo cultural possa aproximar-se do modo de conheci-mento (Touraine, 1973; Martuccelli, 1991). Sem pontos de refe-rncia quanto ao, o social torna-se opaco e submisso ao movi-mento de sinais, no qual os atores tm dificuldades para recons-truir o sentido de suas aes. Seguidamente, inclusive, mesmo queno manifeste um conflito, o social parece a expresso de umaagonia na sua aspirao em reencontrar sua integrao, uma ex-ploso de manifestaes de minorias que mais ningum segura eque a tudo parece se opor.
Do ponto de vista sociolgico, para alguns tericos essa frag-mentao configura o esgotamento de uma certa concepo dosocial. Para outros, no entanto, o que se assiste nada menos, nadamais, que um fenmeno de "dessocializao". J do ponto de vistacultural, esse perodo visto, preferencialmente, atravs da ima-gem do vazio (Barel, 1984; Baudrillard, 1982). ,:
A hiptese de natureza histrica da "dessocializao" encon-tra-se associada incapacidade dos atores em criar um espao para
119
-
as suas relaes. Essa concepo prxima daquela de Polanyi(1983), guardando relao com as ideias que fizeram surgir o li-beralismo econmico na Inglaterra do incio do sculo 20, atravsdo fenmeno marcante que o "mercado regulador". At entosecundrio e subordinado sociedade, o mercado adquire pro-gressivamente sua autonomia; os fenmenos econmicos distan-ciam-se do social, constituindo um sistema prprio: um proces-so que Polanyi chama de "dessocializao da economia".
Essa distoro da economia situa-se na base da crise do libe-ralismo. A ideia central do "sistema de mercado auto-regulador",que pensa todos os fundamentos da civilizao, foi estendida a todasas esferas da vida social. Conseqentemente, vai se constituir uma"sociedade de mercado" em que a economia se tornar dela de-pendente e no mais do social.
O surgimento da ideia de mercado conduziu mercantilizaoda vida, tentando dotar o mundo social de uma ordem intelectual.O mercado passa a ocupar o lugar deixado vago pela tradio, assu-mindo a funo de guia da ao dos homens. E mais, o mercado, almde seu carter impessoal, passa a estimular a igualdade democrticagraas instaurao da suposta e propalada "igualdade de oportu-nidades". Mas, antes de tudo, a ideia de mercado contrape-se a todaautoridade central planificadora e, pela influncia decrescente da tra-dio, vai reintroduzir, atravs da ideia de auto-regulao do social, aharmonia l onde parecia existir somente a desordem e o perigo dedesagregao social. Essa nova ordem que imps o mercado tem aseguinte significao: o econmico o espao no qual se realiza a har-monia social, e em que o mercado a compreenso econmica davida social e poltica (Martuccelli, 1991). mercado toma-se umverdadeiro sistema de representao que comanda a ao e a visodos fatos sociais (Rosanvallon, 1989); ele assume a autonomia dosindivduos atravs da despersonalizao das relaes sociais.
A "dessocializao" supe a dissoluo da ideia de projetosocial, ou seja, suprime toda a vontade de orientao mais ou menosconsciente dos fenmenos econmicos, visto que toda interveno,por mais local que possa ser, traduz-se por uma desregulao doconjunto. As tentativas de socializao exprimem uma grandeutopia das aes coletivas e uma vontade de produo de novasrelaes sociais, anunciando, de maneira mais ou menos explci-ta, a possibilidade de constituio de uma sociedade munida deum projeto social global e opondo-se ideia de "dessocializao".
120
Quando se encontram confrontados com o fenmeno da deso-cializao, certos atores tendem a produzir, pelo vis de suas aes eem situaes determinadas, novos referenciais suscetveis de dar um(novo) sentido ao social. dessa maneira, por exemplo, que se cons-tituiu historicamente o movimento operrio. Desde o incio da Revo-luo Industrial os trabalhadores, centrados na comunidade e nosvalores tradicionais, encontraram a fora espiritual para se opor industrializao, transformando, pouco a pouco, um protesto dedimenses morais em uma cultura poltica de classe baseada na eco-nomia poltica da explorao. Assim, o movimento operrio acaboupor afirmar um novo modelo de conceitualizao do social: este, nolugar de ser o resultado de relaes de submisso pessoal e de equil-brios instveis e impessoais, toma-se um espao de regulao, umaforma de "conceitualizao" das relaes sociais pelo conflito.
Com o tempo, o movimento operrio vai perdendo pouco apouco sua vitalidade, deixando, ento, se instalai' uma crise: a utopiapregada se enfraquece e as formas de solidariedade se estiolam. Asexpresses e manifestaes sociais atuais parecem, de novo, indicar aentrada no mundo da anomia (Durkheim, 1982), da desintegraosocial, da fragilidade das relaes entre indivduos e coletividades. Omercado, por sua vez, retoma seu lugar com fora e significao re-novadas. Nesses tempos difceis, as ideias neoliberais parecem quererprogredir e ganhar espaos anteriormente inimaginveis, em parti-cular em certos pases perifricos. A ausncia de compreenso socialda sociedade por parte dos atores encontra-se reforada pela diferen-a/distncia que se estabelece entre as organizaes sociais, o econ-mico e o Estado e, de maneira mais especfica, entre as formas insti-tucionais e as expresses autnomas do social.
Se se pudesse generalizar o que precede, parafraseando Mar-tuccelli (1991), diramos que, hoje, o social seria uma distoro eum obstculo expresso real dos atores. Ele parece assumir suaautonomia em relao ao poltico e mesmo, s vezes, romper como econmico, sem, no entanto, encontrar uma forma de expres-so adequada.54 Offe (1988), por exemplo, diz que, nesse contexto,a diferenciao funcional entre "habitantes" e "cidados" foi mui-to longe e essa a razo pela qual os movimentos sociais se esfor-
54 A crise de representatividade dos partidos polticos e de certas organizaespolticas institucionalizadas parece constituir o exemplo mais perceptvel dessamanifestao nos dias atuais.
121
-
Iam para restabelecer uma relao entre atividade social e a mani-festao da vontade poltica. Para esse autor, da mesma forma quepara Habermas (1987), os movimentos sociais, e especialmente os"novos", so, antes de tudo, respostas s provocaes externas, comono caso da invaso do Estado e da economia nas esferas privadas.A esfera poltica cessa de institucionalizar os conflitos sociais exis-tentes e chega mesmo, algumas vezes, a lhes abafar ou a lhes ex-cluir do debate social. Ao mesmo tempo, e em razo disso, come-am a surgir outras organizaes de representao de interessesque buscam, com maior ou menor sucesso, se situar fora do siste-ma poltico institucionalizado. O neocorporativismo, as ONGs eos novos movimentos sociais so exemplos significativos.
Um fenmeno similar produz-se, ento, na economia: umazona escura econmica se estende sobre o mercado controlado pelaao do Estado e pelas grandes e mdias empresas pblicas ou pri-vadas. Paralelamente s tentativas estatais (ainda que fracas) de pro-teo contra as desigualdades econmicas e sociais, observa-se oaparecimento de novas formas de desocializao. crise dos meca-nismos de regulao poltica e organizacional, devido em particu-lar tecnoburocracia, acrescentam-se os automatismos do merca-do, a ascenso do neoliberalismo, o recurso pequena empresa, oalargamento da economia subterrnea, etc. Do ponto de vista soci-al, essa recomposio refora um certo dualismo, ou seja, a divisoda sociedade em dois setores bem demarcados, com limites de se-gurana econmica e de estabilidade poltica muito diferentes. Umafratura acontece, por exemplo, entre os detentores de um empre-go e aqueles que dele so privados; entre os que possuem terras eaqueles que no a possuem em rea suficiente para alimentar a si ea sua famlia; em suma, entre aqueles que so integrados e os queforam socialmente marginalizados. Esse dualismo na realidade de-fine uma diviso bem clara, um limite que determina a concepode cidadania e a participao/integrao social.
Se levada s ltimas consequncias, nessa abordagem pode-seencontrar as explicaes para as aes de violncia, de indignao cde pi~otesto, as quais podem variarquanto sua operacionalidade do paroxismo ineficincia. Por outro lado, assiste-se ao surgimentode manifestaes de renncia, de apatia, de abandono da esfera p-blica e de enclausuramento no espao privado; ao individualismoseguido de perda da compreenso relacional da situao social na qualse encontra certos grupos e indivduos. Para aqueles atores que vem
ainda na sociedade moderna dual um campo de disputas reais, pelasquais devem lutar, para estes configura-se o espao conflitual, de pro-testo e de reivindicao, em uma tentativa de "ressocializao" do socialem geral e do econmico em particular. esse amlgama entre aquelesque so mais ou menos conscientes de sua situao social e os que seencontram alienados dessa mesma situao de excluso que vai seconstituir a condio primeira - e mais evidente - de caracterizaode novas formas de conflitualidade; a inexpressividade do social de-vendo ser combatida pela busca de uma ou mais disputas reais e co-muns entre aqueles socialmente no-integrados.
O mecanismo da dualidade reforado, de fato, por duasmaneiras: de um lado, pelas diversas instituies encarregadas emintroduzir a racionalidade no sistema econmico, quer sejam aque-las ligadas diretamente ao Estado, as diferentes organizaes para-estatais ou privadas, etc. Essas instituies s fazem reforar a liga-o/relao entre elas, deixando crescer a distncia em relao aomundo dos excludos e dos marginalizados; de outro lado, pelasnumerosas classes, categorias ou "subclasses" sociais, privadas de umengajamento social mais definido, que se enclausuram em ummundo privado, especfico e restrito, paralelo quele da sociedade"oficial". Nesse contexto, o dualismo toma-se um obstculo a maispara a expresso do social, no qual os atores perdem toda possibili-dade de compreenso relacional de sua situao social (ou de to-mada de conscincia de sua situao social, como preferem alguns).
Existem, entretanto, os excludos que tentam sair do enclau-suramento, ou, pelo menos, romper com as amarras que lhes con-finam na apatia, no marasmo e no determinismo.- Esses atores aca-bam por criar uma certa conflituosidade atravs de seu protesto eda contestao de sua situao social e economicamente marginal.Seu veredicto associa-se, invariavelmente, a uma constatao glo-bal idntica: preciso "alargar" a autonomia e o princpio de ci-dadania, considerar os excludos como dotados de direitos civis,polticos e sociais, dar-lhes uma certa independncia e a liberda-de de oportunidades. assim que, luz desse princpio, algumasdas aes e reaes estudadas parecem se orientar contra o mun-do dos nmeros, da produo a qualquer preo, da dependnciaquase que total em relao ao mercado, de obsesso em um cresci-mento inexorvel, do progresso no-crtico. Esses atores vo nadireo de sua subjetivao e de suas prticas; em direo de umasensibilidade em relao ao "melhor ser e viver".
122 123
-
De uma maneira amplificada, dir-se-ia que a "dessocializaao"estaria na base das lutas sociais associadas modernidade e aos seusprocessos sociais e materiais. Essa ideia acaba por inscrever o socialno poltico e no econmico. Nesse espao, o social apreendidoatravs dos reflexos do poltico e como resduo do econmico.
ATORES E AES COLETIVAS: A (RE)CONSTITUIO DO SOCIAL
Durante muito tempo no mbito das cincias sociais a aocoletiva foi estudada dentro dos limites das concepes herdadasdas filosofias da histria. Desde ento, fundou-se um dualismoanaltico de compreenso segundo o qual a ao coletiva frequen-temente tratada como sendo um efeito direto de crises e das con-tradies estruturais (funcionalismo), ou como a expresso decrenas e orientaes comuns (marxismo). A importncia colo-cada em primeiro lugar no contexto socioeconmico e, em segun-do lugar, no papel da ideologia e dos valores. De acordo com essasperspectivas, os atores encontram-se, seguidamente, destitudos designificaes concernentes s suas aes. Essas teorias no levamem considerao "todas" as dimenses do conflito na ao coleti-va, ou reduzem-nas facilmente a reaes patolgicas ou marginais.
O que nos interessa aqui romper com esse dualismo a par-tir de uma anlise que leva em considerao as expresses (confli-tuais ou no) manifestadas no prprio movimento de contestaona sociedade brasileira em geral e na agricultura em particular.Da a inteno de colocar sob a lupa algumas expresses de con-testao - seguidamente confundidas ou ignoradas -, tentandoressaltar suas nuances particulares, suas ambiguidades, suas leitu-ras do social. Essa perspectiva no se coloca numa tica histricade mudana ou de transformao, mas sim como linha de condu-ta principal, permitindo identificar as expresses e as manifesta-es sociais que buscam "configurar" o social, no espao mais oumenos restrito que constitui a agricultura no Brasil meridional.
O que aparece mais claramente no conjunto das (r) aes elutas analisadas que, nelas, os atores so temporrios, revestindode interesses mais ou menos especficos a sua participao, anun-ciando sociedade que problemas fundamentais existem, que preciso atac-los e resolv-los. Essas aes tm um certo carterproftico e se apresentam nesse sentido, como afirma Melluci
(1980; 1985), como um veculo de comunicao. Os atores enga-jados nessas aes no lutam simplesmente s por objetivos mate-riais, econmicos, ou, ainda, para ampliar sua paiticipao polti-ca no sistema social. Lutam, tambm, em busca de interesses e re-compensas simblicas e culturais, por diferentes significaes e ori-entaes da ao social. Eles combatem por coisas suscetveis demudar a vida no cotidiano, hoje, no imediato, assim como pormodificaes mais gerais concernentes sociedade.
OS MODOS DE LEITURA DO SOCIAL
A "leitura" constitui um elemento importante da ao coleti-va. o momento em que os atores sociais tomam conscincia (sim-bolicamente) da relao desigual e conflitual que estabelecemcom um outro ator (ou um outro bem), que seja possvel - ou no- a elaborao de uma concepo social dessas tenses. A leitura ,por conseguinte, uma constituio simblico-cultural dos conflitos.
Assim concebido, o social pode revestir diferentes modos deleitura: "de agregados", "essencialista" e o "relacional". Todos es-ses modos se inserem em uma trama interativa constitutiva da re-alidade humana, mesmo apresentando concepes fundamental-mente diferentes. Essas formas de leitura misturam-se entre si, po-dendo os atores passar de uma lgica outra ou, ainda, incorpo-rar elementos de uma em outra para formar um quadro comp-sito. No existem, portanto, paredes intransponveis, nem recipi-entes hermticos nessa compreenso.
A leitura social "de agregados" gira em torno da ideia geralde mercado, este apreendido como representao de aconteci-mentos humanos. Essa leitura do social est intimamente ligada ideia (ou tendncia) de subordinar o trabalho individual oucoletivo circulao de dinheiro, portanto, ao econmico (a valo-rizao social passa quase que exclusivamente pela realizao e con-cretizao dos espaos mercantis, da produo e do consumo).Nesse contexto, o mundo da produo, do consumo - o sistemaeconmico - e o sistema poltico encontram-se separados, sob aforma de agregados, "dissociados" do ponto de vista social. O co-letivo foi quebrado. A partir da, o mercado assume toda sua im-portncia e aparece como o agente unificador do social, atravsda viso econmica das coisas (disso advm, por conseguinte, arelao ntima entre as aes e a crise econmica).
124 125
-
IIO mercado se constitui, portanto, no "componente central" desse
modo de leitura; uma leitura que visa antes de tudo ao resultado to-tal das aes e seu encadeamento, resultado esse que o equivalenteformal (no plano da ao coletiva) ao mercado como princpio derepresentao das atividades econmicas. Enfim, no social a compo-sio das aes e seus efeitos no regulveis/regulados anulam todareferncia a um projeto de domnio dos acontecimentos.
Quanto leitura "essencialista" do social, ela j est ocorrendoem todos os lugares onde as identidades se definem pela influnciada excluso social e onde os atores se abrigam em torno de sua pr-pria autodefmio; onde os grupos, as comunidades ou "tribos" de-terminadas encontram-se no limite da ruptura e/ou da violncia.
A leitura essencialista est na origem da impotncia de cer-tos atores em conceber perfeitamente os conflitos, o que os leva aescorregar para a tentao da ruptura ou do isolamento. Os con-flitos perdem, ento, sua centralidade conceituai para entrar nalgica da gesto; dito de outra forma, os conflitos deslocam-se emdireo aos "problemas". Essa uma forma de leitura que, comoser visto logo a seguir, ganha uma presena importante em umasrie de condutas sociais.
As aes decorrentes dessa interpretao do social tendem a"essencializar" os atores. Elas tendem a fazer apelo, na sua formamais extrema, identidade, essncia, a um inimigo ou utopiatotal. Na maioria dos casos, a incapacidade em "conflitualizar" osocial conduz os atores sociais ruptura, marginalidade e ao iso-lamento, circunscrevendo-os em um sistema de que recusam a acei-tar os princpios gerais e diretores.
O individualismo e o comunitarismo constituem as expressesmais claras da leitura essencialista, "dessocializando" os atores sociais. o "eu" que toma o lugar do social imperceptvel, e os atores se diri-gem a identificaes definidas atravs de formas mltiplas de engaja-mento social, a diferentes culturas, microssociedades, diferentes esti-los, modos e condies de vida, procurando, assim, dotarem-se deidentidades mais estveis, regulares e mais ou menos imutveis. Inca-pazes de recriar uma imagem relacional do social, os atores se fechamem si mesmos, a fim de procurar (neles mesmos) o que no conse-guem obter externamente: uma identidade. Trata-se, seguidamente,para esses atores, de uma afirmao a partir de definies ou de con-cepes pr ou metassociais: a moral, as condies de trabalho e deexistncia e os princpios essencialistas, entre outros.
126
Quanto leitura "relacional" do social, esta se apoia fortemen-te em trs princpios fundamentais. Em primeiro lugar, h sem-pre uma causa e um efeito nas aes sociais, com as particularida-des prprias a cada domnio, mesmo considerando que a causali-dade prpria racionalidade instrumental e cientfica. Nas ci-ncias sociais, entretanto, so os atores e suas intencionalidades acausa, e o "quem" responde de uma certa maneira ao "porqu".O problema reside na concepo da intencionalidade.
O segundo princpio de base desse tipo de leitura se resu-me na ideia de que a realidade social nunca transparente; aocontrrio, est, de uma certa forma, um pouco escondida aosolhos dos atores.
Enfim, esse modo de leitura das prticas sociais surge com oenfraquecimento da sociedade tradicional; no se cansa de se in-terrogar sobre a maneira de conciliar o passado e a modernidade,o antigo e o novo, de integrar o social e de construir um "ns"coletivo. assim que se constitui o terceiro pilar da leitura relaci-onal, graas vontade de reconstruo de um centro de refern-cia no meio do desencantamento.55
De fato, o desencantamento est na origem da leitura relaci-onal na medida em que somente as relaes racionais, e no asrelaes primrias, primitivas ou naturais, que so suscetveis deobedecer a uma estruturao nos sistemas de relaes sociais. Ditode outra forma, preciso que os fatos sociais sejam concebidoscomo a expresso de uma vontade e que, por trs dos aconteci-mentos sociais, aparea a responsabilidade do Outro. Para Mar-tuccelli (1991), por exemplo, preciso que se leve em conta asobrecarga simblica prpria ao social, a denncia das definiesque o antagonismo impe; em resumo, a certeza de que o social,por mais opaco que seja, se apresente nossa viso sempre como oresultado de uma ao humana.
Eis, portanto, de maneira resumida e um pouco esquemtica,como o social, como conceitualizao relacional de um complexoorganizado de aes, encontra-se configurado por esses trs modosdistintos de leitura, ainda que apresentem diferenas considerveis.
' Na expresso de Weber (1971).
127ii r >
-
A LEITURA SOCIAL DE AGREGADOS E AS REAES DEADAPTAO/INTEGRAO
Entre os atores sociais que fazem uma leitura de agregados, soos argumentos econmicos que dominam as cenas de reivindicao,de protesto e de crtica. A condio social de marginalidade - emesmo de excluso vista, seguidamente, como consequnciadireta de uma desregulao do mercado e dos mecanismos e ins-trumentos de controle estatais. A ideia de (in) viabilidade econmi-ca (com todas as repercusses que pode ter) est, alis, muito pre-sente nos discursos, e os atores que buscam centralizar as iniciativasc as presses acabam por exprimi-la muito claramente. O argumentoe a prpria ideia de viabilidade - ou de inviabilidade - econmicatornam-se ento princpios motores das reivindicaes.
O Estado, ao mesmo tempo em que aparece como um interlo-cutor privilegiado, visto, tambm, como o principal alvo das pres-ses e crticas. verdade que este, no caso brasileiro, no respon-deu aos interesses de certas categorias de agricultores como promo-tor da modernizao na agricultura, em particular da pequenaagricultura familiar. Essa posio do Estado conduziu os atores aassumir duas atitudes principais: uma, que condena o aparelho es-tatal assim como sua tecnocracia, acusando-os de serem insensveis,discriminadores e elitistas; outra, que faz a crtica da sua lgica cen-tralizadora, chegando mesmo a descrev-la como um vasto compldirigido contra determinadas classes e categorias sociais.
Tais tomadas de posio levam, de fato, os atores a defende-rem uma lgica dbia de enfrentamento: ora centram-se na crti-ca pura e simples, ora buscam reivindicar sem jamais romper como ponto de tenso, o que os levaria a uma ruptura ou desintegra-o total das formas e canais de reivindicao/manifestao. A pres-so poltica passa, quase sempre, pelos sistemas institucionalizados(assembleias, prefeituras, partidos, etc.).
As alianas buscadas tendem a se constituir em torno de rei-vindicaes gerais concernentes a preos, crdito e mecanismos decomercializao, reunindo, por vezes, um contingente social mui-to heterogneo que se agrupa na categoria genrica de "produto-res agrcolas".
Estando dadas as dificuldades que encontra o Estado pararesponder s reivindicaes na sua totalidade, como tambm ofosso que no cessa de aumentar entre aqueles que se encontram
128
em dificuldades e os que ainda conseguem - mesmo que parcial-mente - modernizar os seus meios de produo, a ao toma umanova direo, experimentando novos processos de trabalho susce-tveis de corresponder s necessidades e aos obstculos que encon-tram os produtores em questo. E assim que comeam a surgir asideias de diversificao agrcola, a marca (label) orgnica e ecol-gica e a cooperao agrcola entre pequenos agricultores e os as-sentados. Essas iniciativas referem-se especificamente ao domnioda produo propriamente dita e organizao social, no fechan-do a porta s negociaes e s reivindicaes junto ao Estado.
A leitura que fazem esses atores de sua condio social leva restituio de uma viso global que alia cincia, tcnica, economia,ideologia e moral em um todo mais ou menos coerente segundo aproposio e conduta das prticas e das aes. Essa leitura permi-te a muitos agricultores reencontrar, recompor e mesmo assumirsuas prticas agrcolas. o ideal que os leva a produzir alimentossadios e de grande qualidade biolgica; a aspirao reintegra-o social e econmica e a resistncia em suas terras que levam osagricultores a adotar prticas e teorias que lhes parecem as maisjustas e adequadas, as mais autnticas, igualitrias e completas, eque se apresentam, em nveis variados, como alternativas s prati-cas da agricultura intensiva, produtivista, que julgam insatisfat-rias e que, seguidamente, lhes exclui ou marginaliza.
Essas formas de manifestao e de atividades podem parecer,para muitos, marginais e at mesmo aberrantes. No menos ver-dade que elas constituem tentativas de resolver certos problemasmais ou menos imediatos, graas s quais cada grupo experimen-ta, sua maneira, responder s diferentes questes colocadas nocotidiano de um grande nmero de agricultores.
Mesmo restando muito apegadas a uma perspectiva econ-mica, que v no mercado o regulador de todas as anomalias e dis-funes, esses atores buscam atravs de suas lutas e reivindicaes,na maioria dos casos, afirmar uma nova tica de produo agrco-la, especialmente aqueles agricultores alternativos, os orgnicos eos assentados. Uma tica capaz de valorizar seu trabalho e garan-tir a reproduo, ao mesmo tempo em que se guardam preocu-paes em conciliar os crescentes imperativos econmicos de pro-dutividade e de competitividade com certas preocupaes de or-dem ecolgico-ambientais, o que supe um aumento da sensibili-dade ecolgica entre esses agricultores - mesmo que isso ainda no
129
-
i
aparea de maneira evidente entre alguns, como por exemplo osassentados -, com repercusses imediatas nos sistemas de produ-o (controle de doenas e pragas, na preparao e conservaodos solos, na proteo do meio ambiente, etc.).
Evocando certas disfunes da sociedade e das formas deproduo e de vida no meio agrcola em particular, essas aescristalizam, sua maneira, um descontentamento, um mal-estarque, alis, no encontrado somente nesse setor. Essas aes, por-tanto, no podem (e no devem) ser apreendidas nelas mesmas,assim como o econmico e o mercado no so suficientes em simesmos para explicar a realidade social. Na verdade, essas aesservem apenas como um simples revelador das dificuldades e dasincertezas que assolam a agricultura atual.
Entretanto, quando se aborda essas aes e reaes na pers-pectiva analtica proposta, elas no chegam a estabelecer verdadei-ramente um conflito social, evidenciando uma incapacidade em"integrar" os elementos dissociados que compem suas lutas e rei-vindicaes, escorregando na direo de uma institucionalizao(ou seja, em direo de uma integrao total ao poltico) e per-dendo, com isso, muito de sua dimenso (e poder) de contesta-o e crtica. O agir (no-conflitual) dessas lutas no permite,portanto, uma operacionalizao do "sentido" do social; quandomuito, conduzem a uma simples reinterpretao poltico-cultu-ral da realidade. Mesmo quando os atores se colocam dentro daproblemtica da integrao, esta no apreendida em verdadei-ros termos de conflito.
Para no serem inteiramente absorvidas pelo sistema polti-co, essas reivindicaes devero incorporar, ao mesmo tempo, ele-mentos negociveis e no-negociveis. Isso poderia conduzir asmobilizaes a um certo sucesso, ao mesmo tempo em que a con-testao restaria dentro de seu princpio negocivel e resistiria integrao total ao sistema poltico. No entanto, isso no pareceser o caso na maioria das aes e lutas que se ligam forma de lei-tura dita de agregados e que constituem a maioria das manifesta-es que se inserem no quadro das aes contestatrias levadas aefeito na agricultura do sul do Brasil. Seu carter de no-negocia-bilidade , de fato, muito reduzido, conduzindo-as a uma quase to-tal absoro pelo sistema institucionalizado, atravs do conjuntode aparelhos e rgos de enquadramento e normalizao oficiais(pesquisa, extenso rural, polticas pblicas, etc.).
130
Est-se longe de admitir, porm, que essas aes e atores soincapazes de influenciar o social, visto que se situam nos limites dosespaos sociais constitudos. Em certos casos, especialmente nas ex-perincias de cooperao entre os assentados e em certas ideias domovimento ecolgico que inspiram as aes em favor de uma agri-cultura alternativa e orgnica, as aes situam-se na origem de umarenovao do poltico - por mais passageira que seja - e de mudan-as significativas no plano cultural. Mas, constata-se, essas aes eatores no se mostraram, ainda, capazes de introduzir uma novaconceitualizao do social. No futuro, porm, essas lutas poderoencontrar outras motivaes que viro se acrescentai- s atuais, alar-gando o espao social e poltico, articulando e relanando certasdessas lutas em direo de uma outra dimenso, conflitual desta vez,caractersticas de um movimento social.
Uma grande ambiguidade, fonte de inmeros erros de in-teipretao, resiste, ainda, nas aes centradas na leitura socialde agregados. Observa-se que uma das "armas" prediletas dosatores em luta seu discurso tico e moral, ou seja, uma repre-sentao da sociedade que tende a recusar a dicotomia existen-te entre as diversas prticas sociais dos indivduos e que se ca-racteriza pela vontade de coerncia e de sistematizao nas suasprticas. A busca de uma harmonia universal nas relaes queo homem mantm com a natureza, to pregada pelo movimen-to ecologista, comea a impregnar esse discurso e j influenci-ar sua ao. Sob essa tica, no haveria de um lado a moral, atica e as prticas culturais e, de outro, mais ou menos separa-damente, as prticas produtivas que se situariam em um outrosistema de referncia. Isso quer dizer que a tcnica e a econo-mia so instncias, agregadas, que devem se submeter as nor-mas e regras a um conjunto de prticas com caracteres distin-tos. aqui, precisamente, que reside a ambiguidade: mesmocondenando a superioridade das instncias do econmico, es-ses atores no conseguem superar os limites de seu combate, desuas lutas, subordinando regularmente suas reivindicaes emrelao a essas mesmas instncias (do econmico). Eles fazemuma crtica da racionalizao sem conseguir sair do quadro dessaracionalidade, ficando evidente sua confiana na todo-poderosaideia de mercado e das relaes econmicas que lhes so pr-prias. Por outro lado, ainda, fundar as prticas econmicas etcnicas no nas exigncias tcnicas e econmicas, mas sobre
131
-
2Las condies e situaes exteriores aos prprios produtores,conduz no somente s ambiguidades como tambm alimentaas crticas de alguns que consideram tais princpios um verda-deiro absurdo, consequncia de uma iluso.
Mesmo parecendo paradoxal, essa ambiguidade que per-mite maioria dos atores pensar suas prticas como no sendo deresistncia ou de simples sobrevivncia fsica. A perspectiva econ-mica, da disputa de mercados, da necessidade de competio parasobreviver na atividade agrcola, sempre presente no interior dasaes, lhes permite estabelecer uma ligao com o mundo da in-tegrao e da viabilidade econmica e social.
A ambiguidade em questo faz com que esses atores per-maneam ligados perspectiva da predominncia econmicanas prticas produtivas (a integrao torna-se um caso estrita-mente econmico), mesmo condenando essa influncia e bus-cando estabelecer outras instncias para serem privilegiadas.Quando alguns conseguem se desprender dessa lgica econ-mica, que resultante, seguidamente, de uma reao de medoe incerteza (de inadaptao, de condenao excluso total),apegam-se a estratgias identitrias, de resistncia, de proteocontra tcnicas e prticas econmicas prprias produomoderna e que eles confessam, na maior parte dos casos demaneira indireta ou implcita, no estando em condies dedomin-las plenamente.
Essa reao de fechamento sobre si mesmo, de busca deuma identidade e de resistncia permite que os grupos emquesto se reaproximem e se sintam mais solidrios em rela-o a outros grupos que fazem uma leitura diferente do soci-al. E portanto, nesse ponto que parece se dar a passagem daleitura de agregados quela dita essencialista, examinada aseguir. Essa racionalizao a posteriori resta ainda minoritriaentre aqueles atores engajados nas aes que privilegiam a ideiade agregados.
Enfim, no se poderia dizer (ou, pelo menos, admitir) queessa ambiguidade indica uma certa aceitao por parte dos atoresda ideia fundamental de que somente seriam racionais as condu-tas que melhor se inscrevem dentro da racionalidade (instrumen-tal) econmica?
A LEITURA ESSENCIALISTA DO SOCIAL E A BUSCA.DE IDENTIDADE
Como j visto, esse tipo de leitura do social pode ser umaconsequncia, uma derivao das interpretaes de agregados. Poroutro lado, pode ser tambm uma derivao da leitura relacional.Ou seja, fruto da incapacidade em tornar conflitual o social, osatores so conduzidos ao isolamento ou ruptura.
Mas o modo de leitura essencialista entre os atores sociais podeir alm disso: por exemplo, at mesmo negar uma relao (trama)social ou, como mostram algumas das reaes estudadas, definirum social restrito, fechado em si mesmo: a "identidade e/ou acomunidade".56 Na impossibilidade de articular as diversas deman-das e necessidades, e na falta de respostas efetivas s suas reivindi-caes, os atores tendem a fugir em direo ao cultural. A perdade um posicionamento social natural, devido ruptura de certasformas tradicionais de vida e trabalho, encoraja alguns atores aconstituir novas comunidades ou subculturas, nelas reencontran-do a segurana identitria e a moral perdidas.
Na maior parte do tempo, esses atores manifestam seus temo-res a respeito dos perigos da cincia e da tcnica modernas, bemcomo de seus procedimentos e mecanismos, do mercado e de suasleis e normas rgidas, temores esses que os levam a elaborar umamicrocultura, um microssocial ou ainda uma microssociedade - acomunidade - fortemente marcada, em todos os casos, por princ-pios ecolgico-conservacioriistas, por uma agricultura componesae pela influncia da tradio. Trata-se, geralmente, de reaes con-tra um processo de modernizao que tende a tomar autnomas asesferas sociais, e que promove a eroso de compromissos sociais queso ditados pela comunidade. Por conseguinte, os atores buscamreintroduzir a unidade 110 seio de uma sociedade cada vez mais frag-mentada e de dramatizar a desagregao do tecido social. por issoque se faz seguidamente apelo s formas de vida e trabalho "de an-tigamente", consideradas como mais agregadoras, aquelas ditas de
56 Utiliza-se a noo de "identidade social" - grupai, coletiva ou comunitria, realou simblica - como "forma de solidariedade" e como uma "tentativa de constru-o de conscincia social e cultural entre os atores"; uma identidade que ser de-fensiva ou ofensiva segundo a capacidade de definio ou de identificao de um."campo de conflito" (social). Nessa concepo, uma coisa parece fica bem clara:a noo de identidade como "grupo socialmente e/ou culturalmente construdo".
132 133
-
IIsubsistncia. Nesse contexto, o saber popular ou campons encon-tra-se revalorizado e mesmo sobrevalorizado, frequentemente se afir-mando contra a cincia e seus processos tcnicos modernos.
A afirmao de uma identidade (mais defensiva) conduzregularmente a aes de tipo comunitrio, que se propem maisou menos autnomas. A comunidade torna-se o lugar onde todasas demandas e necessidades podem ser satisfeitas, o escudo quepermite afrontar as dificuldades, em particular as materiais. Acomunidade , geralmente, concebida em torno de uma identi-dade definida como tendo forte influncia camponesa, na qualos valores ticos e morais exercem um papel de primeira ordem.Uma tal afirmao identitria no acontece sem um recuo dasidentidades propriamente sociais e em detrimento daquelas quese inscrevem na natureza, na tica, no meio ambiente, etc.
Essa ideia camponesa se constri, portanto, em torno de al-guns princpios ecolgico-conservacionistas, de garantia das tra-dies do campo, da manuteno do homem sobre a terra e daautonomia (sobretudo no plano produtivo). Assim, se caracterizaum tipo de estratgia cultural de sobrevivncia, acompanhada darecriao de um espao de autarquia, de enclausuramento e defechamento em torno da identidade. importante salientar, noentanto, que as estratgias econmicas esto presentes na maiorparte do tempo, mesmo que por vezes de forma subordinada en-tre os objetivos socioculturais perseguidos: a reproduo da fam-lia, da comunidade e da categoria socioprofissional dos agriculto-res. E frequente, pois, a passagem lgica social de agregados.
Em vista de tudo isso, pode-se avanar na ideia de que essa for-ma de leitura do social e de suas representaes constituiriam umaresposta "cultural" aos problemas existentes nos planos econmicoe social. Mas isso ser visto mais detalhadamente logo a seguir.
Os atores e grupos submetidos influncia de uma leituraessencialista na agricultura do sul do Brasil mostram, tambm, aexemplo da leitura de agregados, uma propenso a identificar oEstado como o centro do poder, ao qual deve-se opor uma estru-tura de resistncia em face da sua influncia generalizada. claroque essa postura no impede que os grupos estabeleam trocas enegociem com o Estado. Pode-se, portanto, ser surpreendido, emtal contexto, com muitas manifestaes de grupos e indivduos queaspiram a um retorno global ao passado, fazendo uma imagemtotalmente regressiva do progresso.
134
Aqueles que reivindicam a defesa de uma identidade, de umgnero de produo material e de um modo de vida especficoprximo daqueles apresentados, so entidades e associaes quese dizem representantes (e, s vezes, porta-vozes) de uma certacoletividade. Este parece ser bem o caso de algumas iniciativas le-vadas a efeito por segmentos das igrejas catlica e luterana no suldo Brasil. J combalidos por uma crise social e econmica crescen-te, esses grupos tentam reunir os indivduos em tomo de uma ideiade integrao e coeso internas (a f crist), capazes de multipli-car as foras de enfrentamento aos inimigos externos, ou seja, oEstado e suas polticas, o mercado e determinadas classes e cate-gorias socioprofissionais na agricultura. E essas foras coletivas ins-piram-se, geralmente, no modelo de vida das comunidades cam-ponesas, exemplo de coeso, de autonomia, de solidariedade e deproteo da natureza. O que est em jogo, aqui, uma idealiza-o de um tipo de agricultor (o campons), ou seja, a busca deuma identificao cultural.
Esse ideal tem a tendncia a gerar uma certa atitude de reaofrente a tudo que pode ser identificado como agresso a uma estabi-lidade do mundo campons. Ele advoga que a "harmonia natural domundo" foi rompida pelo uso abusivo e descontrolado da tecnologiae pela opresso e dependncia dos indivduos ao mercado e s suasregras pouco flexveis. Isso incita certos atores e grupos a assumiremuma atitude claramente reacionria frente, por exemplo, tecnolo-gia ou ao progresso tcnico-cientfico. Por vezes, alguns grupos, emparticular aqueles influenciados e coordenados pelas igrejas, chegama ver nas tecnologias tidas como modernas alguma coisa de "mau" ede "destrutivo" em si (Almeida, 1989). Pregam o retorno a um passa-do idealizado, como, por exemplo, evidenciam algumas das proposi-es do CAPA, atravs da ideia de uma agricultura idntica quelapraticada pelas antigas colnias de agricultores alemes no sul do Pas,um passado em que se possa reencontrar os fundamentos de umasociedade "auto-suficiente, independente e autnoma". Esses gruposexprimem uma espcie de revolta intelectual primitiva contra o pro-gresso e o desenvolvimento econmico que no conseguem compre-ender nem to pouco seguir.
Uma grande ambiguidade aparece outra vez nas proposies,evidenciada quando os agricultores se vem empurrados para umacompetio, mesmo que com o nico objetivo da sobrevivncia,em um mercado no qual no se reconhecem nem dominam as
135
-
IIregras, mas ao qual, apesar de tudo, devem se submeter. Disso re-sulta uma atitude esquizofrnica, na qual os atores ora criticam omercado e exaltam a agricultura de subsistncia, ora aceitam co-modamente a inevitabilidade de sua sujeio s regras de comer-cializao ditas racionais.
E, portanto, no modo de organizao da produo, na manei-ra como se vive as relaes sociais, no trabalho concreto, nas estrat-gias de reproduo e suas reivindicaes que os atores que fazemuma interpretao essencialista do social procuram identificar ecaracterizar um "saber campons" ou emprico, reafirmando o agri-cultor como sendo o centro e o ator principal do processo de pro-duo agrcola. Esse saber campons composto de conhecimen-tos, aptides, atitudes e valores adquiridos atravs das prticas edu-cacionais e das experincias de trabalho de que participam os agri-cultores e que so transmitidas de gerao gerao, de pai parafilho, mesmo que, por vezes, se mostrem difusas e contraditrias.
Evocar um saber campons induz constituio de um saberde resistncia, um movimento de autodefesa contra todas as agres-ses e ameaas externas. tambm uma tentativa de reforar oesprito de unio, de solidariedade destinados a combater essesmesmos perigos. Essas so, em parte, as condies de criao decertos grupos de agricultores quando eles querem aumentar suacapacidade de resistncia ou ampliar seu espao econmico - nosem ambiguidades e dificuldades - contra um "saber de moderni-zao", contra a racionalidade instrumental, em suma. Como di-zem Brando e Reis (1982), trata-se de um saber que garante oequilbrio de um modo de vida precrio, ou seja, um saber de so-brevivncia em condies precrias.
A recuperao e a exaltao do saber campons tenta forjarum tipo ideal de agricultura e de agricultor. Essas tentativas, noentanto, no vo todas na mesma direo. Grosso modo, pode-sedistinguir duas tendncias: uma, mais conservadora, que se apega conservao do campesinato naquilo que ele tem de primitivo etradicional; outra, que se esfora em redefini-lo no sob uma ti-ca moderna, tal como prefeririam o Estado e seus organismos e osagentes do mercado, mas tornando-o mais autnomo e mais in-dependente.
Mas esse ideal campons vai se chocar de frente com a ideiade segmentao do campons ideal que querem imprimir e enco-rajar os poderes pblicos e a ideologia agrcola modernizante, em
particular via ensino tcnico, extenso rural e pesquisa agrcola.Esse ideal campons se choca, portanto, com a ideia de agricultormoderno, voltado essencialmente para o lucro e totalmente depen-dente do mercado.57
Conforme as duas tendncias destacadas e que concernemao tipo ideal de campons, os atores e grupos distinguem-se segun-do duas vises ideolgicas bem diferenciadas. Os setores ligados sigrejas catlica e luterana, certos segmentos do sindicalismo agr-cola e do movimento ecolgico-ambiental defendem, frequente-mente, posies de manuteno do tradicional ou, mais raramen-te, pregam o retorno a um passado mais harmonioso e uma reabi-litao de certas tradies do campesinato. Essa tica conduz, emmuitos casos, negao de certas prticas agrcolas modernas, doensino tcnico formal e a tudo que se possa identificar como mo-derno., Esses grupos voltam-se para a idealizao do mundo cam-pons e da natureza, bem como para as virtudes do campons epara a conservao de suas propriedades morais.
A outra viso ideolgica representada por setores ligados,em parte, ao sindicalismo agrcola, ao movimento de luta pela terra(MST e assentados) e se aliando a concepes defendidas por cer-tos grupos e organizaes que coordenam as aes e proposiesem torno de princpios em favor de uma agricultura alternativa.Essa tendncia procura redefinir o campesinato no mais atravsda simples imagem do agricultor (ideal) moderno; mas conser-vando algumas qualidades morais do campons (e do campesina-to) tradicional, estimulando outras formas de organizao polti-ca e social, respeitando suas prprias realidades, seus instrumen-tos de trabalho e reabilitando suas tcnicas para adapt-las s con-dies materiais e sociais atuais. O objetivo o de manter os mo-dos simples de organizao social, de desenvolver tecnologias fi-nanceira e economicamente acessveis, diretamente utilizveis pelosagricultores, suscetveis de provocar melhores resultados, maisimediatos em nvel da produtividade do trabalho, da melhoria dassuas condies de vida e do ganho de autonomia.
essa via que parece ter tomado bom nmero de proposi-es oriundas dos grupos e organizaes estudadas. Por exem-plo, aquela que visa a constituir um verdadeiro aparelho de en-
57 Para um melhor entendimento das lgicas do "ideal campons" e do "campo-ns ideal", ver Almeida (1989; 1993).
136 137
-
quadramento tcnico-econmico orientado pela atualizao/recuperao de tcnicas, de tecnologias e de procedimentosagrcolas tradicionais para adapt-los s condies dos agricul-tores hoje. J foi implantado um processo de vulgarizao des-sas tcnicas e prticas tendo em vista a recuperao e divulga-o desse saber campons emprico, mesmo que, por vezes, sejanecessrio readapt-lo para torn-lo acessvel e convincente aosolhos dos prprios agricultores.
No se poderia dizer, no entanto, que as aes tpicas de de-fesa comunitria so menos polticas que aquelas que mais se en-quadram na tica de agregados. Mesmo que elas no tenham, ain-da, conseguido instaurar verdadeiramente um conflito social, umagir conflitual, essas aes esto em condies de superar o qua-dro poltico da ao e colocar em questo o padro de desenvolvi-mento que ameaa um grupo ou toda uma categoria de agricul-tores com a excluso ou a marginalizao econmica e social. Eimportante salientar, no entanto, que, nas suas manifestaes atu-ais, essas aes tendem a se afastar da esfera poltica, conduzindoos grupos em questo manifestao de uma rejeio da polticae apelando para aes que se situam fundamentalmente nos n-veis socioeconmico, cultural e nas reivindicaes concretas.
Alm da afirmao de identidades, buscando "conservar"determinados valores da tradio camponesa, essas aes apelampara uma outra noo muito importante: a autonomia, sobretu-do cultural e produtiva. Esse sentimento autnomo nada mais que a expresso de um sentimento sociocultural, o desejo de fazerparte de um grupo de semelhantes identificados habitualmentecomo sendo de cultura camponesa, evoluindo em um espao deautoprodu e preocupado em sentir a autonomia em relao influncia de certos fatores externos de perturbao, como, porexemplo, as polticas pblicas inadequadas, insumos modernoscaros c poluentes, classes e categorias socioprofissionais concorren-tes, rigidez das regras do mercado, etc.
Esse espao social comunitrio assim construdo deveria per-mitir, ao mesmo tempo, a preservao e a afirmao de uma iden-tidade, o sentimento de segurana no contexto de uma participa-o coletiva e suficientemente autnoma para exercer suas pr-prias potencialidades; um sentimento de autonomia que, no fimdas contas, possa permitir fundar um espao em que se possa pen-sai; decidir e agir, de maneira individual ou coletiva.
138
Entretanto, a identidade que se esforam em afirmar os gru-pos comunitrios nas suas aes e demandas est ainda longe deconstituir uma identidade social ofensiva, pois essas aes no seinscrevem inteiramente no campo social, em particular naqueledos conflitos sociais. Ao contrrio, esses mesmos grupos procuram(r) construir uma verdadeira identidade cultural comunitria,recorrendo a aes e manifestaes cujo primeiro objetivo o dagarantia da sobrevivncia e da luta contra a desorganizao devi-da a uma situao de crise, dirigidas mais ou menos diretamentecontra a opresso que lhes impinge um grupo ou aparelho orga-nizacional determinado (geralmente identificado na figura gen-rica do Estado), que se apresenta como uma ameaa para seusprincpios de identidade (cultural) e os valores a esta ligados.
Tais manifestaes no podem, portanto, serem consideradascomo verdadeiros movimentos sociais, nem mesmo como aes co-letivas ofensivas. Elas so, na verdade - insiste-se nesse ponto -, umaafirmao de identidade frequentemente portadora de crticas eprotesto sociais, mas que no chegam a definir precisamente seuadversrio nem as disputas conflituais (centrais). Elas confundemo social, o cultural e tambm o econmico; o social apreendidoatravs do espelho que o cultural e como resduo do econmico.So o que se poderia chamar de manifestaes tendendo a "desso-cializar" o social; um contramovimento social com a defesa de umacomunidade contra um inimigo considerado exterior ou estrangei-ro, de sorte que difcil constituir uma disputa comum possvel entreos adversrios (seguidamente no existe, verdadeiramente, um con-flito) . Num sentido sociolgico mais global, uma recusa da mo-dernidade e dos seus processos de modernizao.
Assim, o enclausuramento em comunidades e na identidadepode ser compreendido como uma estratgia de defeco em vezde protesto. E o enclausuramento individual sob bases coletivaslimitadas (a comunidade camponesa), em que a ao coletiva noaparece onde se esperaria que aparecesse. Sob a presso dos ini-migos externos, os atores em questo geralmente fecham-se em simesmos e "defeccionam" em vez de protestar efetivamente, levan-do-os a construir uma ao geralmente mais expressiva e menosinstrumental (Touraine, 1973; 1988).
Mas essas aes de tipo identitrio esto no cruzamento detrs caminhos: uma via de integrao social e econmica, man-tendo ligaes mais reais e objetivas com o mercado e induzin-
139
-
do os grupos a manter experincias interativas com ele, aomesmo tempo em que afirmam sua autonomia e independn-cia; uma outra, com o abandono da idealizao de um mundocampons no-corrompido pelo mercado, de um espao com-pletamente autnomo e sereno, enfrentando a questo da ren-da e da viabilidade econmica do agricultor; e, por fim, umaterceira via que se apresenta como um enclausuramento, como consequente isolamento no cultural, constituindo-se, ento,uma minoria cultural58 e vendo enfraquecer, gradativamente,seu poder de luta social (no conjunto das aes e experinciasestudadas, somente um pequeno nmero de indivduos e algunsgrupos isolados, seguidamente ligados s igrejas, se aproximamdessa perspectiva. Atualmente, parecem no constituir ummovimento expressivo do ponto de vista social).
OS PRINCPIOS DA AGROECOLOGIA: RUMO A UMA LGICARELACIONAL DO SOCIAL?
Como j visto, a manifestao predominante nas aes decontestao parece indicar duas tendncias principais: ou bemtudo leva a uma integrao (sobretudo econmica) ao mundoda produo, ou a integrao implica uma leitura que conduzos atores e grupos a afirmarem uma identidade comunitria, como risco que isso comporta. Ou seja, ou as aes coletivas e reaesse integram corrente do progresso, negando as especificidadesidentitrias, ou se esforam em preservar sua identidade e aca-bam por constituir uma sociedade fragmentada em redes restri-tas de grupos ou de comunidades. Trata-se, de um lado, de umaintegrao aos sistemas pela participao e, de outro, da aceita-o (e mesmo da reproduo) de uma fragmentao social atra-vs de aes que reivindicam uma identidade cultural e um tipoespecfico de autonomia. So essas as vises do social que pare-cem monopolizar as aes e reaes estudadas.
Mas, importante constatar que essas expresses mais signi-ficativas no conjunto das aes de contestao na agricultura dosul do Brasil se inserem no quadro de uma renovao - mesmo
que passageira - do poltico e do sistema tcnico-produtivo, e tam-bm que constituem fontes de mudanas culturais. Essas aes, noentanto, no conseguiram, ainda, investir com fora no agir de tipoconflitual propriamente dito.
Por mais minoritrias que sejam algumas das aes e atores es-tudados, estes parecem, no entanto, indicar uma outra direo, pen-sando a problemtica da agricultura e de alguns aspectos da socie-dade em termos suscetveis de provocar um transbordamento dosespaos sociais constitudos, mesmo que, por enquanto, denotemcaractersticas ainda um pouco fludas, ambguas s vezes, e atmesmo contraditrias. Diferente de uma simples interpretao cul-tural da realidade social e da incapacidade em integrar no interiorde uma mesma luta elementos dissociados, essas aes comeam, soba coordenao de atores especficos, a buscar outras interpretaessociais que possam dar um (novo) sentido para o social. Tais posi-es se reagrupam em torno dos princpios e ideias que defendema agroecologia,59 encontradas, sobretudo, nas proposies avana-das pela AS-PTA e pelo Cetap.
A proposio agroecolgica se apresenta como uma aspiraogeral a uma outra forma de agricultura e desenvolvimento; se apoiano uso potencial da diversidade social e dos sistemas agrcolas, espe-cialmente aqueles que os atores reconhecem como o mais prximodos "modelos" campons e indgena. Aqueles que idealizam esse tipode agricultura tm razes para pensar que, em se aliando a um pro-jeto de desenvolvimento local, descentralizado, que privilegie a diver-sidade em cada meio, esto exprimindo novas aspiraes, novas for-mas de sociabilidade, uma vontade de promover outros padres dedesenvolvimento econmico e social que seriam mais controlveis eaceitos porque esto espacialmente circunscritos e cultural e tecnica-mente fundados na "experincia do tempo".
Ao mesmo tempo em que surgem e tentam afirmar novasnoes, essas aes e atores visam a colocar em prtica um novotipo de movimento coletivo, que vai buscar sair das formas maisou menos reclusas que assumem a maioria das manifestaes decontestao da dominao social como um todo. Mas um tal des-locamento de objetivos, mesmo que ainda de ordem "estratgica"
58 Conforme a expresso de De Certeau (1980).
140
59 Aqui no feita uma descrio exaustiva dos princpios e ideias agroeco-lgicas. O mesmo pode ser encontrado, em detalhes, em Almeida (1993), AS-PTA (1990) e Altieri (1987; 1988), entre outros.
141
-
(especialmente no caso da AS-PTA) e em estado embrionrio, nopoderia ocorrer sem grandes riscos. Uma vez mais, a atual condi-o de marginalizao e excluso de certos grupos sociais e a ne-cessidade urgente em obter resultados imediatos no plano da re-produo social, constituem fatores que jogam contra a capacida-de de afirmao dessas novas ideias, pelo menos no curto e mdioprazos. por isso que essas formas de protesto muitas vezes aindatendem a se aproximar das esferas institucionais, assumindo umcarter ora de defesa identitria, ora de reintegrao econmicano mercado. Isso enfraquece sua fora contestadora e grande partede suas aspiraes e utopia.
A divulgao/generalizao da proposio agroecolgica pare-ce encontrar alguma dificuldade para acontecer. Ao que tudo indi-ca, suas aparentes virtudes tericas e morais no foram ainda sufici-entes para al-la a um lugar de maior destaque no interior da agri-cultura brasileira. A crise que balanou as estruturas do padro do-minante parece no ter sido suficientemente forte para dar a essaposio um espao e um impacto realmente importante e geral. E se,em um prazo mais curto de tempo, no conseguir constituir um ver-dadeiro projeto econmico e social em uma escala tcnico-produtivamais global, em particular no plano da organizao social, essa pro-posio corre o risco de ficai' circunscrita simples condio de con-testadora e de exaltao da diversidade.
De acordo com esse ponto de vista, a agroecologia se depara comas seguintes questes: como considerar/elevar a diversidade paia almdo protesto puro e simples e como adapt-la s aes de desenvolvi-mento que se dirigem a uma clientela heterognea quanto aos seusdeterminantes, suas aptides e seus meios? Essas dificuldades no es-tariam ligadas a uma tendncia ao isolamento, prioridade dada acertas necessidades de camadas sociais que ainda no conseguiramdespeitar a ateno e o interesse do poder poltico institudo?
A proposio e a estratgia agroecolgicas restam ainda frgeis,pois se fundam em critrios fortemente culturais e tcnico-econ-micos (que leva primeiro distino e ao privilgio das agriculturascamponesas) e muito pouco em critrios sociopolticos.60 Por ora,
60 Essa questo tratada com mais detalhe logo a seguir. bem verdade queentre as duas ONGs que melhor representam a agroecologia dentre as orga-nizaes investigadas, a AS-PTA que est ainda emaranhada em critrios cul-turais. O Cetap, por sua vez, parece caminhar mais rapidamente na direo deuma via sociopoltica, mesmo que ainda de maneira no muito clara.
142
a agroecologia est longe de adquirir a fora do padro que preten-de substituir. Baseando-se em identidades culturais e prticas pro-dutivas que recusam, antes de tudo, ser qualificadas de "modernas",corre o risco de ficar margem de um padro dominante de de-senvolvimento que, mesmo estando em crise, fragilizado e alvo deseveras crticas, tem, ainda, uma grande capacidade de recupera-o (alis, como j pde demonstrar em outras ocasies).
Apesar de suas aparentes fraquezas, pode-se constatar, entretanto,que, esta proposio, reforando a diversidade da base social e pro-dutiva dos "modelos" que se implantam, j imps certos limites aodesenvolvimento que pregam o Estado e as classes dirigentes. Suainfluncia vai, tambm, na direo do encorajamento de modos dedesenvolvimento agrcola e rural pouco hierarquizados, escapandoda forte influncia estatal e de seus aparelhos sobre o social. Pelomenos, a proposio agroecolgica capaz de servir eficazmente comoinstrumento de resistncia e de reproduo de sociedades e gruposno respeito de sua diversidade. A diversidade da agricultura poderia,ento, tornar-se uma verdadeira "via de salvao" que, atravs dosprocessos de diversificao dos modelos que ela supe e sustenta,poderia ser operacionalizada em face da crise.61
Fica, portanto, o questionamento: pode a agroecologia res-ponder crise, simplesmente implementando alternativas de subs-tituio ou de adaptao aos modelos tcnico-produtivos quemostram seus limites e do sinais de esgotamento, ou seja, desem-penhar o papel de resistncia crise? Deve se contentar em pro-por diferentes modos de insero das atividades agrcolas e ruraisfamiliares 110 tecido econmico e social local? No se poderia delaesperar outra coisa em vista das ideias que defende e dos desejos easpiraes dos atores?
A agroecologia, e por extenso em um certo sentido a agri-cultura alternativa na medida em que os princpios agroecolgi-cos exercem uma influncia crescente sobre suas ideias -, no cons-tituem, ainda, o que se poderia chamar um movimento social strictosensu, ou seja, uma ao social organizada contra o poder de ad-versrios que tm as rdeas do modo de desenvolvimento aarrco-
^ i - oIa. E, entretanto, portadora, em gestao, de tal movimento. Essa
61 Ideia, alis, j elaborada e discutida para o caso francs. Ver, nesse sentido,Jollivet(1988).
143
-
luta poder, por conseguinte, provocar uma autntica e profun-da transformao no campo poltico (ela prope desde j, con-cretamente, uma mutao do domnio tcnico-produtivo e dasprticas agrcolas atravs de princpios que se ligam a um para-digma ecolgico), desde que saiba costurar as alianas capazes deprovocar uma ampliao de seu poder de luta. Essas lutas deverose encaminhar na direo da convergncia (e da complementari-dade) com outras formas de combate e de movimentos sociais, afim de toma-las as precursoras por excelncia de um movimentosocial mais amplo e dirigido contra a tecnocracia que dita as ne-cessidades de uma populao que domina. Em suma, necessrioque as proposies agroccolgicas, se quiserem abrir uma via paraum movimento social, transcendam a lgica contestadora domi-nante que visa a exercer uma presso puramente institucional.62Para isso, a agroecologia poder utilizar a ecologia e sua proble-mtica de uma maneira transversal, dentro de contextos, como dizGuattari (1989), de desintegrao, de multiplicao de antago-nismos e de processos de singularizao. A contestao cultural oupuramente econmica poder assim se transformar em um movi-mento de ao propriamente sociopoltica. Esse objetivo pareceainda no ter sido atingido.
Por outro lado, a dimenso de "novidade"63 dessa proposi-o ser funo da capacidade que as lutas mostraro para esca-par no somente da lgica de ao contestadora, mas tambm institucionalizao, ao enclausuramento nos espaos morais e so-cioculturais especficos e, ainda, mostrar uma capacidade renova-da para abrir novas vias de afirmao no domnio das maneiras deproduzir e de viver. Eis o grande desafio que est colocado para aagroecologia, em um espao onde se desenvolve urna intensa crisesocial e econmica. Esse desafio, que por instante toma a formade um ideal estratgico ainda mal definido nas aes e lutas emcurso, vai consistir na construo com outros atores e lutas de umprojeto social capaz de orientar a sociedade, de introduzir um novoquadro de conceitualizao social; um projeto que ultrapasse ocampo da contestao pura e simples e da oposio tecnocracia,
62 Entretanto, no se pode excluir esse componente social de luta, visto que ummovimento social feito tambm de presses polticas institucionais.63 Conforme a noo consagrada por Morin (1977).
144
ao produtivismo e s polticas agrcolas inadequadas; um projeto,enfim, que ande na direo de um modo propriamente conflitu-al, substituindo na contestao os verdadeiros aspectos e instrumen-tos da dominao social no seu conjunto. Tais aes devero mos-trar mais claramente que se pode reconstruir uma imagem da tra-ma social a partir da agregao de indivduos e de grupos queparecem ter perdido, hoje, toda forma de identificao profissio-nal e social. Precisar subverter os antigos sinais de reconhecimentosocial a fim de construir um outro tipo de unidade.
Do ponto de vista tcnico-produtivo, a agroecologia pareceindicar trs cenrios possveis de concretizao, trs etapas de de-senvolvimento identificveis no plano analtico, a saber: uma, con-cebida como sendo a institucionalizao da marginalizao daagricultura alternativa ou ecolgica; outra, que corresponde a uma"ecologizao" da agricultura moderna ou convencional e a lti-ma, em que a agricultura ecolgica apreendida como uma ver-dadeira alternativa tcnico-cientfica global.
Inicialmente, essas proposies parecem ter sido bem apre-endidas por um certo tipo de agricultores e de agricultura, ouseja, aquele pequeno produtor familiar em dificuldade, situa-do em regies onde faltam recursos materiais, fsicos e finan-ceiros, e produzindo, antes de tudo, para assegurar sua subsis-tncia. A mdio e a longo prazos, a segunda etapa aparece deforma muito plausvel. De fato, em se tratando de uma agricul-tura convencional de maneira especfica e de sua "ecologizao",certos fatos j se manifestam de forma visvel atravs de prti-cas mais voltadas para a conservao da natureza, como, porexemplo, o uso do Baculovrus e o recurso luta biolgica inte-grada contra pragas e doenas, bem como os programas ofici-ais voltados para a agricultura sustentvel,64 o que implica oabandono de produtos e prticas consideradas como altamen-te nocivas para o homem e a natureza.
Enfim, no que se refere etapa de apreenso da agriculturaecolgica como alternativa tcnico-produtiva global, parece que aconstruo desse novo paradigma, a menos que se realizem umaboa parte das condies sociais e polticas esboadas anteriormen-
64 Por exemplo, certos programas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-curia (Embrpa). Ver Flores et ai. (1991).
145
-
te para a agroecologia brasileira, enfrentar srias dificuldadespara se afirmar como um processo realmente revolucionrio; po-der, no entanto, ser interiorizada no plano societal, no afetan-do fundamentalmente a estrutura da sociedade.
Captulo 4
Buscando a autonomia
Na agricultura, hoje, os movimentos reivindicativos e contes-tadores se inscrevem nas polticas mais gerais de autonomia e nosprocessos de auto-organizao. Essas diferentes formas de autono-mia definem uma disputa mais ou menos especfica.
Em seus diferentes aspectos, contra uma determinada or-ganizao do trabalho que a autonomia objeto de reivindicaes,de proposies ou de aspiraes; contra a dominao da raciona-lidade moderna no seio da modernidade; contra uma racionali-zao que concentra o poder de deciso, restringe a democracia enega a cidadania; contra um processo de modernizao que in-duz a um crescimento que destri os equilbrios naturais funda-mentais, aumenta as desigualdades e impe uma corrida acelera-da e esgotante em direo s mudanas. E esse grupo de questescentrais que, com seus desdobramentos, parece constituir o ver-dadeiro elo de ligao entre manifestaes constestadoras to sin-gulares e heterogneas.
Na agricultura, so os processos de heteronomizao da vidasocial e as crises relativas a esses processos que se encontram na basede toda aspirao de autonomia.65 Esse processo acabou por rom-per uma certa coerncia da explorao camponesa tradicional, issoatravs de trs maneiras: a) da artificializao do trabalho campo-ns; b) da profissionalizao da atividade agrcola; e c) da "setori-
146
65 Toma-se emprestado de Ivan Illich o conceito de heteronomizao que, na agri-cultura camponesa, se traduz, em ltima instncia, pela perda de sua capacida-de de auto-regulao. Seu sentido etimolgico aquele "que recebe do exteri-or as leis que regem sua conduta" (ao inverso do que a autonomia). Esta pala-vra vem do grego "heteros" (outro) + "nomos" (lei).
147