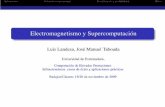José Manuel Resende
-
Upload
sarah-adamopoulos -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of José Manuel Resende
22»noticiasmagazine 28.FEV.2010
TodasAsPalavras»nm# 927»entrevista
Cidadania José Manuel Resende,sociólogo da educação,fala sobre os significados das aprendizagens da escola pública comoarena política.Poderá estar a germinarnas escolas uma recomposição ideológicaque as novas modalidades e formas deintervenção dos estudantes revelam.ENTREVISTA Sarah Adamopoulos¬ FOTOGRAFIA Clara Azevedo
A educação para a cidadania integra o currí-culo oficial da escola. É a Formação Cívica, quetem vindo a ser esvaziada de sentido pelosusos dados a esse tempo lectivo. A generali-dade dos professores não teve uma formaçãoconsequente nessa área. Parece que, ao mes-mo tempo que se tem vindo a institucionalizara educação para a cidadania, ela não tem podi-do ser cumprida.Causa alguma perplexidade a integração, apartir dos anos 1990, com o governo de Antó-nio Guterres, da educação para a cidadaniano básico e no secundário. Tenho-me essen-cialmente debruçado sobre o ensino secun-dário. O sistema de ensino integrado, aquiloque designo por «forma escolar moderna»,quer ao nível da instrução (ou seja, da trans-missão dos saberes) quer ao da educação nodomínio da socialização, implica a educaçãopara a cidadania. Um dos precursores desteideal de escola, Émile Durkheim [sociólogofrancês, 1858-1917], defendia que uma dasfunções da escola é preparar os não-adultosem idade escolar para a vida pública. Temos
depois também a filósofa alemã HannaArendt, que sublinha nos seus escritos que aescola em geral (e a escola pública em parti-cular) tem uma missão muito importante: ade preparar as gerações não-adultas para oconfronto com o mundo. A escola tem essamissão. Sabemos que a neutralidade axioló-gica das ciências não é absoluta, e que é sem-pre possível transmitir juízos de valor atra-vés da transmissão de juízos de facto. O tra-balho de fundo que levei a cabo sobre oensino secundário em Portugal, desde o Es-tado Novo até à actualidade, permite-mepensar com maior profundidade sobre estasquestões da formação cívica na escola. NaPrimeira República tinha-se uma concepçãode uso da escola como elemento socializadorfundamental, e aliás uma das grandes críti-cas dos historiadores da educação ao sistemade ensino vigente durante a Primeira Repú-blica é justamente a pouca importância quederam ao ensino básico, então designado porprimário. Porque a expansão do ensino erausada como forma de adequar o público
ra os processos doutrinários e ideológicos es-tá a fazer-se. Em gerações anteriores houveuma socialização política radicalmente ins-crita em quadros ideológicos fixos que terá si-do penalizadora. O estabelecimento de rela-ções de confiança é estruturante para a segu-rança ontológica dos jovens no processo depassagem da adolescência para a idade adul-ta, e na preparação para o confronto com ooutro adulto que tem outras convicções e for-mas de pensar. Isto não significa que não ha-ja conflitualidade, disputa, divergência, maseles aprendem no plano da amizade a superá--las. E essas diferenças acabam por ser umaalavanca para a construção das suas convic-ções profundas do ponto de vista ideológico edoutrinário, que eles depois transpõem parao espaço público quando forem adultos. Osestudos que temos vindo a fazer apontam pa-ra esta forte hipótese da aprendizagem da dis-cussão pública através do «modelo da amiza-de». E, portanto, é normal que todas as formasinstitucionalizadas que faziam parte de ummodelo de participação política e pública for-temente arreigado nas gerações anterioresestejam a ser postas em causa e substituídaspor outras. É normal, também, que os adul-tos, e logo os professores (que foram sociali-
ram a militância política da actividade cívica. Queleitura faz desta contradição?Há de facto um ambiente público que não éfavorável aos partidos políticos. Os fazedo-res de opinião, as pessoas que opinam sobreo espaço público, quer ao nível da academia,quer jornalistas, quer os próprios militantesde alguns partidos que têm acesso ao espaçomediático, sabem que não há um ambientefavorável a uma vivência da política com en-quadramento partidário. Há, depois, respon-sabilidades históricas por parte dos partidos,um certo fechamento em relação à chamadasociedade civil. Quando existem elementosdos partidos que se tornam proeminentesna defesa de pontos de vista que não sãocoincidentes com os oficiais, há uma certadificuldade, parece-me, por parte dos parti-dos, em limar arestas, fazendo que passe pa-ra fora a ideia de que quem suscita o debatepolítico interno é colhido pelas maiorias quedominam os aparelhos políticos partidárioscomo usurpadores do espaço de proemi-nência dos partidos. Isso tem efeitos nefas-tos também junto dos jovens, que justamen-te estão a experimentar a liberdade – paraemitir a sua voz, numa marca da afirmaçãode si, como é normal na adolescência. Os
adolescentes fazem um corte identitáriocom os pais e com os adultos em geral parase construírem a si próprios, e portanto émuito complicado para eles sujeitarem-se aum modelo orgânico partidário. Isto é com-pletamente contraproducente no cresci-mento para a maturidade e talvez expliqueisso que diz ser não-ideologia. O que poderáestar a germinar é uma recomposição ideo-lógica – é uma hipótese que temos de trans-portar para o futuro, porque estas novas mo-dalidades e formas de intervenção públicapodem estar a dar uma outra configuraçãoaos quadros ideológicos conhecidos. Note que não estava a pôr no mesmo saco osjovens sem rasto de ideologia e os jovens mili-tantes. Por outro lado, muito do que são ideo-logicamente resulta do contexto ideológico fa-miliar – quer tomado como modelo quer poroposição a ele.Gostava, a esse propósito, de salvaguardaruma ideia: não sei até que ponto uma produ-ção social na família sobre as questões dacompaixão, da vulnerabilidade, da incerte-za, não são elementos de natureza ideológi-ca. A verdade é que esses miúdos, que apa-
Estratégia«Os adolescentes mostram uma capacidadepara fazer alianças com adversários no exacto momento em que a sua maturação para processos ideológicos está a fazer-se.»
dagógica, mas a autonomia que têm vindo apedir esbarra numa forte tendência parauma orientação estatal directa.Verifica-se uma crescente despartidarizaçãona acção associativa dos jovens dirigentesnas escolas. Há novos modelos de participaçãoa germinar, muitas vezes marcados por umaquase ausência de ideologia, na forma de coli-gações de listas concorrentes às AE. Como in-terpreta estas mudanças?Não há ponto de comparação com geraçõesanteriores, até porque em Portugal não haviaestudos desta natureza. O que temos vindo averificar, a partir dos estudos desenvolvidos,é que tudo indica que os adolescentes, in-cluindo os que estão na transição entre o bá-sico e o secundário, parecem acolher comopreparação para o espaço público – e isto éum fenómeno transversal à Europa – aquiloque designo por «modelo de filia», o «mode-lo da amizade». Trata-se de um modelo queAristóteles usou como dispositivo para a pas-sagem do estado não-adulto para o estadoadulto no espaço público. Ou seja, uma capa-cidade para fazer alianças com adversários noexacto momento em que a sua maturação pa-
zados politicamente num contexto diferen-te), fiquem confusos e perplexos com estasnovas formas de cooperação da acção dos jo-vens em torno de formas organizacionais quenão têm nem os mesmos propósitos nem asmesmas finalidades – refiro-me a uma civili-dade republicana, assente na ideia da partici-pação pública e da autonomia. Os jovens uti-lizam hoje as festas e as viagens de finalistas,o que aos adultos por vezes surge como umaparódia e uma propensão para uma certa au-sência de organização do ponto de vista so-cial. Mas essas festas e viagens são formas deaprendizagem política e não forçosamenteapenas uma maneira de celebrar o efémero eo transitório, sem aprendizagem do confron-to com o espaço público. Não estou a dizerque tudo corre bem, mas que não devemosdramatizar excessivamente.Nesses discursos juvenis é patente um certo des-prezo pela intervenção dos partidos políticos nocontexto do associativismo escolar. Partidos que-quase se limitam só a financiar as campanhasdas listas. Noutros casos, há entre os dirigentesassociativos jovens que pertencem a organiza-ções partidárias mas que não o assumem, sepa-
24»noticiasmagazine 28.FEV.2010 25»noticiasmagazine 28.FEV.2010
votante na altura às franjas eleitorais que, decerta maneira, seriam um suporte da con-cepção republicana democrática. E refiro--me, claro, às camadas intermédias, as cha-madas classes médias. E, de facto, compete àescola dar mecanismos de igualdade deoportunidades à partida.A democratização das sociedades não podeser feita sem passar pela escola. Embora a es-cola se revele como um palco de reproduçãodas composições sociais à partida.A escola é um espaço central nas sociedadesmodernas e democráticas, porque é o palcoonde as gerações mais novas aprendem a es-tabelecer relações sociais, com os seus parese com a figura adulta. Ou seja, com o outro – esobretudo com o outro que conta. O filósofocanadiano Charles Taylor tem um livro mag-nífico sobre o mal-estar da modernidade e aimportância do outro. A «forma escolar mo-derna», criada no século XIX, foi um pilar pa-ra a modernização dos Estados-nações, etambém para o sistema democrático. É evi-dente que os regimes políticos foram utili-zando a escola como baluarte para a difusãodos seus quadros ideológicos dominantes.Em Portugal, os republicanos difundiram osseus ideais junto das classes médias urbanas
que frequentavam a escola. E o Estado Novotambém usou a escola (com uma disciplinaque esteve presente no cardápio escolar du-rante muitos anos, Organização Administra-tiva e Política da Nação) para fazer passar oideal corporativo, harmonizando os conflitosde interesses. Do mesmo modo, logo a seguirao 25 de Abril, houve uma disciplina que sechamou Introdução à Política, cuja funçãoera suscitar nos jovens o interesse pela políti-ca, utilizando quadros ideológicos que na al-tura tinham uma grande pujança do ponto devista público para socializar politicamentedentro de determinados parâmetros. Na re-forma do ensino de 1986, do engenheiro Ro-berto Carneiro, essas questões continuaram aser colocadas, agora numa disciplina dita dedesenvolvimento pessoal e social, qualquercoisa que ficava entre a cidadania e a civilida-de – ou seja, a escola como forma de «polir oscorpos» e ensinar boas maneiras. Educar para a cidadania é mais do que isso.Quando o PS ganhou as eleições em 1995, pô-de concretizar o que já havia sido preconiza-do pela secretária de Estado Ana Benavente,e que era justamente acentuar o ponto de vis-ta cívico, para além da civilidade, reforçandoa autoridade dos professores, que passaram
a corrigir os comportamentos menos ade-quados dos alunos, dentro da sala de aula efora dela, ensinando-lhes uma gramática po-lida para a argumentação e contra-argumen-tação. Tudo isto para dizer que esta institu-cionalização da educação cívica (que afinaljá estava implicada no próprio desenvolvi-mento da escola) se deve, do meu ponto devista, ao surgimento de novos públicos esco-lares, e refiro-me aos contingentes da imi-gração, que transformaram a escola – sobre-tudo nas grandes áreas metropolitanas, masnão apenas. Falamos portanto de uma novacomposição social e cultural da escola, e damassificação do ensino, que ocorre a partirdos anos oitenta. Essas duas razões, poten-ciadas pela mediatização da violência social,terá levado à institucionalização da educa-ção para a cidadania. Mas, para além destaperplexidade, uma segunda ainda, que seprende com o facto de haver entre os profes-sores um certo mal-estar relativamente a po-derem dominar uma área disciplinar que ti-nha por objectivo central suscitar nos alunosum interesse pelas causas públicas, e nãoapenas transformar a escola num lugar deaprendizagem do debate. Os professorestêm a obrigação de usar a sua imaginação pe-
BIJosé Manuel Resende tem 53 anos e é professor associado com agregaçãono Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociaise Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Sociólogo da Educação, investigador de méritos reconhecidos internacionalmente, foi presidente da Comissão Científica do Departamento de Sociologia da Faculdade de CiênciasSociais e Humanas da Universidade Nova,director da revista Fórum Sociológico(editada pelo Centro de Estudos da FCSH da Universidade Nova de Lisboa) e é autor de alguns dos mais relevantes trabalhosnas áreas da socialização política dos estudantes do ensino secundáriopúblico em Portugal, nomeadamente «As encruzilhadas da escolarização secundária no limiar do século XXI: um pontode vista sociológico» (com Maria ManuelVieira, colóquio/Educação e Sociedade,1999), «Escola pública como “arena” política:contexto e ambivalências da socializaçãopolítica escolar» (com Bruno Miguel Dionísio,Análise Social, 2005), «Educar para a cidadania num contexto escolar de incerteza: problemas e desafios teóricos»(Congresso Identidade e Cidadania da Antiguidade aos Nossos Dias, Editora Papiro,2008), «A sociedade contra escola? – Socialização escolar num contexto deincerteza» (Instituto Piaget, 2009), «Por umaSociologia Política da Educação: o xadrez das Políticas Educativas em Portugal noEstado Novo» («Escola, jovens e media», org. Maria Manuel Vieira, Imprensa de Ciên-cias Sociais do Instituto de Ciências Sociais,2007), «Socialização Política na Escola Secundária Portuguesa: as composiçõesentre o projecto estatal imaginado de cidadania e as gramáticas políticas disponíveis» (com Pedro Caetano, I ColóquioLuso-Brasileiro de Sociologia da Educação, Belo Horizonte, 2009).
26»noticiasmagazine 28.FEV.2010 27»noticiasmagazine 28.FEV.2010
mentação, como acontece na discussão pú-blica. A socialização política escolar devia en-sinar-lhes isso, sobretudo na transição da ado-lescência para a fase juvenil, que é justamen-te o que separa o que é uma discussão emproximidade de uma discussão própria deuma cité política – não temos a palavra emportuguês mas temos a analogia da ágora gre-ga, do espaço público de discussão. E, portan-to, é natural que o discurso da adolescêncianão seja assente em conceitos que eram traves-mestras nas juventudes anteriores. O mundo é hoje muito mais sinuoso, e é ummundo em que as questões de um projecto--plano (no sentido mais longo do termo), quena minha geração era expectável produzir--se, hoje não faz sentido. Nos estudos que es-tamos a fazer sobre os futuros em aberto noObservatório Permanente de Escola [ICS daUL], verificámos esse tactear, sobretudo porparte dos jovens em transição do nono para odécimo ano. Mas também no caso daquelesque chegam ao 12.º ano e que voltam paratrás, porque perceberam que o plano que os ialevar para uma determinada formação supe-rior não é exactamente o que eles querem, epor isso voltam para trás, para justamente re-tomarem uma outra orientação escolar pas-sível de ir ao encontro da sua autenticidade.
Temos de compreender que os fundamentosem que as formas de orientação da acção as-sentam não são os mesmos da nossa geração.A ideia (falsa, como podemos verificar se re-trospectivarmos a nossa vida) da necessidadede uma certa linearidade e sequencialidadeda acção, que nós pressupomos e traduzimospara a geração seguinte, é um ideal que trans-portamos de geração em geração. Face aosnovos contextos, há tendência para uma cer-ta polivalência, para uma capacitação parapoderem conjugar os seus ajustamentos fu-turos em dois ou três tabuleiros simultâneos– que são formas de encontrar um lugar nomundo do trabalho, mas também de conse-guir fazê-lo dentro de uma certa autenticida-de e singularidade. A história da sociologia es-tá cheia de exemplos do que a densidade po-pulacional dos grandes contingentes urbanosconcentrados num determinado territóriofaz em termos da afirmação da distinção, dadiferença, da singularidade. A moda confereuma igualdade aparente aos jovens. Os pro-fessores e os adultos estão perante todos damesma forma, e agem a partir de regras ge-rais, na avaliação por exemplo, mas tambémna punição. Não se prefere A ou B consoantea sua origem de classe ou a sua apreciação fi-losófica ou conceptual, e no entanto os jovens
não, uns gostam de ler e outros não, uns gos-tam de determinado tipo de manifestaçõesculturais de que outros não gostam, etc. Sa-bem que há diferenças, e que elas traduzemdesigualdade. Acontece que quando estão noplano da filia, para porem em prática umaconcertação de acção e se unirem em tornode um projecto, tudo o que os dividir passa pa-ra segundo plano. Mas essa atenuação da di-ferença e da distinção não as faz desaparecer,e noutra situação elas podem voltar a emergir. O lugar escola é rico nessas contradições. Masse, por um lado, há um mal-estar endémico en-tre os professores e os alunos, por outro há ain-da uma cultura de escola profundamente mar-cada pelo valor da autoridade estatutária doprofessor. E há este novo valor da autonomiadas escolas. Por um lado, um conjunto de coisastradicionalmente ocultas e, por outro, tudo o queé novo e cujo alcance ainda não conseguimoscompreender bem.A minha lição de agregação, defendida nes-ta faculdade [Ciências Sociais e Humanasda Universidade Nova de Lisboa] em 2007,chama-se «A sociedade contra a escola – so-cialização política escolar num contexto deincerteza» e revela, do ponto de vista dosdocentes, os mal-estares que acabou deapontar. Estamos agora a trabalhar o ponto
Há aqui um outro elemento, que na nossa ge-ração estava mais naturalizado, sobretudo emcertas origens de classe, e que hoje a escola demassas acaba por acentuar, que é o da afirma-ção da autenticidade, da singularidade e daautonomia dos alunos. Mas eles não confun-dem isso com a necessidade de fazer um acor-do para que as escolhas funcionem.O percurso dos miúdos parece difícil, e os paisnão gostam que eles voltem para trás. Mas tal-vez isso advenha da dificuldade da vida dosadultos, que os leva a não estarem à escutadas incertezas dos filhos.
rentemente não trazem marcas ideológicas,estão a ser socializados face a todo um con-junto de situações: avós que estão com pro-blemas de sobrevivência com dignidade,porque tiveram poucas possibilidades dedurante a sua vida activa fazerem descontos,e por isso têm reformas e pensões baixas; asdoenças crónicas e as experiências que setêm familiarmente com pessoas com doen-ças prolongadas (cancros, seropositivos,etc.); há hoje um quadro de vulnerabilidade,de fragilidade, que eles sentem na família.Nós fomos socializados ideológica e politi-
camente em torno das questões da igualda-de, da liberdade, temáticas que para estas ge-rações não são tão motivadoras. Já as ques-tões da incerteza dos percursos escolares elaborais, da vulnerabilidade versus autono-mia, etc., poderão talvez fazê-los produzirdiscursos riquíssimos e interessantíssimos.Talvez as palavras sejam outras, porque as lu-tas serão as mesmas...Sim, mas há de facto um outro léxico. A ques-tão da liberdade da desigualdade coloca-se noplano da justiça e do espaço público, e exigeda argumentação aquilo a que os franceses
chamam une montée en généralité, literalmen-te traduzindo, «uma subida em generalida-de», ou seja, uma dessingularização dos casossingulares, como forma de se constituíremsistemas de equivalência em que indepen-dentemente do lugar de nascimento, do gé-nero, da profissão, da idade, as pessoas são tor-nadas equivalentes num plano público de jus-tiça. Quando falamos da compaixão ou davulnerabilidade, por exemplo, estamos a fa-lar de um regime de acção que não é público,é familiar, e aí os adolescentes não são compe-lidos a «subir em generalidade» na sua argu-
Igualdade«A moda confere
uma igualdadeaparente aos jovens.Professores e alunosestão perante todos
da mesma forma,e agem a partir
de regras gerais.»
têm a experiência dessa diferenciação, na fa-mília como na escola. Eles sabem que há for-mas desiguais de distinguir, e eles própriostransportam essa distinção na forma como li-dam com os pares. O facto de funcionarementre si essencialmente no plano da filia, daamizade, não significa que não há conflitosentre eles. É claro que há divergências, cliva-gens, que têm que ver com diferenças de gos-to e de apreciação, porque nós não gostamostodos das mesmas coisas: uns gostam de fute-bol e outros não, uns gostam de passar os fins--de-semana nos centros comerciais e outros
de vista dos alunos, mas para já poderei fa-lar melhor sobre o ponto de vista dos pro-fessores. Há de facto uma grande contro-vérsia na escola pública portuguesa actuale que é a da clivagem entre aquilo que desig-no como o «modelo escolar», ou a «razão es-colar», e o «modelo juvenil», ou a «razão ju-venil». A massificação escolar levou a ju-ventude para a escola, e levou os modelosculturais juvenis para a escola – a que mo-delos me refiro? Eles estão representadosem todos os objectos que fazem parte dasindústrias culturais actuais, do telemóvel à
PU
BLI
CIDA
DE
28»noticiasmagazine 28.FEV.2010 29»noticiasmagazine 28.FEV.2010
internet, do Gameboy ao mp3, todos estesgadgets da modernidade fazem parte deuma indústria tecnológica muito ligada àspráticas culturais: a música, os filmes, a fo-tografia, ou seja, a imagem e o som sãotransportáveis para o espaço público. Háum lado lúdico, de prazer, e até de um certonarcisismo (temperado pelo modelo de filiada organização por pares) que se confrontacom a visão dos adultos sobre a escola, mar-cada pela «razão escolar»e que é assente nadisciplina, na autoridade e, sobretudo, naquestão da transmissão dos saberes. Do queresulta que talvez este modelo juvenil tenhade ser regulado – e os professores terão deencontrar mecanismos de regulação dessemodelo. Porque levado ao extremo ele tra-duz-se numa desvalorização absoluta enum certo niilismo relativamente à trans-missão dos saberes pela escola. Em cada
de que dispõem. Isso também faz parte daaprendizagem social. Não há nenhum jogoque não tenha regras. E quando as regrasmudam, o jogo muda. E a aprendizagem dossaberes também depende de regras. As com-petências adquirem-se de uma certa manei-ra. Outra questão que me parece importan-te é que não devem ter medo do erro. A ciên-cia é feita de erro, não é feita de certeza. Osalunos têm direito a não saber, a ter dúvidas,a não ser capazes de responder sempre acer-tadamente. Qual é o adolescente que nãoquer «safar a sua face» perante o adulto, quea esse nível tem uma grandeza maior? Osprofessores têm de poder ter sempre essadisponibilidade para dialogar. Outra ques-tão ainda é que os professores têm de sermobilizadores. Não há aquisição de ciênciasem mobilização. Mas mobilizar não signifi-ca facilitar. Mobilizar significa apaixonar,entusiasmar os alunos pelo saber, e isso nãoé compatível com a inércia. Os alunos reclamam essas competências. Elessabem bem distinguir os professores que têmcompetências pedagógicas dos outros.E no entanto os professores têm formaçãonessa área. Provavelmente é preciso haverformação contínua, os professores têm de en-tender que o regresso ao saber inicial que es-tá na base da sua formação tem de ser perma-nente. Não há possibilidade de ser um profes-sor competente se a pessoa não estiverpredisposta para estar sob prova dos seus pró-prios conhecimentos. A ciência vai evoluin-do, vai-se transformando. E os professorestêm de voltar aos livros, os professores de Fí-sica como os de Matemática, os de Portuguêscomo os de História.Há mal em dizer que não se sabe mas que se vaiestudar para se poder falar nisso na aula se-guinte?Uma das coisas que considero muito poucolouváveis do ponto de vista da discussão doestatuto da carreira docente foi centrarquase exclusivamente os mestrados e osdoutoramentos naquilo que pode designar-se como a área das ciências da educação. Osprofessores deviam frequentar outras for-mações, ligadas à sua formação inicial, ou aoutros saberes fundamentais para a com-preensão do mundo contemporâneo. É im-portante que todos os professores (e outrosprofissionais) regressem aos bancos da uni-versidade para se confrontarem com asprovas que esta continuamente exige. A es-se nível estamos razoavelmente salvaguar-dados, porque o próprio estatuto da carrei-ra docente do ensino superior exige provas,e foi muito bom o ministro Mariano Gagoter transportado essas regras para o ensinopolitécnico, porque nós temos de dar pro-vas. O mestrado, o doutoramento e a agre-gação, que é o que temos de fazer para che-garmos a catedráticos, mas também as co-municações em congressos e o confrontocom os nossos pares.«
contexto histórico é preciso saber quais sãoos fundamentos do saber que a escola devecontinuar a transmitir para a geração se-guinte. E esses saberes não são só obvia-mente os básicos saber ler, contar e escre-ver, mas todos os outros que importam pa-ra o confronto com o mundo. O que obrigaa uma determinada organização do traba-
lho escolar e a uma capacidade de conven-cer os adolescentes que estudar implica sa-crifício, mas que isso transporta uma certagrandeza. Que é necessária uma certa con-centração, e que isso obriga a desligar osdispositivos de ligação ao outro, e isso sãoregras importantíssimas porque eles vãoconfrontar-se com elas na universidade. A generalidade dos professores universitáriosconfronta-se com a impreparação dos alunos.Não é só impreparação, mas uma forma deserem desorganizados na forma como tra-balham. Têm dificuldade não só em abordaro estudo mas também em ler e em com-preender o que lêem. Isto é de facto preocu-pante, mas não estou a dizer que temos dechegar a isso mediante o uso da figura auto-ritária e autocrática. A minha perplexidadeé que nem ao nível sindical nem ao nível dosconselhos pedagógicos e assembleias de es-cola isso é discutido. Hoje ser professor jánão é a mesma coisa que era há cem anos ouhá cinquenta ou há vinte cinco. Esta perdade impacte da questão do saber, as dificulda-des deles, devia ser matéria de reflexão porparte dos professores. E porque é que não é?Porque os professores não sabem trabalharem equipa. É um problema que tem que vercom a própria experiência profissional dosprofessores. O poder deles centra-se na suasala de aula, em que estão sozinhos. As con-trovérsias em torno da avaliação dos profes-sores têm que ver com isto. Mas um bom pro-fessor tem de estar seguro, para poder semproblema partilhar as suas aulas com os seuscolegas. A autonomia tem assentado nasquestões financeiras e não numa acção con-certada que os leve para uma discussão alar-gada e descomplexada sobre estes problemasque as escolas vivem hoje.Não acha que essas questões ligadas à trans-missão dos saberes deviam ser muito mais
Equipa«Os professores nãosabem trabalhar em equipa.O seu podercentra-se na sala de aula,em que estãosozinhos. É o problema da avaliação.»
centrais e passar à frente de outras, como ada disciplina ou do estatuto do aluno?Estou absolutamente convicto de que é ne-cessário haver regras gerais de regulação docomportamento dos alunos, tal como meparece importante que as escolas tenhamregulamentos internos próprios, para quetodos conheçam as regras e os dispositivos