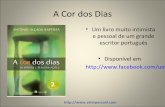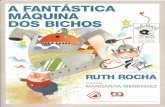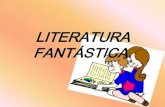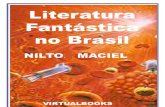José Paulo Paes e a Literatura Fantástica
-
Upload
annie-figueiredo -
Category
Documents
-
view
33 -
download
21
description
Transcript of José Paulo Paes e a Literatura Fantástica

PREFÁCIO1 José Paulo Paes
1
{09}2 No ano da graça de 1764, Sir Horace Walpole, quarto Conde de Oxford e filho mais
jovem de um célebre primeiro-ministro, dava à estampa um romance terrorífico que haveria de
fazer longa carreira nas letras inglesas, projetando sua sombra sobre meio século de ficção.
Surgido a um tempo em que Richardson e Fielding já haviam lançado os fundamentos do Realismo
britânico, O Castelo de Otranto discordava radicalmente dos padrões literários então vigentes. Sua
ação decorria na Itália medieval e estava repleta de lances, artifícios e personagens inverossímeis
− fantasmas e usurpadores, passagens secretas e terrores sobrenaturais, elmos mágicos e castelos
arruinados.
A novela de Walpole caiu logo no gosto do público, dando origem a toda uma linhagem de
imitadores, mais ou menos talentosos. B. lfor Evans parece sugerir uma explicação sociológica
para esse êxito quando se refere a "uma sensibilidade muito disseminada no século dezoito,
particularmente entre os ricaços das classes ociosas, cuja desilusão do crescente comercialismo e
racionalismo então dominantes encontrava alívio na contemplação solitária das relíquias da arte
medieval, encontráveis nas ruínas de abadias e castelos situados nas suas propriedades
hereditárias".
O caso de Walpole era típico. Desiludido da carreira política, de suas permanentes intrigas
e de sua perpétua sede de poder, resolveu retirar-se para Strawberry Hill onde, graças aos
proventos de várias sinecuras, pôde dar livre curso à sua paixão pelas antiguidades, ali fazendo
erguer um castelo {10} gótico, para nele relembrar os dias do monasticismo medieval e da
cavalaria andante. Dessarte, subtraía-se ao mundo da burguesia endinheirada, mundo acionado
pela mecânica do lucro e pela lógica da razão prática, e entretinha um diálogo insofrido com o
passado.
Não faltaram imitadores ao exemplo de Walpole. William Beckford, outro aristocrata,
ergueu também sua abadia medieval e escreveu, outrossim, sua novela terrorífica, Vathek,
publicada em 1782 em francês e traduzida quatro anos depois para o inglês. Vathek era ainda mais
fantástico e descabelado que O Castelo de Otranto; combinava, numa complicada receita, os
ingredientes do horror gótico, do exotismo oriental e da ironia voltaireana.
1 In: SILVA, Fernando Correia da; PAES, José Paulo. Maravilhas do conto fantástico. Prefácio de José Paulo Paes. São
Paulo: Cultrix, 1958. 2 Os números entre chaves ao longo do texto referem-se ao número da página do texto original.

Mas haveria de ser no crepúsculo do século XVIII que as histórias de terror encontrariam a
mais habilidosa e a mais célebre das suas culturas na pessoa de Mrs. Ann Radclifte. Seus cinco
romances góticos, dos quais os mais conhecidos são O Romance da Floresta, Os Mistérios de
Udolfo e A Italiana, obedeciam a um esquema mais ou menos fixo − havia sempre a ingênua
heroína, o vilão desalmado e o castelo fantasmagórico. Respeitando embora as leis da
verossimilhança (todos os mistérios encontravam explicação lógica no derradeiro capítulo), Mrs.
Radcliffe tinha, não obstante, uma rara facilidade para criar ambientes terroríficos e momentos de
suspense, temperando-os com uma sentimentalidade bem ao gosto da época; um crítico chega,
inclusive, a gabar-lhe o talento para "pintar melancólicas ruínas góticas, sem a falta de uma única
coruja". Por incrível que pareça, a modesta autora de Udolfo chegou a exercer ponderável
influência sobre escritores do porte de um Shelley, de um Byron, de uma Jane Austen, de uma
Emily Brontë.
O sucessor legítimo de Mrs. Radcliffe foi um rapazola de boas maneiras, Mathew Gregory
Lewis, que, aos dezenove anos de idade, escreveu uma novela de escândalo: Ambrósio ou o
Monge. Os críticos têm em pouca conta esse livro, que define como uma mistura incoerente de
ingredientes góticos familiares e atabalhoadas reminiscências de leitura de Goethe e dos
românticos alemães. O tema da novela é uma paráfrase, algo sensual, da história do dr. Fausto,
que o filisteísmo da época reputou escabrosa. Uma certa Sociedade {11} para Supressão do Vício
abriu campanha contra o livro mas, apesar disso, ou talvez por causa disso, Ambrósio alcançou
fervorosa recepção por parte do grande público, a quem Lewis ainda haveria de brindar com os
Contos de Terror, em 1799, e os Contos Maravilhosos, em 1801.
O mais literariamente qualificado dos novelistas góticos foi Charles Robert Maturin, clérigo
inglês, que, encorajado por Byron e Walter Scott, levou à cena três melodramas, um dos quais,
Bertram, alcançou êxito apreciável. Melmoth, o Peregrino, dada à estampa em 1820, é
considerada a melhor de todas as novelas góticas. Trata-se de outra paráfrase do mito faustiano −
o do homem que vende a alma ao Maligno em troca de riqueza e juventude eternas − e exibe
sensível influência de Lewis. Maturin foi muito estimado pelos pequenos românticos franceses,
grupo liderado pelo estranho e talentoso Charles Nodier, mestre do roman noir e autor de
histórias terroríficas do tipo de Smarra e Trilby. Aliás, a par de Maturin, muito influiu sobre os
pequenos românticos o alemão Hoffmann, cujos Contos foram traduzidos para o francês por volta
de 1830.
O último representante de importância da novela gótica inglesa foi a suave e espiritual
companheira de Shelley, Mary Godwin Shelley. Quando do seu exílio na Itália em companhia do

poeta, escreveu, Frankenstein3, narrativa pseudo-científica, de intenções alegóricas, que haveria
de celebrizá-la. Mary Shelley é considerada hoje uma das precursoras da literatura de ficção-
científica, que começa a ameaçar, e seriamente, o indisputado prestígio popular até agora
desfrutado pela literatura policial.
2
Esta longa digressão sobre a novela gótica tem cabimento no prefácio de uma antologia de
contos fantásticos. É que o conto fantástico é o herdeiro legítimo das tradições legadas à
posteridade pela progênie espiritual de Sir Horace Walpole. No entender de B. lfor Evans, "a
novela de terror ou {12} gótica leva diretamente àquele submundo da ficção que se prolonga até
hoje nas histórias de crime e de terror".
Claro que são grandes as divergências entre o moderno conto de fantasia e a novela
oitocentista de terror. Esta era uma espécie de pastiche do Macbeth, do qual, esquecendo toda a
angustiosa poesia, aproveitou apenas "o rude mecanismo do melodramático e do sobrenatural";
aquele, uma digna espécie literária, que nutre o máximo respeito pela inteligência e pelo bom
gosto do leitor.
Aliás, o leitor de nossos dias é um freguês difícil de satisfazer. Os magazines de divulgação
científica e as novelas realistas ensinando-lhe o respeito à verdade objetiva, indispuseram-no para
as fantasmagorias descabeladas do roman noir. Agora, é preciso dosar a pílula da fantasia com
extremo cuidado para que ele aceite engoli-la.
Foi pensando nesse tipo de leitores que Ray Bradbury, organizador de uma excelente
antologia de contos fantásticos, enunciou, algo rigidamente, as regras a que deve obedecer a
moderna história de fantasia. No seu entender, o fim primacial desta é mostrar a "irrealidade da
realidade", de vez que ao leitor dos nossos dias aborrece tudo quanto não traga a marca do real e
do verossímil. Para Bradbury, fantasia pura e simples é pobre fantasia; somente quando adere à
realidade, por um processo de "osmose literária", é que a fantasia alcança qualificação estética.
Sobrecarregando sua narrativa de inverossimilhanças, empilhando o inacreditável sobre o
inacreditável, o novelista perde contato com o leitor, a quem deve, antes, conquistar pela
"casualidade" dos seus enredos. O fantástico e o real devem estar de tal maneira entretecidos no
argumento, que se torne praticamente impossível isolar um do outro. Por fim, adverte Bradbury
que um contador de histórias fantásticas não pode aspirar a outra coisa que não seja induzir no
leitor a sensação da "irrealidade da realidade". Se procurar inculcar-lhe, ao mesmo tempo,
3 No original, Frankstein [sic].

qualquer mensagem moralizadora, estará desvirtuando um gênero cujo maior encanto reside,
antes, na capacidade de divertir que na de ensinar.
3
{13} Ao selecionar os contos que deveriam compor este volume, teve o antologista sempre
em mente um cuidado precípuo − o de fugir ao medalhão. Embora grandes escritores tenham
cultivado o conto fantástico, fizeram-no quase sempre em caráter acidental, circunstância que
limita, necessariamente, a importância da sua contribuição. Comparadas às histórias de
profissionais do gênero, suas tentativas são, de regra, inferiores, não quanto à valia estritamente
literária, mas no que respeita à originalidade da concepção e à habilidade de introduzir, no leitor,
a sensação do fantástico. Exceções a esta regra existem, numerosas e foram devidamente levadas
em conta; o leitor encontrará aqui nomes ilustres como os de Giovanni Papini, Miguel de
Unamuno, Guillaume Apollinaire, entre outros.
Cabe observar também, que os autores modernos comparecem em maior número que os
antigos. É natural: aqueles falam mais de perto à nossa sensibilidade do que estes. Entretanto, não
faltam aqui os dois clássicos da narrativa fantástica − o alemão Hoffmann e o norte-americano
Poe.
Quanto às histórias propriamente ditas, observe-se que oscilam entre dois pólos. De um
lado estão as que, pela dose mais ostensiva de fantástico puro, se inserem diretamente na
tradição da novela gótica; é o caso das narrativas assinadas por Williams Hines, Spencer Whitney,
E. F. Benson, Lafcádio Hearn, Jacques Casembroot, Maurice Leval e Stephen Vincent Benét. De
outro, enfileiram-se as histórias cujos autores, mais ou menos fiéis ao esquema de Bradbury,
cuidaram de emprestar maior verossimilhança ao fantástico, entretecendo-o numa trama de
pormenores realísticos. A esta categoria pertencem os contos de Nelson Bond (primoroso pela
originalidade da concepção), Holloway Horn, Ray Bradbury, Russel Maloney, Adrian Alington, J. C.
Furnas, Gerald Bullet e Cristopher Ishewood.
Duas das histórias aqui reunidas merecem referência especial. Laura, de Saki (pseudônimo
literário de H. H. Munro), destaca-se pela habilidade com que, no seu entrecho, {14} foram
combinados o fantástico e o humorístico, numa simbiose tipicamente britânica. O Último
Julgamento, de Koestler, tem muita de parábola − o tema, profundamente koestleriano, do
cruzado sem cruz, num mundo onde o fanatismo corrompeu todas as doutrinas até à
desumanização − mas de parábola tão sabiamente contada que seu moralismo não chega a
enfarar.

O conto fantástico brasileiro está representado por três escritores de três épocas diversas e
de três diversas orientações estéticas: o romântico Álvares de Azevedo, sofisticado e hoffmaniano;
o realista Aluízio Azevedo, tributário daquele cienticismo que empolgou nossos escritores em fins
do século passado; e o moderno Carlos Drummond de Andrade, mestre na arte de fundir o
humorístico, o funéreo e o prosaico num amálgama de melancólico lirismo, muito característico
do seu gênio de alto e autêntico poeta.