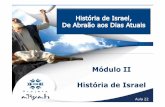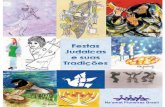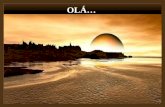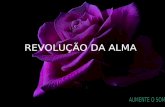JUDAICAS LONGE DO JUDAÍSMO INSTITUÍDO: O CASO DE … · ... que na casa de papai ... eram áreas...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
224 -
download
1
Transcript of JUDAICAS LONGE DO JUDAÍSMO INSTITUÍDO: O CASO DE … · ... que na casa de papai ... eram áreas...
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
21
FONTES PARA A INVESTIGAÇÃO DAS IDENTIDADES E RELIGI OSIDADES
JUDAICAS LONGE DO JUDAÍSMO INSTITUÍDO: O CASO DE RO LÂNDIA
Marco Antonio Neves Soares∗
RESUMO: Este artigo busca tecer reflexões sobre fontes históricas capazes de embasar pesquisas em história das religiões, mais precisamente sobre as configurações da religiosidade judaica em locais onde não há comunidade organizada, como Rolândia, no norte do Paraná, que entre 1932 e 1941 recebeu levas de refugiados do nazismo, dentre eles judeus. Para isso inventaria os diferentes corpora documentais, de diferentes tipologias, como cultura material, fontes orais e documentos autobiográficos e memorialísticos, a fim de testar os usos feitos pelo projeto Etnicidade e morte. Neste sentido propõe tanto o estabelecimento de um corpus documental para a investigação das identidades e das religiosidades judaicas, quanto um instrumental analítico-crítico para a sua abordagem. PALAVRAS-CHAVE: Documentação histórica, identidades, cultura material, fontes orais, religiosidades ABSTRACT: This article to establish reflections on historical sources that are based on researches in history of the religions, to understand the configurations of the jewish religious feeling in places where it does not have organized as community, as Rolândia, in the north of the Paraná. Between 1932 and 1941, Rolandia received nazi refugees, among them, jewish people. It analyses differents kind of documental variation, as: material culture, oral sources and self biographics documents, to test the uses made for the Ethnicity and death project. In such a way, it proposes to establish a documentary corpus to investigate the jewish identities and religiosities, and also an analytical-critical instrument for its approaching. KEYWORDS: Historical documentation, identities, material culture, oral sources, religious feelings
Introdução
A imigração de alemães de origem judaica para o norte do Paraná entre 1932 e 1941
deve ser compreendida dentro dos contextos da ascensão do nazi-fascismo na Alemanha e
da expansão de novas fronteiras agrícolas do estado do Paraná. Tal expansão, capitaneada
por uma empresa de capital britânico – a Paraná Plantations - caracterizou-se por
estabelecer pequenas e médias glebas de terra, oferecido a europeus através de campanhas
publicitárias.
Em 1932 um simpatizante do nazismo, Oswald Nixdorf, um ex-ministro do Reich, o
meio-judeu Erich Koch-Weser e o colonizador Hermann Von Freeden adquiriram lotes de
terras pertencentes à companhia inglesa, através da Sociedade de Estudos Econômicos do
∗ Doutor, Universidade Estadual de Londrina – UEL/LEI-USP/CNPq/ Fd. Araucária
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
22
Ultramar e passaram a negociá-las em território alemão. A eles se juntou um jovem político
católico, Johannes Schauff, e com estratégias de propaganda, apresentaram as
possibilidades de sucesso no empreendimento. Esses folhetos afirmavam a fertilidade da
terra, o clima aprazível, e as possibilidades de ganhos e sucessos econômicos com a
cafeicultura.
Como tal propaganda atingia as camadas média e alta da burguesia, logo passou a
interessar os que se sentiram imediatamente ameaçados pela ascensão do nazi-fascismo,
sobretudo aqueles cujas atividades tangenciavam a política, como artistas, juristas,
economistas, intelectuais.
Assim, poderíamos chamar de primeira corrente as imigrações ocorridas em 19331.
Elas se caracterizaram pelo fato dos refugiados terem adquirido seus lotes sob os auspícios
do escritório alemão de colonização, então dirigido por Oswald Nixdorf; por saírem da
Alemanha com parte considerável ou todas suas economias e por serem desbravadores de
região de mata atlântica, desmatando suas áreas que deram origem à Gleba Roland.
Erick Koch Weser, que fora por duas vezes ministro da República de Weimar e que
era presidente da Sociedade de Estudos Econômicos, emigrou em 1933, trazendo para
Rolândia sua esposa e seus dois filhos menores. Para Geert Koch Weser, filho que o seguiu
posteriormente, a atitude paterna
animou muitos opositores de Hitler a imitá-lo, sobretudo políticos, como Johannes Schauff que tinha sido o mais jovem Deputado do Reich. Um ex-ministro do Reich, Schlange-Schöningen mandou seu filho para Rolândia. Também adquiriram terras em Rolândia Friedrich Lübcke e seu irmão Heinrich; este mais tarde tornou-se Presidente da República Federal da Alemanha (ambos não conseguiram mudar para Rolândia); além de Kurt Kiesinger, futuro Chanceler Federal, que na casa de papai se candidatara a ser o professor da família2.
As primeiras dificuldades na região foram sanadas com o auxílio de mateiros,
sobretudo dos patrimônios3 de Warta e Heimtal, que derrubavam a floresta, demarcavam a
1 Não foram contabilizadas aqui as terras negociadas em 1932 e que deram origem à Gleba Roland. Trata-se dos primeiros cinco lotes de terras negociados pela Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar 2 Cf. entrevista de KOCH-WESER, Geert a Wolfang Dietzius, Munique/São Paulo: Instituto Hans Staden, 1986 e SCHWENGBER, Cláudia P. Aspectos históricos de Rolândia, p. 63. Rolândia: WA Ricieri, 2003. 3 Dentro do empreendimento colonizador inglês, os patrimônios eram áreas entre a zona urbana e a zona rural, e tinham por finalidade o abastecimento da população que vivia nos sítios e fazendas e em torno dos quais
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
23
gleba e construíam ranchos de palmiteiro4. A partir daí podiam iniciar sua nova vida,
praticando atividades agrícolas com assessoria de Oswald Nixdorf, que era expert em
agricultura tropical.
Uma nova fase de imigração se delineou entre 1934 e 1938. Esses imigrantes,
refugiados do nazismo, eram burgueses, habitantes de importantes cidades como Berlim,
Frankfurt, Munique, dedicavam-se a diversas atividades urbanas, e aqueles que eram
judeus, mantinham diferentes relações com o judaísmo: apostasiados, casados com
cônjuges não judeus, assimilados, e até uma minoria de fato religiosa5.
Estes optaram por uma vida à margem da comunidade judaica instituída6,
fisicamente distante dela, longe dos centros urbanos e praticando a agricultura, uma
atividade que lhes era praticamente estranha7.
Com o recrudescimento da situação política, proibiu-se a saída de capital da
Alemanha, e frente a esse impasse, os colonizadores estabeleceram uma estratégia para
superar essa limitação: a triangulação. Esta triangulação consistia na compra, ainda na
Alemanha, de ferro alemão, que era vendido aos ingleses, para a construção de uma
ferrovia, ligando o norte do Paraná ao sul do país. Em troca recebiam um vale-terra, que
lhes dava direito de uso e posse de seu lote. Esta Permuta de Interesses iniciou-se em 19368,
esses habitantes se organizavam socialmente. CF. IPAC, O projeto dos “patrimônios” e a ação da Companhia de Terras Norte do Paraná – CNTP, p. 11. In: IPAC, INVENTÁRIO E PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE LONDRINA. Heimtal: o passado e o presente no Vale dos Alemães. Londrina: GRAFMAN, 1993. 4 Cf. IPAC, Rolândia: a casa dos alemães, p. 11. Londrina: UEL/MEC-SESU, 1995. 5 Cf. FISCHER, Gudrun, Abrigo no Brasil, pp. 20-22; 37-44. SP: Brasiliense, 2005; MAIER, Max Hermann, Um advogado de Frankfurt se torna cafeicultor na selva brasileira. p. 23. Rolândia: Ed. Particular 6 CYNTRYNOWICZ, Roney aponta que nos anos 30 já existia no Brasil, particularmente em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, uma sólida rede de instituições que definiam uma estabelecida e ativa vida em comunidade e os contornos de um projeto de identidade judaico-brasileira. Cf. Cotidiano, imigração e preconceito: a comunidade judaica nos anos 1930 e 1940 p. 289. In GRINBERG, Keila (org.) Os judeus no Brasil. RJ: Civilização Brasileira, 2005. 7 Apesar das tentativas de estabelecimento de uma colonização agrícola por parte do Jewish Colonization Association – JCA/ICA. Cf. FALBEL, Nachman, Jewish agricultural settlement in Brazil. Jewish History, vol 21, ## 3-4, September, 2007.. No caso específico de Rolândia, temos a presença de alguns agrônomos e botânicos ou técnicos agrícolas, que vieram entre 1932 e 1941, como Heinrich Kaphan, Eugen e Margareth Ranke, além de Ricardo Loeb-Caldenhof e de Oswald Nixdorf. Cf. LOEB-CALDENHOF, Ricardo, Memoiren pp. 38-39. Rolândia: Ed. particular; SCHWENGBER, Cláudia P. Aspectos históricos de Rolândia, p. 64. Rolândia: WA Ricieri, 2003 e entrevista de KOCH-WESER, Geert a Wolfang Dietzius, Munique: Instituto Hans Staden, 1986. 8 Importante frisar as atuações de Erich Koch-Weser e Johannes Schauff nesse processo de Permuta, que através de seus relacionamentos com pessoas influentes conseguiram elaborar 18 negociações, com a vinda de
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
24
e permitiu que fossem contornadas as dificuldades da saída de dinheiro alemão, além de
possibilitar o vislumbre de um canto seguro longe das exceções do regime nazista.
Assim, a Gleba Roland foi se constituindo como um local de refúgio, passando a
interessar um maior número de perseguidos do regime hitlerista, mesmo aqueles que já não
podiam mais sair com seus bens ou somente com uma pequena quantidade deles.
No entanto, a 19ª. triangulação, devido ao esforço de guerra alemão, não se
efetivou, e os refugiados, ao chegarem ao norte do Paraná, não tiveram acesso à terra,
restando a eles fixaram-se na Stadtplaz (vila) chamada Rolândia e prestar serviços nas
fazendas de seus conterrâneos.
Os contatos entre os refugiados pautaram-se por essa divisão: os assentados na
Gleba Roland, donos de terra, e aqueles que, por força maior, tiveram que se estabelecer na
Stadtplaz. Para estes últimos, a região da Gleba Roland ficou conhecida como oeste
dourado9, sobretudo pelo título da terra, mas também pelas condições mais favoráveis à
imigração entre 1932 e 1938, ou seja, os primeiros refugiados puderam trazer parte de seus
bens, o que lhes garantiu, uma vez sanadas as primeiras dificuldades nessas terras tropicais,
uma vida mais propícia.
Muitos desses habitantes do oeste dourado também puderam fugir antes da Noite
dos Cristais e da Solução Final10, não passando pelos terríveis atos de humilhação pública,
exclusão, prisão e trabalhos forçados, que aqueles chegados após 1938 passaram.
Os refugiados entre 1933 e 1938 não tiveram muitos problemas para obterem o visto
e o affidavit11, mas aqueles que chegaram depois de 1938 tiveram de utilizar diferentes
subterfúgios para obter as autorizações necessárias, como corrupção de autoridades alemãs
ou brasileiras e conversões ao catolicismo12. Nesta terceira leva as pessoas já saíram sem
cerca de 120 famílias. Cf. SCHWENGBER, Cláudia P., op. cit. pp. 78-79; CARNEIRO, Maria Luiza Tucci, Brasil, um refúgio nos trópicos, pp. 135-138. SP: Instituto Goethe/Estação Liberdade, 1996. 9 Cf. BEHREND, Susanne, Entrevista ao Projeto Etnicidade e Morte. ETN/CDPH-UEL/EM01 10 A Noite dos Cristais foi um pogrom insuflado pelo Partido Nacional-Socialista e pela SA, que varreu a Alemanha e a Áustria em 9 de novembro de 1938; por Solução Final entende-se a deliberação e adoção de uma política sistemática de extermínio do elemento judeu, decididos pela Conferência de Wansee em 1942. 11 Documento exigido pelas autoridades brasileiras para a obtenção do visto pelo refugiado, consistindo de um ato notarial pelo qual alguém se responsabilizava pelo seu acolhimento e/ou manutenção no Brasil 12 Cf. LESSER, J. O Brasil e a questão judaica. Petrópolis: Imago, FISCHER, Gudrun, Abrigo no Brasil MAIER, Max Hermann, Um advogado de Frankfurt se torna cafeicultor na selva brasileira. Rolândia: Ed. Particular, 1977; MILGRAM, Avraham, Os judeus do Vaticano. Petrópolis: Imago,
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
25
posses, algumas delas estavam em campos de trânsito ou de concentração e boa parte
tornou-se mão-de-obra nas propriedades rurais já em fase de consolidação.
Talvez seja possível acrescentar um quarto momento, consistido por aqueles que
vieram após o final da guerra por inúmeros motivos: casamentos, busca de parentes, com o
propósito de reiniciar a vida em outro lugar com outra atividade. Embora de número
reduzido, rapidamente integraram-se ao grupo de refugiados, sobretudo aqueles
estabelecidos no núcleo urbano, a cidade de Rolândia.
Uma vez fixadas, essas levas de refugiados organizaram-se em torno de um clube
cultural denominado Pró-Arte, onde os valores da Kultur13 eram mantidos através de
palestras, peças de teatro, shows e recitais. Neste sentido, não se preocuparam em instituir
uma comunidade religiosa como um ishuv, embora fosse presente em muitas ações dos
refugiados a idéia de ajuda mútua, tão característica das comunidades judaicas
organizadas14. Isso se explica pela vida assimilada que tinham ainda na Alemanha, muitas
dessas pessoas convertidas a diferentes denominações cristãs ou ainda declaradamente
agnósticas, e uma vez no Brasil, mantiveram essas características, com uma ou outra
exceção.
Neste sentido, a presença judaica no norte do Paraná deixou traços indeléveis, posto
que pouco visíveis. Não foram constituídos na região de Rolândia sinagogas, instituições
escolares judaicas ou alguma sociedade mortuária - chevra kadisha; os judeus ou seus
descendentes não se diferenciam (sejam por sinais exteriores sejam por costumes diuturnos)
do resto da população. Tal visibilidade é possível somente nos dois cemitérios da
municipalidade ou na lista telefônica, onde sobrenomes judaicos estão estampados.
Devido a essa constatação, o fundo documental que permite a investigação das
relações entre identidades e religiosidades, buscando localizar as nuances destas
etnicidades, é variado. Por isso a necessidade de trabalhar com diferentes tipologias
13 Compreendemos Kultur aqui como o conjunto de valores de caráter nacionalista, formulada na constituição da República de Weimar. Seria composta pelos grandes nomes da cultura alemã (literatura, artes plásticas, músicia, filosofia) e o impacto de suas contribuições no alemão médio, provocando encantamento, e devido a esta característica não teria o caráter formative presente na idéia de Bildung. Cf. ADORNO, Th. W. Qué es allemán in Consignas. Buenos Aires: Amorrortu , s/d. 14 Como o caso da Congregação Israelita Paulista. Cf. HIRCHBERG, Alice Irene. Desafio e resposta: a história da Congregação Israelita Paulista. SP: CIP, 1976.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
26
documentais. Elas garantem a historicidade do tema e da abordagem, e inserindo-os em um
determinado campo histórico que, pautado pelos contatos multidisciplinares, operacionaliza
os estudos sobre a religiosidade, com um objeto definido: as formas de expressão das
identidades judaicas longe da vida comunal organizada.
1- cultura material
a- sepulturas de israelitas
Na cidade de Rolândia há dois cemitérios municipais, um localizado no sítio urbano
e outro na zona rural, este denominado São Rafael15. Em ambos os cemitérios é fácil
localizar túmulos de israelitas, muitos deles com símbolos religiosos estampados na lápide.
Consideramos sepulturas de israelitas aqueles túmulos que trazem, além do sobrenome
judaico, um ou mais símbolos da religiosidade judaica: a estrela de Davi, inscrições em
hebraico e/ou a presença de monólitos.
Tais características permitiram que fossem classificadas como sepultura
evidentemente de israelita, por trazer as manifestações da religiosidade na lápide, as
sepulturas de Michael Levy (CMR), Herta Sara Moser (CSR), Ruth S. R. Clement (CSR) e
Helmut Bruch (CSR) [figuras 1, 2, 3 e 4]. A sepultura deste último, além da estrela de
David sobre o nome, na base da lápide encontra-se o sinal maçônico do compasso,
denotando também sua filiação a este clube de serviços e ajuda mútua, conseqüência das
redes de interação estabelecidas pelos emigrantes.
15 O Cemitério Municipal de Rolândia, localizado nas proximidades do centro da cidade será aqui referenciado como CMR e o Cemitério Municipal São Rafael, no Bairro Rural São Rafael como CSR.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
27
Figuras 1 e 2 © ETN/CDPH-UEL16
Figuras 3 e 4 © ETN/CDPH-UEL
Entretanto, a variação sepulcral mais comum e que pode ser associado aos
refugiados de origem judaica é o que denominamos sepultura provavelmente de israelita.
Tais túmulos não trazem elementos da religiosidade judaica estampada em suas lápides, no
entanto os sobrenomes indicam claramente a ancestralidade, além de serem em sua maioria
simples caixas de terra, com a presença de pedras ou rochedos, ou no caso do cemitério São
Rafael, caixas de terra com hera helix, sombreadas por um arvoredo. Dentro desta
classificação, dispomos os túmulos de Alfred e Eva Stern (CMR), Hulda Bielschowsky
(CMR), de Max Hermann Maier e Mathilde Maier (CSR) e de Sara Dannemann (CSR)
[figuras 5, 6, 7 e 8].
A presença desta variação sepulcral pode ser explicada pelo relativismo da vida
judaico-alemã ainda na Europa, mas também pelas dificuldades ou mesmo a não-disposição
16 Fundo Projeto Etnicidade e morte, Centro de Documentação e Pesquisa História da Universidade Estadual de Londrina.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
28
de fazer um retorno à vida judaica, ainda que fosse para aquela de caráter cosmopolita e
assimilado.
Figuras 5 e 6 © ETN/CDPH-UEL
Figuras 7 e 8 © ETN/CDPH-UEL
A terceira variação sepulcral é a denominada sepultura conjecturalmente de
israelita, que devido à incompletude dos dados exteriores da sepultura, não nos permite
afirmar que o morto e, sobretudo sua família, tivessem mantido contatos efetivos com a
religião judaica, o que nos autoriza apenas fazermos uma suposição acerca da sua relação
com o judaísmo.
Esta variação contém ou não sinais identitários que podem ser arrolados como
judaicos, particularmente sobrenomes, no entanto apresentam traços claros de conversão ao
catolicismo ou ao luteranismo. Nesta tipologia estão a sepultura da família Traumann
(CMR), de Leonore Lisenberg (CMR) e de Heinz P. Molnar (CMR) [figuras 9, 10 e 11].
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
29
A materialidade dos vestígios do judaísmo, seja em práticas cotidianas, seja na
atitude ante a morte, denota de certa forma a impossibilidade de constituição de uma vida
comunal no norte do Paraná, sobretudo porque muitos já viviam alijados da religião ou
convertidos à outras confissões, por diferentes motivações, ainda na terra natal. Desta
forma estes vestígios apontam para uma leitura da religiosidade judaica às margens do
judaísmo instituído, tentando identificar o que permaneceu e o que foi transformado. A
visibilidade deste exo-judaismo tem marcadores, e estes podem ser percebidos nos
cemitérios, nos sobrenomes e em algumas observâncias religiosas, sem muita regularidade
ou ortodoxia, em um conjunto de elementos que chamamos de judaísmo possível.
Figuras 9 e 10 © ETN/CDPH-UEL
Figura 11 © ETN/CDPH-UEL
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
30
b- Material bibliográfico
Uma vez estabelecidos em Rolândia, os refugiados tiveram de criar laços entre si, e
se a princípio foi em função da derrubada da mata, logo depois passou a assumir diferentes
contornos, conforme a Gleba e a Stadtplaz se desenvolviam. Mas um dos instrumentos de
interação utilizado desde o início da ocupação da região e que ainda hoje se manifesta
como uma prática localizável é o empréstimo e conseqüente circulação de livros entre os
refugiados.
Milhares de volumes e títulos foram trazidos para Rolândia, caso somemos as
bibliotecas das famílias Traumann, Isay, Ranke, Marckwald, Maier, além de outras
menores. Uma amostragem deste material bibliográfico foi recolhido junto à comunidade
rolandiense e passou a ser considerado cultura material.
Neste sentido, o material bibliográfico recolhido no campo de pesquisa serve como
baliza na configuração e reconfiguração das fronteiras17 no norte do Paraná, mais
precisamente em Rolândia. Tais movimentos de fronteira tornam-se mais visíveis se
cruzarmos o que liam com a circulação do objeto livro em diferentes fazendas e
residências. A referência a este costume, se não está restrita aos refugiados de origem
judaica, encontra neles um eco muito forte e presente, que consiste na valoração das obras
características da Kultur como sinal de elevação pessoal, considerada mais importante do
que a formação acadêmica que lhes havia sido tolhida ou impedida pela Alemanha.
Os livros ainda circulam entres os refugiados que continuam vivos ou entre alguns
de seus filhos, mas as gerações posteriores perderam a língua alemã (ou delas fazem uso
apenas funcional), o que fez com que a própria Biblioteca Municipal de Rolândia se
negasse a ter em seu acervo mais obras nesta língua, justificando que as que lá estão já não
circulam mais.
O projeto recolheu aproximadamente 500 volumes de livros em sua grande maioria
de literatura alemã de autores considerados clássicos ou fundantes: Goethe, Heine, Schiller,
17 Cf. BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras in POUTIGNAT, Ph e STREIFF-FENART, Teorias da Etnicidade. SP: Ed. UNESP, 1998.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
31
Novalis, Rilke, mas também estão presentes livros de filosofia, de política, de história e de
literatura de outras expressões. Muitos em bom estado de conservação, mas um grande
número dessas obras estava contaminado por agentes biológicos. A esses foi dado o
tratamento adequado, desde a fumigação com paradiclobenzeno a 99% seguido de
quarentena fechada, ao final da qual foi feita a remoção física dos resíduos; alguns
pequenos reparos foram feitos para garantir a conservação e manutenção de determinados
volumes18 [figuras 12 e 13].
Após o tratamento, foram descritos e classificados, o que permitiu fazer inferências
do que liam, como liam e qual a significação ou impacto dessas leituras no delineamento
das identidades judaicas no exílio e distante da vida comunal organizada. Dito de outra
maneira, esse material bibliográfico nos forneceu as pistas para rastrearmos os vestígios da
uma etnicidade que se auto-referencia como judaica, e mais precisamente, os aspectos das
variações que estas identidades assumem na constituição das fronteiras étnicas, com
marcadores precisos e visíveis.
18 Cf. PALETTA, Fátima A.C. e YAMASHITA, Marina M. Manual de higienização de livros e documentos encadernados. SP: Hucitec, 2004.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
32
Figura 12. Livro de Rilke com perfurações broca e presença e mofo. ©ETN/CDPH-UEL
Figura 13. Lotes de livros para higienização e remoção de resíduos. ©ETN/CDPH-UEL
2- Relatos e fontes orais
a- relatos autobiográficos
A experiência de refúgio em Rolândia foi transformada em relato de vida por
diferentes emigrantes, particularmente entre aqueles que foram vítimas de perseguições
raciais. Elas têm um papel determinante no processo de constituição das identidades
daqueles que se autonomeiam judeus, pois indicam a sua variação tipológica e de filiação
ao judaísmo, assim como também trazem apropriações da determinação identitária imposta
pelo nazismo..
Para a investigação das relações entre etnicidade e morte esse tipo de fonte é
fundamental, porque além de trazer em si auto-identificações, ao mesmo tempo indica,
determina e estabelece chancelas identitárias àqueles que cercam os autores dos relatos.
Isso se deve à característica do relato biográfico, que ao tornar-se discurso narrado pelo
sujeito autor e protagonista, instaura sempre um campo de renegociação e reinvenção
identitária19.
19 CARVALHO, Isabel Cristina Moura. Biografia, identidade e narrativa: elementos para uma análise hermenêutica. Horiz. antropol. , Porto Alegre, v. 9, n. 19, p. 284, 2003.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
33
Muitos desses relatos são inéditos e foram recolhidos de autores ou parentes ou
amigos de autores, tais como Memórias de Rudolf Stern seguido de A história de minha
vida, de Rudolf Stern e Susanne Behrend, História de Suzanne e H. Helmut Behrend, de
Susanne Behrend e Memoiren, de Ricardo Loeb-Caldenhof.
O primeiro consiste no relato memorialístico dos irmãos Stern, ele Rudolf e ela
Susanne, que se casou com Helmut Behrend em 1947. Tratamos esta fonte como duas
fontes distintas, a parte 1 sendo a complementação feita pela irmã Susanne e a parte 2 a
narrativa de Rudolf. Sobre esta, outra interferência ocorreu, já que Heinz Maas afirma em
uma nota, ser ele o responsável pela tradução das memórias de seu amigo para o português,
na qual teve a liberdade de omitir detalhes e intercalar outros sobre minha família, tão
interligados com a história dos Sterns20.
Como Rudolf Stern morreu antes de terminar o registro de suas impressões, a irmã
incumbiu-se da missão de terminá-las, pois a seu ver tratava-se da mesma memória, já que
teriam passado pelas mesmas experiências. Diz ela: Infelizmente a morte tirou a caneta da
mão do eu querido irmão, e só por isso resolvi tentar a continuar estas memórias, que
também são minhas21, e prossegue afirmando que tomou tal decisão para deixar aos seus
posteriores, as narrativas das dificuldades de ser peregrino entre dois mundos22.
A outra narrativa não publicada, História de Suzanne e H. Helmut Behrend é um
opúsculo muito semelhante à continuação das memórias de Rudolf Stern. Narra a
experiência da família Stern, da segregação na Alemanha à fuga e estabelecimento em
Rolândia, mas depois ocupa-se dos eventos que envolvem a família Behrend, desde sua
constituição em 1947 até as atividades desenvolvidas pelo casal na APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais nas décadas de 1980-90. Encerra a narrativa falando da
morte do marido em 2005 e das suas recentes cirurgias para extração de câncer de mama e
catarata23.
20 Cf. STERN, Rudolf e BEHREND, Susanne. Memórias de Rudolf Stern antecedida pela A história de minha vida, Parte 2: Memórias de Rudolf Stern, p. 16. Rolândia: edição particular, s/d. 21 IDEM, Parte 1: A história de minha vida, p. 1. Rolândia: edição particular, s/d. 22 IBIDEM. 23 Cf. BEHREND, Susanne. História de Suzanne e H. Helmut Behrend, p. 23. Rolândia, Edição particular [2005].
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
34
Memoiren24 é uma longa e detalhada narrativa do estabelecimento de Ricardo Loeb-
Caldenhof e de sua esposa Sylvia O. Loeb-Caldenhof na selva da Gleba Roland. Traz
muitas referências do cotidiano da colônia e descreve de maneira minuciosa o
desenvolvimento da cidade e de seus habitantes, imbricado por histórias pessoais. Começou
a ser escrita em 1987 e foi terminada em abril de 1991, ano em que o autor completou 82
anos.
Filho de uma proeminente família judia estabelecida na região de Hamm emigrou
para Rolândia em 1938, e dedicou-se às atividades agrícolas em sua Fazenda Belmonte, já
que havia cursado agronomia na Universidade de Bonn25. Teve um papel aglutinador entre
os refugiados pelas constantes visitas que fazia aos campos de cultivo e às residências, mas
se sentia menosprezado entre os mais intelectualizados, por achar que estes consideravam a
agricultura um trabalho braçal de homens rústicos e não dedicados à leitura e ao
refinamento26.
Em sua narrativa, descreve a vida burguesa anterior à ascensão do Partido Nacional-
Socialista e a importância de sua família no contexto político-militar alemão durante o II
Reich e a República de Weimar. Analisa a deteriorização da situação econômico-social e
familiar da ascensão de Hitler até 1938, quando finalmente resolveu fugir para Rolândia,
onde já estavam pessoas do círculo de relações de sua família. Rememora acontecimentos,
pessoas e discussões, e expõe os motivos que fizeram permanecer no Brasil. A última parte
de suas Memoiren é destinada aos acontecimentos que envolveram a Fazenda Belmonte,
desde aumento, manutenção ou queda de produtividade até as viagens pelo Brasil para
conhecer novos cultivares ou novas técnicas de cultivo.
Além dessas narrativas, também utilizamos como fontes os relatos memorialísticos
editados no Brasil e na Alemanha, como Um advogado de Frankfurt torna-se cafeicultor
24 LOEB-CALDENHOF, Ricardo, Memoiren von Dr. Ricardo Loeb Caldenhoff. Rolândia: Edição particular, 1997. 25 Cf. BREUNIG, Bernd, Die deutsche Rolandwanderung (1932-1938), p. 103. München, Nymphenburger Vlg, 1983. 26 LOEB-CALDENHOF, Ricardo, op. cit., p. 56.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
35
na selva brasileira de Max Hermann Maier27 e Os jardins de Minha vida28 de Mathilde
Maier. Na obra de Max Hermann Maier estão presentes análises da conjuntura que
culminou com as restrições impostas pelo nazismo, e como era jurista, o seu
inconformismo com o regime de exceção e com a cassação de sua cidadania. Aponta as
dificuldades iniciais do estabelecimento, assim como a superação dos obstáculos.
Reconhece-se a si e à sua família como judeus, e antes de chegar à sua nova terra, vindo do
porto de Santos, parou em São Paulo para tratamento de sua esposa, momento em que se
filiou à Congregação Israelita Paulista – CIP.
Já a narrativa de sua esposa tem outro caráter. Busca associar flores e jardins aos
desterros que passou. Embora afirme que não pretendia falar dos sofrimentos provocados
pela ascensão do regime nazista, este silêncio, ou melhor, esta tentativa de silenciar-se foi
quebrada pela elaboração de seus diferentes jardins, seja na Alemanha, Inglaterra ou Brasil.
Alle Garte meines Leben recebeu traduções para o português e para o inglês, e oferece os
subsídios para tratar da questão das identidades judaicas no exílio, assim como as
possibilidades inumeráveis de configurações de atitudes ante o judaísmo e ante ao mundo
extra-judaico.
b- entrevistas metódicas
As estratégias de História oral adotadas pelo projeto Etnicidade e morte tiveram
cunho secundário, porque foram privilegiadas as análises da cultura material. Desta forma
elas tiveram um caráter focalizado: dirimir dúvidas e colocar novas questões para serem
inventariadas.
Assim, no estabelecimento das fontes orais, a questão da auto-identificação foi
insistentemente colocada e re-colocada pelos entrevistadores. Traçou-se um perfil prévio do
entrevistado, e daí partiu-se para o registro. Todas as entrevistas focalizadas foram feitas
27 Tradução feita por sua esposa e pelo professor Elmar Joënck, do original alemão Ein Frankfurter Rechtsanwalt wird Kafeepflanzer im Urwald Brasiliens – Bericht eindes Emigranten. Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975. 28 Alle Garte meines Lebens, Frankfurt Am Main: Josef Knecht Verlag, 1978, traduzido pela autora e por Roswitha Kempf, publicado em 1981 pela editora paulista Massao Ono
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
36
nas propriedades dos entrevistados, o que lhes permitiu sentirem-se a vontade para narrar
fatos que muitas vezes foram por eles omitidas em outras oportunidades.
Também o sentir-se protegido em sua terra ou casa, possibilitou que fossem
utilizados elementos do ambiente (sala, fotografias, mobiliário, objetos de decoração) na
problematização das informações obtidas na leitura dos relatos autobiográficos, facilitando
desta forma as recordações, para que a informação procurada aflorasse como uma espécie
de riverun29.
Nessas entrevistas inéditas, assim como naquelas estabelecidas por Gudrun
Fischer30 e que também foram utilizadas pelo projeto, pode-se perceber que é muito comum
entre os refugiados sobreviventes, assim como nos descendentes dos refugiados uma idéia
culturalista de judaísmo, na qual se identificam e se reconhecem31
Reconhecem que foi devido à essa herança que tiveram de fugir da Alemanha e
refugiar-se no Brasil, em uma região até então desconhecida, mas uma vez nela, mesmo
aqueles que tinham algum laço mais efetivo com a religião e religiosidade judaicas, não o
deixou de herança.
No entanto é importante apontar que tanto na 3ª e agora na 4ª. geração, alguns netos
e bisnetos dos refugiados de origem judaica têm feito o movimento de retorno ao judaísmo,
o que ainda não se configurou em uma tendência, tratando-se mais de casos isolados e
esporádicos, assim como as conversões ao islamismo, budismo e hinduismo32, localizadas
entre os descendentes dos refugiados alemães de origem judaica.
Considerações finais
O estudo acerca das identidades e religiosidades judaicas distantes das organizações
comunais ainda está para ser feito. Como vivenciar os variados aspectos da religião e da
religiosidade judaicas, em um local onde inexistem sinagoga, sociedade mortuária e
29 Riverun é o rio corrente de James Joyce em seu Finnigan’s Wake. Cf. CAMPOS, Haroldo e CAMPOS, Augusto, Panaroma do Finegans’ Wake. SP: Perspectiva 30 FISCHER, Gudrun. 31 Cf. Entrevista de Michael Traumann (ETN). Também entrevista de Brigitte Wendel a Gudrun Fischer, p. 56 e de Anônima para Gudrun Fischer, p. 62 32 Cf. Entrevista de Klaus e Ruth Kaphan (ETN). Também a entrevista de Ruth Kaphan a Gudrun Fischer, pp. 116-117.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
37
instituições da kashrut33? Como recuperar e analisar os sinais visíveis e invisíveis da dos
processos de identificação através desta religiosidade possível? Como problematizar as
questões colocadas pela equação identidade/religiosidade/etnicidade, a fim de identificar e
ressaltar as configurações de um judaísmo possível fora da via institucional?
Estas perguntam se colocam na medida em que se afirma a existência de atitudes
variadas em relação ao judaísmo em um grupamento de alemães que tiveram de fugir da
Alemanha por questões étnico-raciais, e que se fixaram em uma área do estado do Paraná,
através de uma empresa colonizadora inglesa, nos anos 30 do século XX.
Para que aquelas perguntas tenham um encaminhamento que viabilize, tanto
respostas, mesmo que provisórias, quanto novas indagações sobre o fenômeno, é necessário
que se estabeleça um corpus documental variado capaz de fundamentá-lo. Daí o imperativo
de se debruçar sobre as fontes que sustentam uma investigação no âmbito aqui pretendido,
como forma de justificar sua inserção no campo histórico que se ocupa com os fenômenos
que envolvem a relação do homem como sagrado.
Desta maneira, para que se reconheça o tema como um objeto da história das
religiões e das religiosidades é necessário refletir sobre sua documentação e sobre seus
métodos de abordagem, e fundar-se com um escopo multidisciplinar, que implique sempre
em verificações e reavaliações de suas premissas e de seus resultados.
Referências Fontes
BEHREND, Susanne, Entrevista ao Projeto Etnicidade e Morte. ETN/CDPH-UEL/EM01 BEHREND, Susanne. História de Suzanne e H. Helmut Behrend. Rolândia, Edição particular [2005]. FISCHER, Gudrun, Abrigo no Brasil. SP: Brasiliense, 2005 KAPHAN, Klaus e KAPHAN, Ruth. Entrevista ao Projeto Etnicidade e Morte. ETN/CDPH-UEL/EM03
33 Kashrut é o termo hebraico para as regras dietéticas estabelecidas no Levítico (Vaikra) e que preconizam uma série de tabus alimentares.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
38
KOCH-WESER, Geert, Entrevista a Wolfang Dietzius, Munique: Instituto Hans Staden, 1986 LOEB-CALDENHOF, Ricardo, Memoiren. Rolândia: Ed. Particular, 1997. MAIER, Mathilde. Os jardins de minha vida. SP: Massao Ono, 1981. MAIER, Max Hermann, Um advogado de Frankfurt se torna cafeicultor na selva brasileira. p. 23. Rolândia: Ed. Particular, 1977. STERN, Rudolf e BEHREND, Susanne. Memórias de Rudolf Stern antecedida pela A história de minha vida, Parte 2: Memórias de Rudolf Stern. Rolândia: edição particular, s/d. TRAUMANN, Michael. Entrevista ao Projeto Etnicidade e Morte. ETN/CDPH-UEL/EM02
Obras ADORNO, Th. W. Qué es allemán in Consignas. Buenos Aires: Amorrortu , s/d. BREUNIG, Bernd, Die deutsche Rolandwanderung (1932-1938), p. 103. München, Nymphenburger Vlg, 1983. CAMPOS, Haroldo e CAMPOS, Augusto, Panaroma do Finegans’ Wake. SP: Perspectiva, 1962. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci, Brasil, um refúgio nos trópicos, pp. 135-138. SP: Instituto Goethe/Estação Liberdade, 1996. CARVALHO, Isabel Cristina Moura. Biografia, identidade e narrativa: elementos para uma análise hermenêutica. Horiz. antropol. , Porto Alegre, v. 9, n. 19, 2003. FALBEL, Nachman, Jewish agricultural settlement in Brazil. Jewish History, vol 21, ## 3-4, September, 2007 GRINBERG, Keila (org.) Os judeus no Brasil. RJ: Civilização Brasileira, 2005. HIRCHBERG, Alice Irene. Desafio e resposta: a história da Congregação Israelita Paulista. SP: CIP, 1976. IPAC, INVENTÁRIO E PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE LONDRINA. Heimtal: o passado e o presente no Vale dos Alemães. Londrina: GRAFMAN, 1993.
Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 http://www.dhi.uem.br/gtreligiao - Artigos ________________________________________________________________________________________________
39
LESSER, J. O Brasil e a questão judaica. Petrópolis: Imago, 1995. MILGRAM, Avraham, Os judeus do Vaticano. Petrópolis: Imago, 1994. PALETTA, Fátima A.C. e YAMASHITA, Marina M. Manual de higienização de livros e documentos encadernados. SP: Hucitec, 2004. POUTIGNAT, Ph e STREIFF-FENART, Teorias da Etnicidade. SP: Ed. UNESP, 1998. SCHWENGBER, Cláudia P. Aspectos históricos de Rolândia. Rolândia: WA Ricieri, 2003.