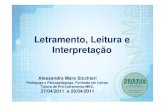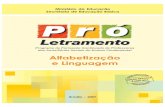Literatura e Letramento
-
Upload
alefemartins -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Literatura e Letramento

Setembro a Dezembro de 2014 FUXICO Nº 30 4
Entre desigualdades e direitos: a literatura e o
letramento em contraste
Alexandre Ferreira Martins
Graduando de Licenciatura em Letras pela UFRS
artigos
Se já se consideram enfa-donhos todos os clássicos da
literatura brasileira dados em uma sala de aula, quem dirá ter de ler um texto que busque
discutir os problemas de se negar a importância das obras literárias para a sala de aula –
não pelo caráter estético que nelas é contemplado, mas sim pela forma de imaginação
empática que a literatura, de uma forma geral, fornece aos seus leitores, e também pelos
fatores que, ao longo da história, foram condicionados em função da própria literatura e de outros
denominadores sociais. Certa vez, li um artigo de
Antonio Cândido (para quem não
o conhece, um grande crítico da literatura brasileira) intitulado “O
Direito à Literatura”, e passei a refletir um pouco sobre se considerar a existência de um
direito à literatura, da limitação do acesso às literaturas mais eruditas às classes sociais menos
abastadas e, nessa mesma medida, sobre a relevância dessa discussão, considerando outras
limitações que foram constituídas em detrimento da literatura. Em seu panorama histórico, os
fatores de ordem social sempre foram intervenientes nas diferentes formas de acesso aos
gêneros literários. Em tempos passados, outras
formas de limitação de acesso a
eles eram latentes na Inglaterra. O ensaio intitulado Um quarto só para si, de Virginia Woolf, retoma
as escritoras que, no século anterior ao seu, tiveram de ocultar seus nomes por trás de
pseudônimos masculinos. A indiferença do mundo que
Keats, Flaubert e outros homens
de gênio acharam tão difícil de suportar, era, no caso delas, não
a indiferença, mas a hostilidade. O mundo não lhes dizia como
dizia a eles: "Escrevam se qui-serem; é-me indiferente". O mundo dizia com uma garga-
lhada grosseira: "Escrever, para que serve o que escre-vem?" (WOOLF, 2005, p. 81)
Em pleno século XIX, Charlotte Bronte e Marian Evans sofreram com a hostilidade im-
posta pelas convenções sociais da época e, por decisão própria, impuseram o anonimato, de mo
-do a preservar não a si mesmas, mas sim aos textos que escreviam. Contrariamente
ao caso de Gustave Flaubert – escritor que subverteu a ordem social e o papel feminino – alu-
dido por Virginia Woolf, es-critoras como Charlotte Bronte,
em Jane Eyre, acortinavam-se
por meio de pseudônimos, mas não se abstinham de imprimir em
suas obras as nuances da pro-blemática que existia em relação à mulher. Vítimas da indiferença
de gênero, elas encaravam a autoria como uma questão mera-mente convencional, de ordem
editorial, mas que refletia, indu-bitavelmente, na recepção por parte do público leitor. O acesso
à literatura era cingido, como se demonstrou, por fatores de or-dem social, e o problema não se
centrava no seu usufruto pelo público leitor; antes, a questão instaurava-se nas convenções
que limitavam o acesso de mu-lheres à escrita literária.
Quase dois séculos depois, a
literatura superou, em grande parte, as distinções de gênero
referidas e, em meio a uma era
Cláudia Sperb

Setembro a Dezembro de 2014 FUXICO Nº 30 5
entre os níveis mais populares e os mais eruditos.
Torna-se uma tarefa de difícil compreensão a aceitação de um direito à literatura, tendo em
vista que o letramento, fator que o deveria preceder, foi por muito tempo restrito, em dife-
rentes contextos, a classes abastadas. Em termos sociais e culturais, a utilização, por parte
da escola, dos mesmos instru-mentos de exclusão social como ferramentas de inclusão e de
desenvolvimento de compe-tência linguística representa a porta de entrada para o
letramento. É somente com a promoção de políticas educa-cionais – como as que atual-
mente vigoram no Brasil, e, mais do que de políticas, de
atitudes, por parte dos professores, que traduzam uma mudança real das represen-
tações sociais antes estra-tificadoras – que os ditos clás-sicos da literatura mostrar-se-
ão, em completude e em uni-versalidade, como possibilidades de remissão das distâncias im-
postas pela desigualdade eco-nômica. Para tanto, o letra-
mento torna-se matéria impres-cindível, admitindo-se que, du-
rante a formação do leitor, a literatura é uma das formas de comunicação na formação do su-
jeito leitor: através dela, e também de outros gêneros tex-tuais, os indivíduos têm a pos-
sibilidade de se incluírem sócio-culturalmente em contextos nos quais antes não se inseririam.
Em “O Direito à Literatura”, Antônio Cândido retoma as modi-ficações sociais por ele presen-
ciadas e, nesse mesmo sentido, sabe-se que parte do seu dis-curso prevalece em tempos
atuais – principalmente no que concerne a determinados condi-cionamentos, em função, eviden-
temente, da própria represen-tação dos sujeitos relativamente
à sociedade da qual fazem parte. Sendo assim, no segundo de-cênio do século XXI, ainda se
perpetua a divisão em classes dos elementos artísticos que compõem a visão de literatura do
autor, mas estabelece-se a importância do gênero para a formação do sujeito leitor. A
literatura assume-se como disciplina e como instrumento
na qual o acesso à informação torna-se uma possibilidade quase
universal, a problemática emer-gida é outra: a título exem-plificativo, Jane Eyre, que, em
tempos longínquos, fora um ro-mance escrito sob o advento da opressão de gênero, tornou-se,
pela lógica capitalista, um dos elementos instauradores da divisão de classes.
Os ditos grandes clássicos da literatura estão cingidos a grupos de prestígio em função da
natureza desigual do acesso ao letramento, enquanto este, por sua vez, é reduzido em função da
gênese capitalista, que o limita a classes desprestigiadas. O problema do direito à literatura
está no modo como a instituição escolar deveria assumir os
gêneros textuais, em especial os literários, intentando o letra-mento dos aprendizes, de ma-
neira a desestruturar a desi-gualdade que é originária da luta de classes. É evidente que uma
literatura depende de um público leitor que possua as condições essenciais (de ordem eminen-
temente socioeconômica) para nela imergir e a ela conceder a emergência.
Assim, para se constituir um direito, a literatura não deveria estar condicionada a fatores
como o mencionado. Para esse desvínculo, ainda que se possa valer de uma educação bancária,
aludindo às palavras de Paulo Freire, e que dissemine uma cultura escolar em vias de formar
não cidadãos, mas sim traba-lhadores, a escola representa a instituição social capaz de trans-
gredir, por meio do letramento, os limiares dos condicio-namentos socioeconômicos.
Cândido (2004) assume que o direito à literatura decorre, também, da ausência de opor-
tunidades de acesso e não da incapacidade dos leitores, como se poderia supor. Com base no
argumento do autor, as socie-dades que apresentam, por nor-ma, a igualdade social, têm como
princípio a transição, por parte de seus componentes didáticos,
Nayara

Setembro a Dezembro de 2014 FUXICO Nº 30 6
denar mulheres e homens bra-
sileiros, especificamente o ser-tanejo sisaleiro, apesar de mui-
tas pelejas e resistências. No final do século XIX, o bea-
to Antônio Conselheiro, ar-
regimentando seguidores para construir sua utopia no povoado
de Belo Monte, às margens do rio Vaza-Barris, marcou o ima-ginário do povo nordestino, por
extensão, na população do Ter-ritório do Sisal.
A imagem-símbolo de Antô-nio Conselheiro aparece no ima-ginário dos povos do Sertão/
Sertões como um religioso, bastante devoto ao cristianis-
mo, que mobilizou milhares de cam-poneses, inspirado na ex-
pressão do sentimento de fé cristã, real-çando nesta tradi-ção o espírito de solidariedade
e de compartilhamento. (ARAÚJO, 2013, p. 141)
O misticismo do povo, que teve no sebastianismo de Antô-nio Conselheiro a sua expressão
didático, estando em correlação direta com os estudos de língua.
O estudo com base em
gêneros textuais, nesse sentido,
é o caminho através do qual o
professor pode vir a conduzir o
aluno à desmitificação dos
próprios clássicos da literatura,
entendidos, pelo senso comum,
como exemplos incontestáveis
de perfeição estética e como
f o r m a s i n a t i n g í v e i s e
cristalizadas de língua escrita.
Por essa razão, o letramento dos
aprendizes é de suma impor-
tância para o próprio estabe-
lecimento das obras literárias,
uma vez que ele abre espaço ao
livre acesso aos textos de liter-
atura e permite que os sujeitos
leitores não apenas entrem em
contato com as diferentes moda-
lidades escritas de literatura co-
mo também sejam críticos ao lê-
las. Como bem humanizador, a
literatura é, incontestavelmente,
um direito humano e, como tal,
deve ser desmitificada. Se se
estabeleceu uma ordem desigual
à distribuição dos textos
literários, na medida em que
eles próprios foram estratifi-
cados, o fundamental é que o
direito à literatura seja
compreendido, antes de
qualquer coisa, como um
resultado do direito ao
letramento.
Referências
BRITTO, L. P. L. (2007). Escola,
ensino de língua, letramento e
conhecimento. In Calidoscópio,
Vol. 5, n. 1, p. 24-30, jan/abr.
CÂNDIDO, A. (2004). O Direito
à Literatura. In. Vários escritos.
São Paulo/Rio: Duas cidades;
Ouro sobre Azul. Disponível em
< h t t p : / / p t . s c r i b d . c o m /
doc/62187793/CANDIDO-A-O-
direito-a-literatura>.
WOOLF, Virginia (2005). Um
Quarto Só para Si. Trad. e
Prefácio de Maria de Lourdes
Guimarães. Rio de Janeiro:
Relógio D’Água Editores.
Semelhantes ao Mandacaru, resistindo a tudo e todos
Edite Maria da Silva de Faria
Professora da UNEB
Sou semelhante ao mandacaru, resisto a tudo e todos.
Neuza
A voz de Neuza traz à tona
toda a luta pela vida e também cidadania dos sertanejas/os sis-
saleiras/os. Conhecer suas his-tórias, trajetórias de vida que, desde crianças, os interrogam e
interrogam a educação sobre os significados políticos da miséria,
da fome, da luta pela terra, pe-la identidade e pela sua cultura, pe-la vida e dignidade contribu-
em para afirmar seu protago-nismo.
O extraordinário espírito de luta e esperança dos seguidores
de Zumbi dos Palmares e de
Antônio Conselheiro que so-breviviam em condições pre-
cárias, as mais adversas, seja devido à pobreza e, sobre-tudo, devido às truculências
do coronelismo e ao descaso do governo.
Realidade que colocava em evidência o sofrimento e o de-sencanto que, infelizmente,
chega aos dias atuais, pois a miséria, a injustiça e as desi-
gualdades continuam a con-
Tomé