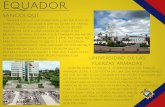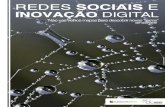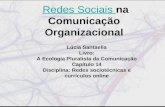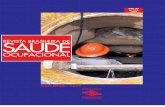Livro Entre Redes UDE
-
Upload
vania-oliveira -
Category
Documents
-
view
37 -
download
1
Transcript of Livro Entre Redes UDE

caminhos para o enfrentamento à violênciacontra crianças e adolescentes
Entre Redes

PRESIDENTE DAREPÚBLICADO BRASILDilma Vana RousseffMINISTRO DAEDUCAÇÃOFernando HaddadSECRETÁRIADE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃOE DIVERSIDADE (SECAD)Cláudia Dutra
UNIVERSIDADE FEDERALDE MINAS GERAISREITORClélio Campolina DinizVICE-REITORARocksane de Carvalho NortonPRÓ-REITOR DE EXTENSÃOJoão Antônio de PaulaPRÓ-REITORAADJUNTADE EXTENSÃOMaria das Dores Pimentel Nogueira

caminhos para o enfrentamento à violênciacontra crianças e adolescentes
Entre Redes
Belo Horizonte2011
Fernanda de Lazari Cardoso MundimJosé Luiz Quadros de Magalhães
Marisa Alves Lacerda
Organizadores

PÓLOS DE CIDADANIACOLEGIADO DE COORDENAÇÃO GERALProf. Dr. Márcio Túlio Viana (Faculdade de Direito/ UFMG)Profª Drª Maria Fernanda Salcedo Repolês (Faculdade de Direito/ UFMG)Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães (Faculdade de Direito/ UFMG)Prof. Fernando Antônio de Melo (Teatro Universitário/ UFMG)
PROJETO “FORTALECENDOAS ESCOLAS”COORDENAÇÃO GERALDO PROJETOProf. Dr. José Luiz Quadros de MagalhãesCOORDENAÇÃO EXECUTIVADO PROJETODrª Marisa Alves LacerdaSUBCOORDENAÇÃO EXECUTIVADO PROJETOMs. Fernanda de Lazari Cardoso MundimCOORDENAÇÃO TÉCNICANÚCLEO DE COMUNICAÇÃO EARTESLarissa Metzker O.

Dedicamos este livro à Miracy Gustin, educadora, mestree militante incondicional em favor dos Direitos Humanose emancipação dos sujeitos. Nossa terna gratidão por seuspreciosos ensinamentos, confiança e estímulo permanentes.
Fernanda de Lazari Cardoso MundimJosé Luiz Quadros de Magalhães
Marisa Alves Lacerda

REVISÃO ORTOGRÁFICAMariana De-Lazzari GomesPRODUÇÃO GRÁFICALarissa Metzker O.PROJETO GRÁFICO, FORMATAÇÃO, ARTE, ILUSTRAÇÕESE MONTAGEM DE CAPAMelissa Rocha
© 2011, Proex/UFMG.© 2011, os autores.A reprodução do todo ou parte deste livro é permitida somente para fins nãolucrativos e com a autorização prévia e formal da Pró-Reitoria de Extensão daUFMG (Proex/UFMG).
PÓLOS DE CIDADANIAFaculdade de Direito | UFMGAv. João Pinheiro, 100 | Prédio 1 | 6º andar | CentroCEP. 30.130-180 | Belo Horizonte | MG(31) 3409.8637 | [email protected]
Este material está disponível gratuitamente em
www.polos.ufmg.br twitter.com/polosUFMG

Sumário
Agradecimentos...............................................................8
Apresentação.................................................................9
PrefácioJosé Luiz Quadros de Magalhães.......................................................11
Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios no enfrentamento àviolência contra crianças e adolescentesFernanda de Lazari Cardoso Mundim e Marisa Alves Lacerda........................................19
Promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes sob umaperspectiva intersetorial: a importância das redes sociais mistas para aefetividade das políticas públicasMiracy Barbosa de Sousa Gustin.........................................................43
Violência e Exclusão na modernidade:reflexões para a construção de umuniversalismo pluralJosé Luiz Quadros de Magalhães e Tatiane Ribeiro de Souza.......................................57
Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos: desafioscontemporâneos para uma sociedade mais implicada com os processoseducativos das crianças e dos adolescentesGeovania Lúcia dos Santos, Luiz Carlos Felizardo Junior e Walter Ernesto Ude Marques......................77
(Re)ligando os pontos: o papel do educador na proteção à criançae ao adolescenteMaria Amélia G. C. Giovanetti..........................................................105
Violência na escola e da escolaEliane Castro Vilassanti...............................................................127
Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais:violências invisíveisJuliana Batista Diniz Valério............................................................153
O processo mobilizador de proteção às crianças e aos adolescentes:desafios à comunicaçãoMárcio Simeone Henriques...........................................................189
Da Alienação Parental à Alienação JudiciáriaJosé Raimundo da Silva Lippi..........................................................203

Agradecimentos
Agradecemos ao Ministério da Educação, mais especialmente à Secretaria deEducação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), pelos financia-mentos contínuos e pronta resposta a todas as nossas demandas.
À Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (Proex),pela parceria constante na execução do projeto.
Às prefeituras e secretarias de educação dos municípios de Betim, Contagem,Nova Lima, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagoas, Itambacuri, Teófilo Oto-ni, Itaobim, Padre Paraíso e Ponto dos Volantes, parceiros fundamentais na exe-cução e sucesso do projeto.
Aos participantes do Programa Pólos de Cidadania por contribuírem, de formapermanente, com o debate, disseminação e internalização dos princípios que nor-tearam a concepção deste material.
A todas as “meninas” que integraram – e integram – a equipe do Fortalecendo asEscolas desde o início de suas ações. Obrigada por sua dedicação e comprometi-mento conosco e, principalmente, com nossos parceiros e produtos.
ALarissa Metzker O., pelo olhar diferenciado que trouxe preciosas contribuiçõespara tornar mais ‘leve’ a configuração e linguagem deste e dos demais mate-riais.
Às autoras e autores dos artigos que compõem esta publicação, por aceitarem odesafio de dar nova ‘roupagem’ à discussão de temas já recorrentes.
Por fim, nossos agradecimentos especiais a todos os profissionais que participa-ram das formações nos doze municípios parceiros e que contribuíram, de formadecisiva, para os avanços em nossa atuação. Suas histórias de vida, seus senti-mentos, angústias e esperanças são a essência e a razão de ser deste material. Queele possa, de fato, contribuir para o debate necessário à promoção e efetivaçãodos direitos de nossas crianças e adolescentes.
Fernanda de Lazari Cardoso MundimJosé Luiz Quadros de Magalhães
Marisa Alves Lacerda

9
Aviolência contra crianças e adolescentes constitui um fenômeno histórico, mul-tifacetado e de grande complexidade que tem assumido visibilidade cada vezmaior ao longo das últimas décadas. Independente da manifestação assumida– seja ela física, psicológica ou estrutural - todo tipo de violência deve ser vistocomo violação aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, postoque fere sua integridade, sua identidade e sua autonomia, podendo causar danosque são, muitas vezes, irreparáveis.
As transformações promulgadas na década de 90, pelo Estatuto da Criança e doAdolescente - ECA, Lei Federal nº 8069, constituíram um marco decisório noenfrentamento às violências sofridas cotidianamente por milhares de crianças eadolescentes. Representaram, por isto, um avanço incontestável para os DireitosHumanos no Brasil. Graças ao ECA, crianças e adolescentes deixaram de sertratados como “menores” a serem tutelados pelo Estado e passaram a ser consi-derados como sujeitos de direitos, pessoas em “situação peculiar de desenvolvi-mento” que devem, por isso, ser protegidas com prioridade absoluta pela família,pelo Estado e pela comunidade.
Como programa universitário de extensão e pesquisa que atua na promoção dosDireitos Humanos e Cidadania, o Programa Pólos de Cidadania da Faculdadede Direito da UFMG desenvolve, desde 2004, projetos voltados para o enfrenta-mento às diversas formas de violência contra crianças e adolescentes. Um destesprojetos é o “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adoles-cente”, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG e com ofinanciamento da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversi-dade do Ministério da Educação - SECAD/MEC.
Como parte deste projeto, desde 2008 são desenvolvidas diversas atividadesvoltadas ao fortalecimento da rede de proteção e ao (re) conhecimento mútuodas instituições e atores dela componentes. Os objetivos destas atividades têmsido a inserção das escolas nesta rede e a formação continuada de profissionaisda educação e da rede de proteção integral à criança e ao adolescente. Com in-tervenções já executadas nos municípios mineiros de Betim, Contagem, NovaLima, Itaobim, Teófilo Otoni, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Ponto dos Volantes,Sete Lagoas, Itambacuri e Padre Paraíso, tem-se investido na promoção do diá-logo permanente e na troca de experiências entre os diversos atores, priorizandosempre a interdisciplinaridade e a troca entre distintos campos do conhecimento,com o intuito de valorizar não somente os saberes acadêmicos e formais, mastambém as experiências e saberes locais.
É nesse contexto que se insere o presente livro. Resultante das diversas discus-
Apresentação

sões e ações do “Fortalecendo as Escolas”, aborda, sob vários enfoques e pers-pectivas, o importante papel que a rede de proteção tem no enfrentamento às di-versas formas de violência contra crianças e adolescentes. Seu principal objetivoé proporcionar, aos profissionais, apoio teórico que possibilite o aprofundamentoem temáticas relevantes para o enfrentamento à violência contra crianças e ado-lescentes nos distintos ambientes.
Por meio desta publicação, espera-se exercer o papel fundamental da universida-de que, com seus projetos de extensão, vem trazendo importantes contribuiçõespara a efetivação dos Direitos Humanos no país. Além de atuar como propagado-ra de conhecimentos e debates teóricos, esta tem se ocupado, cada vez mais, daproblematização de situações recorrentes e do fortalecimento das comunidades egrupos, tornando-os sujeitos e protagonistas de sua história, não meros recepto-res de intervenções pontuais.
Seguindo os mesmos princípios propalados em seus demais projetos, por meiodos artigos constantes deste livro, o Programa Pólos espera contribuir com atransposição do hiato ainda existente entre o saber acadêmico e as realidadescoletivas, exercendo, assim, sua função social no esteio da construção de um paísmais igualitário.
Marisa Alves LacerdaCoordenadora executiva do Projeto “Fortalecendo as escolas
na rede de proteção à criança e ao adolescente”
Fernanda de Lazari Cardoso MundimSubcoordenadora executiva do Projeto “Fortalecendo as escolas
na rede de proteção à criança e ao adolescente”
Apresentação

11
Um grande problema que surge na abordagem da violência contra e entre crian-ças e adolescentes é o fato de a discussão, ao ocorrer dentro de determinadosparadigmas modernos, não conseguir visualizar a violência objetiva, existentena concepção do próprio sistema no qual a escola se insere.A escola, como insti-tuição moderna, na sua essência, gera a violência, pela sua própria concepção deestabelecimento uniformizador, formador de cidadãos de um Estado nacional,submetidos a um ordenamento jurídico também uniformizador.
O filósofo esloveno Slavoj Zizek vê três formas de violência¹. Uma de violênciasubjetiva e duas formas objetivas. A subjetiva é aquela facilmente visível, prati-cada por um agente que podemos identificar no instante em que é cometida.Esta violência geralmente é vista como a quebra de um fundo zero de violência.Tudo está sem violência até que o ato violento é praticado. Esta forma subjetiva,entretanto, deve ser compreendida juntamente com as duas outras formas obje-tivas: a) a violência simbólica presente nos discursos, palavras e representaçõesdiárias, pois a utilização da linguagem, as atribuições de sentidos contêm violên-cias, hegemonias, traços visíveis de opressão e exclusão; b) a violência sistêmi-ca representada pelo jogo de relações sociais, econômicas, políticas, religiosas.Em outras palavras, se a violência subjetiva é uma quebra de uma aparente nor-malidade ausente de violência, a violência objetiva sistêmica é esta normalidadeque atua permanentemente.
A alteração desta normalidade (violenta) pode gerar quebras ou violências sub-jetivas em escala crescente. Vamos procurar entender esses conceitos a partirdos fatos ocorridos no Brasil nos últimos anos. Durante séculos, vivemos umaordem social e econômica de exclusão, racismo e opressão. Essa era a norma-lidade objetivamente violenta. Negros e pardos pobres trabalham em posiçãosubalterna, permitindo a afirmação do narcisismo de uma classe média e alta quese satisfaz diante da superioridade que julgam ter perante esses servos: empre-gadas e empregados domésticos, cozinheiras (os), jardineiros (as), lixeiros (as)etc. Muitos desses narcisos² exercem extrema bondade caridosa em relação aosoutros inferiores, afirmando, ainda mais, sua superioridade. Acontece que, nosúltimos anos, milhões de pessoas se movimentaram social e economicamente.Um número muito grande de pessoas, que eram completamente excluídas domercado de consumo, começaram a consumir._______________________________________________________________1.ZIZEK, Slavoj. Seis reflexiones sobre la violência. Seis reflexiones marginales. Editora Paidós, Buenos Aires;Barcelona; México, 2009. 287 p.2.Trabalhamos o narcisismo como um dos mecanismos de construção da identidade nacional na era moderna. O sen-timento de narciso pode ser resumido, neste sentido, como a sensação de superioridade, uma boa sensação que surgeem se afirmar melhor em relação a outro grupo ou pessoa. O narciso, assim, se afirma e constrói sua identidade a partirdo sentimento de superioridade em relação ao outro.
Prefácio

Em poucos anos, pessoas que nunca viajaram de avião, não freqüentavam oshopping, não estudavam em universidades públicas ou privadas, não comiamem restaurantes, não dirigiam automóveis passaram a freqüentar esses lugares,a dividir espaços com aquela classe média e alta, quase sempre branca, quetinha tais lugares como que para seu uso exclusivo.
Aquela que deveria ser a empregada doméstica agora estava sentada na pol-trona ao lado no avião. O outro passou a invadir espaços que não eram dele. O“nós” foi obrigado a conviver com o “eles”. Isso é insuportável para alguns. Aafirmação decorrente do narcisismo, a afirmação em relação ao outro inferior,rebaixado, é comprometida. Isso é sentido não só como um golpe à posiçãoocupada, mas também como um golpe contra o sentimento de identidade declasse superior.
Essa realidade gerou ódios e atos de violência subjetiva que proliferam. Cres-cem as agressões contra os pobres, pardos e negros e outros grupos considera-dos “eles” pelo “nós”, aqueles que excluem o que julgam diferente (a violênciacontra a mulher aumentou depois da eleição de uma presidenta para o Brasil).
É necessário entender esses mecanismos e compreender o funcionamento des-se sistema violento, para desmontá-lo. Não haverá menos violência subjetiva,quebras de normalidades aparentemente não violentas, enquanto o sistema ob-jetivo e seu aparato simbólico de opressão não forem desmontados.
Em outras palavras, podem “invadir” quantas favelas quiserem que a paz só seráobtida com o desmonte da violência objetiva, sistêmica e simbólica. A “guer-ra contra o tráfico”, transmitida pelas TV’s, rádios e noticiadas por revistas ejornais, é o reforço da violência simbólica. Pessoas raivosas destilam seu ódio,defendendo a morte dos “bandidos” (eles) para acabar com a violência.
Discutir a violência entre e contra as crianças e adolescentes passa pela ne-cessidade de compreensão da violência objetiva. É necessário entender de quemodo a uniformização de comportamentos, como parte do projeto moderno depoder estatal, vai ser responsável por grande parte da justificativa das violências cometidas pelo próprio Estado e pelo sistema jurídico, bem como de quemaneira está presente na origem dos conflitos que ocorrem nas relações sociaisdiárias.
É necessário entender como a escola, ao uniformizar e disciplinar, cria umdispositivo violento pronto para explodir quando necessário ao poder estrutu-rado dentro do Estado e economia modernos. A escola moderna (quando digomoderno me refiro a uma realidade que começa a ser construída há 500 anos)que uniformiza, que nega a diferença e que pune o diferente se insere dentro dosistema objetivamente violento.
Prefácio

13
Para romper com a uniformização geradora de violência é necessária, também,uma nova escola, que não mais implante o dispositivo de “narciso” (o dispositivomoderno do “nós versus eles”) dentro de cada criança. É necessária uma escolaque não mais uniformize (e isso pode começar acabando com o terrível uniformeescolar), mas que, ao contrário, valorize a diferença. Que não fale apenas dorespeito ao diferente, mantendo o diferente como um terceiro, excluído, mas res-peitado. Uma escola que, principalmente, demonstre como é bom ser diferentee que, como todos somos diferentes, precisamos cultivar nossa singularidade.Como é boa e rica a diversidade e como crescemos com ela!
A transformação do ambiente escolar pode ser um primeiro passo para a trans-formação de outros ambientes em que se reproduzem os males modernos dauniformização e da competição. A escola é uma instituição importante que, as-sim como serve para produzir uniformização, poderá ser instrumento de rupturacom a padronização violenta, presente em todo o aparato do Estado moderno: asforças armadas, o sistema legal, a burocracia estatal e privada, a cultura de massae muitas outras instituições e práticas que permitem a expansão do consumo demassa, fundamental para a globalização capitalista, esfera final de uniformizaçãode valores e, logo, de comportamentos.
O reconhecimento da diversidade que convive em situação de igualdade e respei-to deve superar a hierarquização de grupos e pessoas que se colocam em posiçãode superioridade cultural, social ou econômica. O reconhecimento de uma diver-sidade que se complementa deve superar qualquer outra forma de hierarquizaçãoque permita tratar o diferente como inferior, como excluído, mesmo que “respei-tado”. A caridade social e cultural é tão violenta quanto a caridade econômica.
Daí acabar com a lógica da competição na escola (e em outros espaços sociais)é também uma tarefa urgente. Se a uniformização gera violência ao impedir oreconhecimento do outro diferente como igual, a competição hierarquiza e excluiradicalmente o diferente e o derrotado. A uniformização, juntamente com a com-petição, é o mais completo desastre. E o desastre está em nossa volta.
Os artigos deste livro procuram entender esse fenômeno. Partindo de uma lo-calização histórica do problema moderno (a uniformização e a hegemonia cultu-ral), passam pela discussão da violência contra e entre crianças e adolescentes.
O primeiro artigo, “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios no enfrentamen-to à violência contra crianças e adolescentes”, de Fernanda de Lazari CardosoMundim e Marisa Alves Lacerda, procura problematizar as ações desenvolvidaspelo projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adoles-cente”, mostrando os desafios, dificuldades e aspectos facilitadores no enfrenta-mento à violência contra crianças e adolescentes. O artigo analisa o desenvol-vimento do projeto, as dificuldades iniciais no ano de 2008 e sua superação nos
Prefácio

anos de 2009 e 2010.
O artigo seguinte, da professora Miracy Barbosa de Sousa Gustin, aponta a importânciadas redes sociais mistas para a efetividade das políticas públicas de enfrentamento daviolência, desenvolvendo ainda mais a proposição do artigo anterior, no sentido de apon-tar as dificuldades e as formas de superação destas.
O terceiro artigo, de minha autoria e da professora Tatiana Ribeiro de Souza, procuraestabelecer as bases históricas e teóricas que sustentam as práticas de exclusão, apresen-tadas como obstáculos a serem superados. Como dito anteriormente, de nada adianta aconstrução de políticas públicas e práticas de enfrentamento da violência se não enten-dermos as engrenagens do sistema moderno que, muitas vezes, atuam permanentementecontra estas políticas. O desmonte das estruturas violentas permanentes e de suas estru-turas simbólicas é fundamental para o sucesso das políticas públicas de superação daviolência.
Seguindo a linha de compreensão de práticas e políticas capazes de transformar as estru-turas sociais que sustentam a violência, Geovania Lúcia dos Santos, Luiz Carlos Felizar-do Junior e Walter Ernesto Ude Marques analisam as redes sociais e sua relação com asescolas na construção de mecanismos de proteção. Os autores entendem que a transfor-mação da sociedade se dará a partir de um maior comprometimento com os processoseducativos das crianças e dos adolescentes.
Maria Amélia Giovanetti discute o importante papel do educador na proteção da criançae do adolescente, concebendo a educação sob uma ótica mais ampla, envolvendo a edu-cação escolar e não escolar, trazendo uma importante reflexão na linha de compreensãodo papel da escola inserida em uma sociedade complexa e suas ambigüidades e contra-dições.
Seguindo a linha do livro, Eliane Castro Vilassanti nos mostra as diferentes manifesta-ções das violências no ambiente escolar, retomando questões contextuais históricas quesão fundamentais para a compreensão do problema. Eliane nos mostra mais da escolaenquanto instituição moderna, apontando as interfaces entre as violências na escola e aviolência da escola, anteriormente abordada.
O artigo seguinte é de Juliana Batista Diniz Valério e enfrenta a questão da diversida-de e as violências invisíveis, também já estudadas no livro, em um enfoque teórico ehistórico. No artigo, a autora aborda a violência decorrente da negação da diversidade,especialmente no que diz respeito ao gênero, ao sexo e à etnia.
O tema enfrentado por Marcio Simeone Henriques reflete os desafios no campo da comu-nicação. Para o professor, o desafio de garantir direitos fundamentais para todos requerum processo de mobilização social intenso, no qual a sociedade civil tem um papel de-terminante ao lado do Estado.

15
Finalmente, José Raimundo da Silva Lippi nos oferece importantes reflexõesacerca da alienação parental, grave fenômeno moderno. No artigo, o professortraz um histórico da questão, ressaltando a importância fundamental da interlo-cução entre Saúde e Justiça.
Entender o fenômeno da violência na sociedade brasileira, em casa, na escolae em diversos outros ambientes requer uma visão sistêmica. Dessa forma, osartigos presentes neste livro devem ser compreendidos como reflexões complementares que nos ajudarão a construir o enorme quebra-cabeça que permitiráentender e superar as mais diversas formas de violências modernas.
José Luiz Quadros de Magalhães


Artigos


Fortalecendo as Escolas: avanços edesafios no enfrentamento à violência
contra crianças e adolescentes
Fernanda de Lazari Cardoso Mundim
Marisa Alves Lacerda
Fernanda de Lazari Cardoso MundimEspecialista em Gestão de Projetos Sociais em Áreas Urbanas pela UFMG.Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pela UNA.
Subcoordenadora Executiva do Projeto “Fortalecendo as Escolas” doPrograma Pólos de Cidadania (UFMG).
Marisa Alves LacerdaSocióloga, doutora em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG. Coordenadora
Executiva do Projeto “Fortalecendo as Escolas” do Programa Pólos deCidadania (UFMG).

20
Entre Redes
Introdução
Art. 227 (...) é dever da família, da so-ciedade e do Estado assegurar à criança eao adolescente, com absoluta prioridade,o direito à vida, à saúde, à alimentação, àeducação, ao lazer, à profissionalização, àcultura, à dignidade, ao respeito, à liberda-de e à convivência familiar e comunitária,além de colocá-los a salvo de toda formade negligência, discriminação, exploração,violência, crueldade e opressão (BRASIL,1988).
O presente artigo pretende problematizar as ações desenvolvi-das pelo projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção àscrianças e aos adolescentes”, do Programa Pólos de Cidadaniada Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Ge-rais (UFMG), ao longo de 2008, 2009 e 2010. Por meio dessaproblematização, buscase destacar os principais dificultadorese facilitadores das ações de enfrentamento à violência contracrianças e adolescentes, vivenciados pelos municípios parceirose relatados pelos participantes das ações do projeto em cada umdeles. Abordam-se, ainda, os obstáculos enfrentados pela equi-pe na execução do referido projeto, sobretudo, em seu primeiroano de desenvolvimento – 2008, bem como as soluções que fo-ram intentadas para aperfeiçoar as ações ao longo dos anos de2009 e 2010 e as dificuldades que persistiram, a despeito dasestratégias adotadas.
Para isso, são utilizadas três fontes de informação. A primeiradelas consiste dos dados gerados pela pesquisa avaliativa, decunho qualitativo, realizada em 2009, junto aos cursistas dosmunicípios de Betim, Contagem, Teófilo Otoni e Itaobim, cujaformação ocorreu em 2008. Estes dados foram coletados pormeio de questionários semi-estruturados e auto-aplicados, osquais foram entregues aos respondentes diretamente pelas Se-cretarias Municipais de Educação. A segunda fonte de infor-mações são os formulários de avaliação do curso, distribuídosaos cursistas em cada um dos municípios e que abordaram in-formações sobre sua avaliação acerca do tema, do palestrante eda didática empregada. Foram também levantadas, nestes for-mulários, as percepções acerca da relevância dos temas paraa prática cotidiana e sua aplicabilidade, assim como sugestõespara futuras intervenções no município. Estes dados abarcam,

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
21
especificamente, os municípios de Betim, Nova Lima, Igara-pé, Sabará, Santa Luzia, Itambacuri, Padre Paraíso e Ponto dosVolantes, municípios onde ocorreram formações em 2010. Aterceira fonte refere-se ao substrato das discussões e conver-sas ocorridas antes, durante e após cada palestra que compôs asformações junto aos municípios parceiros. Nestas, foi possívelperceber não somente os pontos deficitários e os pontos fortes,mas também as mudanças na perspectiva, interesse e envolvi-mento dos cursistas com a temática, com a rede de proteção nomunicípio e com o grupo participante.
Por meio das informações e discussões trazidas neste artigo,esperase não apenas sintetizar as ações, dificuldades e saídasencontradas ao longo da execução do “Fortalecendo as esco-las”, como também, estimular novas iniciativas voltadas ao en-frentamento para com a violência contra crianças e adolescentese à promoção de seus direitos. A partir das narrativas trazidas,esperase que o leitor identifique similitudes e diferenças, emrelação ao seu contexto, que o ajudem a antever dificuldadespara a atuação e saídas a estas.
Para atingir os objetivos propostos, no subitem seguinte faz-seuma breve contextualização dos direitos das crianças e dos ado-lescentes, destacando os entraves e os avanços intentados parasua efetivação, com ênfase na adoção da perspectiva das redessociais enquanto alternativa à superação dos obstáculos. A issose segue a descrição e discussão dos avanços ocorridos para2009 e 2010, frutos da tentativa permanente da equipe de supe-rar as lacunas identificadas no primeiro ano do projeto. A partirdo entrecruzamento destas informações se propõem, ao final,novas ações para os anos seguintes, em conformidade com aproposta metodológica do Programa Pólos de Cidadania.
2. As faces da violência e o papel do ECA
Além de constituir fenômeno complexo e multifacetado, a vio-lência contra crianças e adolescentes se manifesta em diferentesarenas da vida – doméstica, comunitária, pública, institucional– assumindo diferentes formas – física, psíquica, simbólica,dentre outras. Tal fato torna latente a necessidade de que seuenfrentamento se dê, também, por meio de esforços, ações epolíticas que abarquem os diferentes âmbitos e instâncias davida social.

22
Entre Redes
Durante boa parte da história do país, o abandono, a invisi-bilidade ou, por outro lado, a concepção distorcida acerca dainfância e da adolescência por parte do Estado, da comunida-de e das instituições em geral foi uma constante (MARCÍLIO,2006). A clara distinção entre ‘eles’ – os ‘menores’, provenien-tes das classes populares que necessitavam da tutela e controlepor parte do Estado – e ‘nós’ – as crianças e adolescentes declasses sociais mais abastadas, portadoras, portanto, de direitosfundamentais – marcou as iniciativas de diferentes instituiçõessociais, como a igreja, a polícia e o Estado.
Revertendo essa trajetória, a promulgação do Estatuto da Crian-ça e do Adolescente (ECA), na década de 90, representou umarevolução nos paradigmas jurídicos relativos à infância e à ado-lescência. Embora já existissem outras declarações e tratadosinternacionais voltados à promoção dos direitos humanos dessegrupo, foi a partir do ECAque o estabelecido pelo artigo 227 daConstituição Federal do Brasil e por muitas dessas declaraçõese tratados pôde ser efetivado, passando as crianças e adoles-centes a serem considerados pessoas em situação peculiar dedesenvolvimento, sujeitos portadores de direitos sob responsa-bilidade de todos e de cada um, em particular (BRASIL, 1988;BRASIL, 2010).
A despeito de sua relevância e das mudanças de paradigma porele possibilitadas, desde o início o ECA vem sendo objeto deampla polêmica. Conforme destacaAdorno (2008), para muitos,ele representa um instrumento eficaz de proteção e de controlesocial, extrapolando, assim, a antiga separação entre sujeitosde direitos e ‘menores’. Por outro lado, este autor destaca queuma parte relevante da população segue atribuindo ao ECA aresponsabilidade pelos índices crescentes de criminalidade e deviolência envolvendo crianças e adolescentes como autores.
Ao atribuir tal crescimento, sobretudo, ao fato de que o Estatutonão veio garantir direitos, mas sim impedir que haja puniçãopara os “menores” delinqüentes ou, quando muito, tornar pordemais leves as medidas socioeducativas aplicadas, o segundogrupo destacado ignora os reais componentes geradores dessaviolência e criminalidade, que estão indissociavelmente relacio-nados à grande desigualdade socioeconômica de nosso país e àscrescentes e rápidas mudanças sociais ocorridas nas últimas dé-cadas, às quais tem requerido, das instituições, mudanças mui-tas vezes mais rápidas do que suportam suas estruturas. Para

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
23
esse grupo, o ECA constitui, tão somente, um instrumento legalineficaz e, acima de tudo, inaplicável à sociedade brasileira.
Nesse contexto de violações e dificuldades de adaptação porparte das instituições, muitas vezes a violência tem se iniciadoe propagado dentro da própria casa, apontando, assim, para adificuldade de muitas famílias em dirimir seus conflitos e edu-car, de forma pacífica, suas crianças e adolescentes. Corrobo-rando tal fato, conforme afirma Barsted (1998), embora commuitas funções positivas, a família tem sido, também, o espaçode hierarquia e subordinação. Como conseqüência, a violênciaintrafamiliar tem gerado sofrimento para aqueles que a ela estãosubmetidos, em especial para as mulheres e crianças.
Extrapolando o contexto doméstico e/ou intrafamiliar, há quese destacar a importância cada vez maior que a integração entrefamília, instituições e comunidade tem assumido, tal qual ex-posto na Constituição Federal de 1988 e promulgado pelo ECA.Isso vem reforçar a necessidade de ações intersetoriais, inter-disciplinares e integradas, envolvendo os diferentes grupos eorganizações, ações essas que devem ser vistas como formas decontribuir com o fortalecimento da rede de proteção às criançase adolescentes.
É neste ínterim, perpassado pelo embate entre diferentes pers-pectivas, que novos atores e instituições são chamadas a con-tribuir com o processo de efetivação dos direitos humanos decrianças e adolescentes, despontando como focais no enfren-tamento às diversas formas violência sofridas por esse grupo.Instituições que antes eram vistas a parte desse processo sãoexortadas, de forma crescente, a integrar a rede de proteção,concebida como estratégia primordial à sua proteção integral.
3. Fortalecendo as escolas na rede de proteção: principaisresultados
Dentre os diversos atores postos em foco, merecem destaqueas escolas que são, cada vez mais, encaradas como agentes po-tenciais de mudança nos diversos âmbitos da vida individual ecoletiva das pessoas e de suas famílias. O fortalecimento dasescolas, que constitui etapa imprescindível desse processo demudança, passa, dentre outras coisas, pela formação permanen-te dos diferentes profissionais que nela atuam, com vistas a po-

24
Entre Redes
tencializar sua ação transformadora sobre suas próprias vidas e,por conseqüência, sobre as vidas de seus educandos, por meioda reflexão acerca de sua função no processo educativo e dopapel de sua atuação para a mudança mais ampla da situaçãodas crianças e adolescentes.
O que faz da escola uma instituição focal na rede de proteçãoé o fato de que ela constitui, ainda, um espaço privilegiado desocialização, de promoção do encontro, do diálogo e do apren-dizado da cidadania, passível de garantir, por conseguinte, a in-clusão social, a constituição de indivíduos autônomos, críticos,participativos e portadores de direitos e deveres. Ela constitui,por isso, espaço essencial à produção, reprodução e transforma-ção de visões do mundo e ao aprendizado de papéis e conceitossociais (GUARESCCHI, 1993).
Por refletir as contradições e características da sociedade naqual está inserida, a escola pode constituir tanto um local deproteção, mudança e (re) significação de práticas e de condutas,quanto um espaço de (re) produção dos diversos tipos de vio-lência que perpassam o cotidiano da comunidade que a rodeia.Partindo desse princípio é que o Projeto “Fortalecendo as esco-las na rede de proteção à criança e ao adolescente” tem buscado,desde o início, fortalecer os profissionais da rede de proteção àcriança e ao adolescente e, mais do que isso, estimular os pro-fissionais e instituições da educação a comporem esta rede. Fi-nanciado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetiza-ção e Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC),apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e pelas Prefeituras dosmunicípios parceiros, este projeto vem sendo executado, desde2008, pelo Programa Pólos de Cidadania, programa de extensãoe pesquisa da Faculdade de Direito da UFMG que atua desde1995 na promoção dos direitos humanos e cidadania de gruposem situação de exclusão e vulnerabilidade social. O “Fortale-cendo as escolas” integra esse conjunto de ações, porém, como foco voltado para a infância e a adolescência e para o enfren-tamento às diversas formas de violência vivenciadas por essecontingente .
Com atuação em doze municípios mineiros, quais sejam Betim,Contagem, Nova Lima, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Sete La-goas, Itambacuri, Teófilo Otoni, Itaobim, Padre Paraíso e Pontodos Volantes, o “Fortalecendo as escolas” parte de uma visãoampla acerca das instituições e dos profissionais que compõem

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
25
a rede de proteção. Destaca, dentre estes profissionais, os daeducação, da saúde, da assistência social, dos conselhos tutela-res e de promoção de direitos, da segurança pública, do esporte,lazer e cultura, das organizações governamentais e não gover-namentais e das associações, aos quais se soma, ademais, a so-ciedade civil organizada, a família e a comunidade em geral.
A necessidade de fortalecimento das escolas e dos profissionaisnelas atuantes, como estratégia para viabilizar que estes assu-mam seu papel preponderante no enfrentamento à violênciacontra crianças e adolescentes, justifica a execução do projeto“Fortalecendo as escolas”, cujas ações são planejadas e execu-tadas com vistas a promover o maior envolvimento das escolas,especialmente as municipais de educação básica, com a prote-ção integral aos direitos da criança e do adolescente, fortalecen-do seus laços com a rede de enfrentamento e prevenção.
Para Ude (2002, p. 127), “trabalhar dentro de uma perspectivade redes sociais implica na tentativa de reconstruir a maneirade enxergar e compreender o mundo em que vivemos”. Pressu-põe, igualmente, uma ruptura com o pensamento fragmentadoe com sua prática setorizada, requerendo de cada ator e institui-ção o esforço para que sejam religados os pontos anteriormentefragmentados e, assim, se tenha um novo olhar sobre o mundo.
Os princípios fundamentais da perspectiva do trabalho em redesse fazem presentes em todas as ações do “Fortalecendo as Es-colas”, posto que se mantém o foco sobre a necessidade de in-tegrar as escolas e profissionais da educação à rede e, para alémdisso, sobre a premência de se manter um olhar multifacetado,capaz de perceber as nuances e sutilezas que a violência assu-me em cada contexto. No projeto, parte-se do princípio de que,sendo a violência contra crianças e adolescentes um fenômenomulticausal, multifacetado e historicamente determinado, seuenfrentamento exige, necessariamente, estratégias dinâmicas,intersetoriais e interdisciplinares, que considerem, além disso, adiversidade geográfica, humana, social e econômica concernen-tes a cada localidade.
No “Fortalecendo as escolas”, tal qual ocorre nos demais pro-jetos do Pólos, o empoderamento dos indivíduos envolvidos noprocesso – aí incluídos tanto os membros da equipe executoraquanto os profissionais da rede de proteção e indivíduos daprópria comunidade – é assumido como passo essencial à su-

26
Entre Redes
peração das desigualdades sociais. Assume-se, ainda, que talempoderamento constitui pré-requisito para que os municípiospassem de receptores passivos de auxílio e intervenções públi-cas, inclusive por parte da universidade, para agentes ativos demudanças, corresponsáveis pelas transformações sociais.
A imprescindibilidade de tal passo está pautada em dois moti-vos primordiais que, segundo Gustin (2004), fizeram com quea efetividade dos Direitos Humanos se tornasse indispensávela partir da segunda metade do século XX: o primeiro deles é aexigência de se corresponder a uma heterogeneidade das socie-dades e a urgência de se responder às necessidades humanas,que se tornaram multifacetadas; o segundo motivo é a indispen-sabilidade da limitação e controle do poder político-estatal edo empoderamento dos grupamentos sociais mais fragilizados.Isso significa dizer que, cada vez mais, as necessidades indi-viduais e grupais solicitam a garantia de direitos que possamresponder positivamente – e no nível micro - à superação dasdesigualdades sociais. No médio e longo prazo, a sustentabili-dade de tal superação requer, necessariamente, que cada loca-lidade desenvolva suas habilidades e consiga assumir a frentenas ações executadas.
Na prática, tudo isso não se dá de forma isenta de dificulda-des e percalços, os quais se manifestam de várias maneiras emcada contexto, podendo haver, em alguns casos, questões quetranscendem o nível local e apontam, aparentemente, para di-ficuldades concernentes a determinados campos de atuação ouinstituições. Corroborando essa situação em seu primeiro anode execução – no caso, 2008 – o “Fortalecendo as escolas”identificou alguns pontos nevrálgicos, queixas e demandas queperpassavam os grupos de formandos dos cinco municípios par-ticipantes daquela etapa – Betim, Contagem, Nova Lima, Itao-bim e Teófilo Otoni.
Um deles se referia à dificuldade de acesso e obtenção de mate-rial paradidático voltado não somente para a formação continu-ada dos profissionais, mas também para a abordagem da temá-tica da violência e dos direitos junto às crianças e adolescentese aos seus familiares. Outro dificultador apontado nos cincomunicípios, que funcionava, quase sempre, como desmotivadorpara os indivíduos e instituições – segundo os cursistas – se re-feria à fugacidade da presença das universidades, limitada, viade regra, ao tempo de execução de seus projetos, face à dificul-

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
27
dade de muitos municípios em manter mobilizados os grupos edar continuidade às ações iniciadas pela universidade, após otérmino de suas intervenções.
Conforme argumentaram muitos dos cursistas, além de ma-teriais – inclusive de cópias do ECA nas instituições diversas- quase sempre faltavam diretrizes para nortear os passos se-guintes e apoio por parte do poder público municipal. Tudo issoacabava, recorrentemente, por desmobilizar os grupos envolvi-dos. Ponto que merece ser ressaltado é que essas mesmas ques-tões emergiram ao longo das formações realizadas em 2009 e2010, nos municípios de Sabará, Santa Luzia, Igarapé, Betim,Nova Lima, Itambacuri, Ponto dos Volantes e Padre Paraíso,sugerindo serem aquelas questões estruturais que perpassam di-ferentes contextos e realidades.
Buscando fazer frente aos dificultadores, que foram identifi-cados antes mesmo da conclusão das formações, ao longo de2009 e 2010 um dos objetivos específicos perseguidos pelo“Fortalecendo as escolas” foi, justamente, garantir a todos osmunicípios parceiros a efetividade das ações de enfrentamentoiniciadas com apoio do projeto e da universidade. Foram bus-cadas formas para garantir sua continuidade, de modo direcio-nado, autônomo e independente, mesmo após a finalização daparceria firmada.
Além de estar alicerçado no que promulgam o ECA e a Cons-tituição Federal de 1988, o conteúdo desses quatro materiaisfoi elaborado com base nos pontos fortes e deficitários identi-ficados ao longo das formações, buscando, assim, contemplaros diversos questionamentos, histórias, vivências, dificuldadese expectativas trazidas pelos formandos dos municípios envol-vidos, desde 2008.
De maneira complementar, ao final das formações realizadasem 2009 e em 2010, foram elaborados dois tipos de planos deação: um deles voltado para o enfrentamento às diversas for-mas de violência contra crianças e adolescentes dentro das ins-tituições às quais pertenciam os cursistas e outro, mais amplo egeral, voltado para a implementação de ações no âmbito muni-cipal, em que se previa a realização de atividades diversas, me-diante o envolvimento, implicação e participação dos distintoscomponentes da rede de proteção. Esses dois instrumentos deplanejamento compõem o conjunto de reformulações intentadas

28
Entre Redes
a partir da identificação e avaliação dos pontos deficitários daformação ocorrida em 2008. Sua construção gerou um momen-to propício para a aplicação, na prática, do conteúdo trabalhadoao longo das formações. Possibilitou, ainda, que os cursistasrefletissem acerca da situação de suas instituições e do municí-pio no qual atuavam, à luz dos conteúdos abordados durante osencontros.
Outros pontos nevrálgicos identificados durante as formaçõesocorridas em 2008 foram a ausência de espaços para discussão,diálogo e planejamento coletivo de ações voltadas para o enfren-tamento da violência contra crianças e adolescentes, a desarti-culação entre as distintas instituições componentes da rede deproteção e, mais especificamente, a ausência das escolas na redede proteção. A esse respeito, muitos cursistas destacaram que aformação promovida pelo “Fortalecendo as escolas” constituiua primeira experiência, no município, de discussão coletiva einterinstitucional sobre questões relativas ao enfrentamento àviolência contra crianças e adolescentes. No caso específico dosprofissionais da educação, muitos relataram nunca ter havidoiniciativa alguma voltada para a inserção dessa temática juntoàs escolas ou para a aproximação entre estas e os demais com-ponentes da rede de proteção à criança e ao adolescente.
Por esse motivo, podem ser considerados pontos positivos daexecução do “Fortalecendo as escolas” tanto os espaços de di-álogo, reflexão e troca promovidos ao longo da sua execuçãoquanto a aproximação entre escolas e rede de proteção, pro-porcionada por estes espaços. A ruptura com a postura isola-cionista, observada no caso de muitas das escolas envolvidas,pareceu, de fato, ter sido viabilizada pela formação.Um terceiro conjunto de fatores negativos, percebido no iníciodas formações, refere-se aos constantes discursos defensivos –“violência contra crianças e adolescentes não acontece aqui”–, banalizadores – “violência tem em todo lugar” -, conformis-tas - “não podemos fazer nada sobre isso” -, vitimizantes – “edas violências contra professores, das que as crianças e ado-lescentes cometem, ninguém fala?” – e acusadores – “a culpaé da família, que não cuida”, “o problema é a escola que nãoeduca” ou “o problema é o governo que não faz nada” e, ain-da, “os conselhos tutelares são os responsáveis, pois não fazemseu papel direito” – assumidos por muitos cursistas. Narrativassemelhantes fizeramse presentes especialmente no começo dasformações, quando dos primeiros contatos dos grupos com a te-

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
29
mática e com a proposta do “Fortalecendo as escolas”. Tambémo incômodo, sobretudo por parte dos professores, com o fato deo foco da formação recair sobre as escolas, mostrou-se latente,sugerindo que tal foco foi associado, por muitos, ao desejo deculpabilizar e trazer mais responsabilidades para as escolas, enão o contrário, ou seja, ao desejo de trazer as escolas para den-tro da rede de proteção, possibilitando, assim, o reconhecimen-to e delegação de tarefas para as demais instituições, conformesua pertinência.
Diante dessa situação inicial, tanto em 2008 quanto ao longo de2009 e 2010, desde os primeiros encontros até o momento deencerramento das formações, os temas escolhidos e a concate-nação e ordenamento entre eles, bem como o direcionamentodado às discussões, foram sempre planejados com o objetivode desconstruir os discursos e percepções iniciais. Buscou-se,durante todo o tempo, romper com os efeitos perniciosos e es-tagnantes exercidos por estes discursos e percepções sobre amobilização, o enfrentamento às violências infanto-juvenis e aco-responsabilização dos atores e instituições.
Como um dos importantes resultados das formações, tanto napesquisa avaliativa feita junto aos cursistas de 2008, quanto nasavaliações de curso realizadas pelos cursistas em 2009 e em2010, os respondentes destacaram ter vivenciado uma mudançade perspectiva quanto ao ECA, quanto aos temas e quanto aopapel de cada ator e instituição dentro desse processo. Muitosdeles destacaram que, a partir dos debates ocorridos ao longodas formações e do confronto com diversas ‘verdades’, que ig-noravam anteriormente, passaram a ver a violência como algobem mais amplo – e próximo - do que se imaginava a princípio.Os rumos tomados pelos debates possibilitaram à equipe perce-ber, de fato, o abandono de certos ‘pré-conceitos’ e pontos devista iniciais, em prol da tomada de posturas mais co-responsá-veis e menos culpabilizantes.
Atrelado ao dificultador apontado anteriormente, outro pontoque merece ser destacado é o desconhecimento ou confusão quemuitos cursistas inicialmente faziam em relação aos limites daatuação de cada ator dentro da rede de proteção. Em muitas si-tuações, essa falta de clareza acerca dos papéis distintos de cadaator acabava por gerar sobrecarga de ações para alguns atores einstituições e, também, cobranças indevidas em relação ao tipode atuação que deles se esperava.

30
Entre Redes
Para eliminar tal situação, um dos focos da formação foi, jus-tamente, apresentar as distintas instituições componentes darede de proteção à criança e ao adolescente, destacando suasatribuições e os limites da sua atuação. Dessa forma, o espaçodas capacitações acabou por se constituir em um espaço para aidentificação e o (re) conhecimento dos parceiros existentes, deseus papéis e dos limites da atuação de cada um deles, limitesestes impostos, inclusive, pelos entraves econômicos, sociaise políticos do próprio município – como a falta de recursos,de pessoal e de capacitação para a execução do trabalho, porexemplo. Serviu, assim, para aproximar e fortalecer os elosentre as instituições participantes e as escolas, reduzindo, porconseguinte, a sensação de isolamento e excesso de responsabi-lidades, tão propalada pelos profissionais presentes.
A delimitação do papel de cada instituição e ator no escopo darede de proteção serviu também a outro propósito: ela ajudoua minimizar – quando não, a eliminar - a tendência à procurapor ‘culpados’ pela violência e pelo restrito funcionamento darede de proteção, em que as famílias, as escolas e os conselhostutelares assumiam, quase sempre, o papel de grandes respon-sáveis pelas situações desfavoráveis observadas. Por meio nãosomente da apresentação dos papeis de cada ator, mas tambémda desconstrução e reconstrução do conceito de violências, amaioria dos cursistas pôde perceber a complexidade de se traba-lhar com o enfrentamento a esse triste fenômeno, que englobaum enfoque multifacetado e relacional.
Esse olhar multifacetado e relacional, por seu curso, contri-buiu para o alargamento da percepção dos cursistas acerca daestreita relação existente entre as manifestações da violênciainfanto-juvenil e o contexto histórico, social, econômico, po-lítico, cultural, etc. no qual elas ocorrem. Constituiu momentode grande relevância para a equipe e, ademais, para o restantedo grupo, ouvir relatos de cursistas que, tendo assistindo às dis-cussões acerca do ECA, dos conceitos e tipos de violências e dopapel de cada instituição e ator, conseguiram perceber, comoque por meio de um insight, manifestações de violência sutise, por vezes, invisíveis, que foram vivenciadas, protagonizadasou impingidas por eles nos diferentes espaços de convivência emomentos da vida.
Especialmente no caso dos profissionais da educação, ao longodas formações, muitos cursistas manifestaram grande angústia

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
31
e preocupação relativas ao papel da escola e dos docentes naproteção integral à criança e ao adolescente. Perpassando as fa-las da maioria dos cursistas advindos da educação, em todos osmunicípios, foi perceptível, também, a sensação de que a escolaencontra-se isolada, solitária na busca de soluções e encaminha-mentos às demandas que surgem, principalmente das própriasfamílias das crianças e adolescentes.
De forma contraditória com o posicionamento assumido pe-los cursistas advindos da educação, as falas dos cursistas queprovinham da rede de proteção apontaram para a falta e para adificuldade de aproximação e contato mais direito com as esco-las, destacando-se a ausência de projetos em parceria, princi-palmente daqueles voltados ao trabalho preventivo. Segundo osmembros da rede que participaram das formações, na maioriadas vezes, o contato entre escolas e outras instituições, quandoocorre, tem como objetivo solucionar demandas pontuais.
Em resposta a essa sensação de isolamento e sobrecarga, quepareceu ser compartilhada pela maioria dos profissionais daeducação, um esforço que permeou todo o processo de forma-ção foi o de desconstruir a visão da escola como instituição au-tocentrada e isolada do restante da rede. Destacou-se, durantetodo o tempo, a importância do papel dos professores na iden-tificação de casos de violência infantojuvenil, justamente porserem eles, em muitos casos, os indivíduos que mais de per-to acompanham o desenvolvimento das crianças e adolescen-tes. Ao longo das formações buscou-se, também, reforçar nosparticipantes a noção de que dentro da rede de proteção deveprevalecer a co-responsabilidade, o (re) conhecimento mútuo,o respeito à diversidade, o compartilhamento de informações eações e a distribuição de tarefas.
Outro ponto destacado pela maioria dos cursistas, ao início doprocesso de formação, referiuse à sua dificuldade em identifi-car, encaminhar e acompanhar casos de violência e, mais do queisso, em lidar com as crianças e adolescentes vítimas. Amaioriados entrevistados destacou nunca ter recebido preparação algu-ma para tal e, ademais, relatou um sentimento de isolamentoe impotência diante das situações identificadas, geradas, mui-tas vezes, por falta de conhecimento sobre como agir e a quemacionar nessas circunstâncias. Segundo eles, esse nível de des-preparo se fazia presente também, nas instituições em que atua-vam, o que ocorria devido a diversos fatores, como dificuldades

32
Entre Redes
de compreensão e falta de conhecimento sobre o tema, falta deequipe e falta de recursos físicos e financeiros. Tudo isso torna-ria o contexto ainda mais desfavorável para o enfrentamento àviolência, fato que, no limite, acabava por imobilizá-los perantesituações reais de violência infanto-juvenil.
Os resultados da pesquisa qualitativa realizada junto aos cursis-tas de 2008, bem como as falas e avaliações de curso, possibi-litaram perceber que as intervenções promovidas pelo “Forta-lecendo as escolas” contribuíram para a superação de boa partedas dificuldades relatadas no parágrafo anterior, pelo menos nonível individual, para os participantes das formações. Confirmaessa informação o fato de que, em Betim, Contagem, TeófiloOtoni e Itaobim a maior parte dos cursistas afirmou que, graçasà participação nas formações, se sentia apta a identificar, enca-minhar e acompanhar casos de violência contra crianças e ado-lescentes, não se sentindo preparada somente para lidar com asvítimas de violência. Por outro lado, a maioria dos entrevistadosdisse que esta não corresponde à situação das instituições emque atuam, o que aponta para um próximo passo que precisa serdesenvolvido nestes quatro municípios, qual seja: multiplicaro número de pessoas com formação continuada para o enfren-tamento às violências infanto-juvenis e aumentar, também, onúmero de instituições chamadas a compor a rede, fortalecendoos laços com e entre estas.
Num sentido mais amplo, ao longo da execução do “Fortalecen-do as escolas”, as narrativas de distintos participantes e parcei-ros possibilitaram a identificação de alguns pontos deficitáriosda própria rede de proteção à criança e ao adolescente que, maisdo que referidos às realidades locais, parecem apontar para pro-blemas nacionais, gerados, aparentemente, pela formatação daspróprias instituições e políticas públicas de proteção à criançae ao adolescente. São elas: a morosidade no atendimento aoscasos de violência identificados e encaminhados; o excesso deatribuições e a conseqüente falta de tempo para se dedicar aoplanejamento e à atuação responsáveis e articuladas em redes,com foco na proteção infanto-juvenil; a ausência recorrente dafamília tanto nas instituições quanto nos processos de discussãoe planejamento, de um lado, e a dificuldade em cooptála paratal, de outro.
Extrapolando os limites das intervenções do “Fortalecendo asescolas”, esses pontos deficitários da rede não puderam ser mi-

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
33
nimizados, ou, antes, não houve, ainda, tempo hábil para quese percebesse o efeito do projeto sobre eles. Não obstante, suaminimização nos municípios parceiros constitui um dos efei-tos indiretos esperados para o projeto, no longo prazo. Isso namedida em que se parte do princípio de que a problematiza-ção e o (re)conhecimento mútuo do papel dos distintos atoresda rede e dos limites de sua intervenção – impostos, inclusive,pelo contexto social, econômico, político, etc. –, bem como osesforços voltados para o planejamento coletivo de ações de en-frentamento, tal qual ocorridos ao longo do projeto, constituemcondições sine qua non para a garantia dos direitos das criançase dos adolescentes.
Por fim, alguns fatores de ordem prática atuaram como dificul-tadores para a execução do “Fortalecendo as escolas”. O pri-meiro deles referiu-se à durabilidade da formação. Na avaliaçãofeita por muitos cursistas, a carga horária de 80 horas/aula foimuito extensa, devido não à falta de conteúdo a ser ministra-do, mas sim em virtude das dificuldades inerentes à retirada deprofissionais das suas instituições, principalmente no caso dosprofessores. Tendo sido a carga horária de 60 horas/aula presen-ciais determinada de antemão pela SECAD/MEC, este foi umponto que não pôde ser adequado às demandas locais, emborase tenha tentado, ao máximo, adequar o tamanho das turmas eos dias e horários das formações à realidade de cada municí-pio, com vistas a possibilitar a participação do maior númerode pessoas.
Apesar disso, na maioria dos casos, a adesão às formações nãofoi suficiente para cobrir 100% das vagas oferecidas e, no casodos inscritos, nem todos concluíram a carga horária mínimanecessária para certificação. Por outro lado, embora se tenhapercebido que uma carga horária reduzida poderia ter propor-cionado o envolvimento de um número maior de profissionais,esta certamente não garantiria a cobertura da violência contracrianças e adolescentes sob tantos enfoques quanto ocorreu.Em vista disso, uma sugestão plausível para as próximas inter-venções nos municípios parceiros seria que fossem realizadasações pontuais e de menor duração, cobrindo, cada uma delas,parte do conteúdo abordado na formação.
Outro fator de ordem prática que dificultou a execução do pro-jeto e, principalmente, limitou o alcance do acompanhamentofeito pela equipe do “Fortalecendo as escolas”, foi a distância

34
Entre Redes
entre Belo Horizonte e os municípios dos Vales do Jequitinho-nha e do Mucuri. A este se somou a dificuldade de se identificar,no próprio município ou em seu entorno, profissionais aptospara abordar determinadas temáticas componentes do crono-grama das formações. Dentre estas temáticas, merece destaquea discussão do ECA e de seus princípios, a apresentação do sis-tema de garantia de direitos por ele preconizado, das institui-ções e seus papéis e a função dos conselhos tutelares, sobre oque muitos conselheiros mostraram resistência em falar, quasesempre com receio dos ataques que poderiam sofrer por partedos cursistas.
Embora seja uma região que, de fato, carece de intervenções einvestimentos voltados para o enfrentamento à violência contracrianças e adolescentes, há que se considerar que a distânciadificulta um acompanhamento mais efetivo das formações e aidentificação de profissionais para discorrerem sobre determi-nados temas, o que torna todo o processo mais oneroso.
Para contornar parte dessas dificuldades, cada município indi-cou um grupo de profissionais da educação e de outras áreasde atuação – especialmente da Secretaria de Assistência Sociale Conselho Tutelar – para participar de uma formação préviaem Belo Horizonte, que teve como objetivo prepará-los paraassumir a frente das formações em seus municípios, sob a orien-tação, acompanhamento e atuação compartilhada da equipe do“Fortalecendo as escolas”. Esses profissionais, intitulados ‘arti-culadores’, foram os principais responsáveis por dar ao projeto‘a cara’ dos municípios parceiros, adequando os planejamentose diretrizes gerais às realidades, possibilidades e demandas lo-cais. Para além de ter viabilizado a efetividade do projeto, otrabalho e formação junto aos articuladores garantiu a capaci-tação e o treinamento prático de um grupo de profissionais quese tornou apto a replicar as formações realizadas, posto que de-senvolveram todas as habilidades necessárias para tal, desde oaumento da familiaridade com o tema até a organização de todaa logística envolvida no processo.
Outra estratégia adotada para impedir que a distância entre BeloHorizonte e os municípios parceiros nos Vales do Jequitinhonhae do Mucuri se tornasse empecilho à efetividade das ações, foia organização da equipe do “Fortalecendo as escolas”, de modoa garantir sua presença em pelo menos metade dos encontros,tendo sido elencados, também, alguns temas nos quais a presen-

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
35
ça seria imprescindível.
Em 2011, pretende-se dar continuidade às atividades do “For-talecendo as escolas”, ampliando-as para mais municípios doVale do Jequitinhonha, por ser esta uma região que possui umaparcela significativa da população vivendo em condições socio-econômicas precárias, com baixos níveis de desenvolvimentohumano e escassas condições de acesso à geração de empregoe renda. A situação de vulnerabilidade dos jovens, resultante dacondição de pobreza em que muitas famílias se encontram nes-sa região, somada ao favorecimento trazido pela sua localização– às margens de importantes rodovias que ligam Minas Geraisao estado da Bahia - favorece a proliferação de atividades rela-cionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes e aotráfico e consumo de drogas. A isso tudo somase sua distânciaem relação à capital mineira, o que acaba por limitar todas as in-tervenções lá realizadas, tornando premente a necessidade de serealizarem ações contínuas de enfrentamento à violência contracrianças e adolescentes.
4. Aplicação do conteúdo à prática
A principal estratégia adotada pelo “Fortalecendo as escolas” éa formação continuada de profissionais da educação, juntamen-te aos profissionais da rede de proteção à criança e ao adoles-cente, por meio de capacitações com duração de 80 horas/aula,das quais 60 são presenciais e 20 não presenciais. Na composi-ção das turmas em cada município, propõe-se um percentual de80% de profissionais da educação e 20% de representantes darede de proteção, sendo disponibilizadas, em média, 125 vagaspara cada município parceiro, o que perfaz um total de mais de1750 vagas oferecidas para a formação, até o momento.
Por meio desta formação continuada, o “Fortalecendo as esco-las” busca, dentre outras coisas, preparar os profissionais envol-vidos e, por conseqüência, as instituições nas quais eles atuam,para identificarem, encaminharem e lidarem com a violênciaem suas diversas manifestações, e também com as vítimas – nocaso, crianças e adolescentes - assumindo, em suas ações, umaperspectiva intersetorial e integrada em redes, capaz de extra-polar o isolamento sob o qual as escolas – e ademais, as outrasinstituições - permaneceram durante muito tempo.A observância aos princípios fundamentais da perspectiva do

36
Entre Redes
trabalho em redes é buscada durante todo processo de articula-ção com os municípios, formação dos profissionais e produçãodo material paradidático. Seguindo-as, a concepção e execuçãodas ações do projeto ocorrem sempre de forma dialógica, pormeio da troca permanente entre a equipe executora e os repre-sentantes dos municípios parceiros. Tudo isso sempre primandopelo respeito às especificidades locais, no que tange à dispo-nibilidade de tempo e espaço, ao contexto da violência e à suadinâmica e distribuição espacial. Na prática, Isso significa dizerque o projeto sempre busca considerar o saber, a experiência e areflexão prévias que cada um dos participantes dos processos deformação e capacitação possui a respeito dos temas abordados.
Buscando garantir a sustentabilidade de suas ações e, por meiodesta, alcançar maior efetividade, a metodologia empregadapelo “Fortalecendo as escolas”, de forma totalmente alinhadaàquela proposta pelo Pólos em suas intervenções, estrutura-sena mobilização, articulação e co-participação dos envolvidosem todo o processo e não somente na capacitação/ formação.O processo educativo é assumido num sentido mais amplo, queextrapola os limites formais da capacitação ou da escola.
Relacionando, de forma permanente, investigações e atuaçãosocial ao longo de toda a execução do projeto, procura-se pautaras ações no diálogo e no envolvimento ativo dos municípios eatores parceiros na busca de soluções aos problemas e dificulda-des que se lhe colocam. No “Fortalecendo as escolas” busca-se,durante todo o processo, instrumentalizar membros dos pró-prios municípios em temáticas atinentes à garantia dos direitosdas crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz principal oestabelecido pelo ECA. É o que dá sustentabilidade às ações.
Em vista de tudo isso, primou-se pela elaboração de materialparadidático voltado às distintas parcelas da população, comlinguagem a elas adequada e pautada nos contextos descritospelos cursistas ao longo das formações. O material paradidáticodesenvolvido pelo “Fortalecendo as escolas” incluiu, além dopresente livro, uma cartilha direcionada para toda a comunida-de, um livro contendo esquetes teatrais sobre a violência e seuenfrentamento e um DVD educativo contendo cinco animaçõese propostas de discussões, voltado para crianças e adolescen-tes.
O material elaborado traz, portanto, um pouco dos contextos

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
37
neles narrados, bem como das experiências coletivas que foramcompartilhadas pela equipe do “Fortalecendo as escolas”, pelospalestrantes e formandos.
Perpassando todo o processo, no qual se inclui a produção domaterial paradidático e dos planos e planejamentos de ação, des-de 2008 até o momento tem sido permanente o acompanhamen-to, o monitoramento, a troca e a orientação dadas pela equipe do“Fortalecendo as escolas” aos atores institucionais parceiros emcada município. Também a avaliação da efetividade das açõesjunto a eles tem sido constante, e as informações coletadas pormeio dela vêm servindo como substrato para o aperfeiçoamentoe ampliação das ações e para a inclusão de novos temas, aborda-gens e parceiros, sejam eles atores, instituições ou municípios.
Assim, após todas as ações realizadas de forma coletiva, com omaterial paradidático elaborado no escopo do “Fortalecendo asescolas”, e podendo contar com a experiência acumulada pelosarticuladores em cada município, com a colaboração de profis-sionais formados pelo “Fortalecendo as escolas” e que tenhamse mostrado dispostos a contribuir e, ainda, podendo contar como apoio institucional das secretarias municipais, a experiênciado projeto pode ser replicada na íntegra, ou de forma parcial, fo-cando pontualmente em alguns dos temas abordados, de formaa cobrir cargas horárias mais reduzidas. Além dessa possibili-dade, outras formas de aplicação, à prática, do conteúdo trazidopelo “Fortalecendo as Escolas”, são:
- Realização de encontros pontuais para discussão de casos econstrução coletiva de propostas de atuação; Realização de palestras e oficinas, com carga horária reduzida,voltadas para o aprofundamento em temas específicos junto aoscursistas que participaram das formações do “Fortalecendo asescolas”;- Inclusão de novos atores na rede de proteção, por meio de con-vites e também de palestras e oficinas a eles direcionados; Dentro dessa frente, realizar encontros, palestras e oficinasespecíficas, voltadas para grupos até então deixados à margemdos debates. Dentre eles, se incluem: crianças e adolescentes,famílias e comunidade em geral;- Utilização de linguagens artísticas, como a música e o teatro,para mobilizar e sensibilizar a comunidade em geral. Dentre aspossibilidades se destacam: realização de festivais de música eapresentação de peças teatrais, como estratégias para agregar o

38
Entre Redes
público e inserir, junto a ele, a discussão de questões atinentesao enfrentamento à violência e promoção de direitos;- Utilização do esporte e lazer como estratégias de mobilizaçãocoletiva para discussão das referidas temáticas. Como exemplo,sugerimos a realização de campeonatos esportivos, ruas de la-zer, gincanas e campeonatos dentro das escolas e outras institui-ções, para os quais seja convidada toda a comunidade e que sejapermeado por momentos de debate e sensibilização em tornodas temáticas de nosso interesse;- Aproveitamento dos espaços já existentes de encontro e de-bate - como reuniões de pais e reuniões junto ao público doPrograma Bolsa Família, para a inserção de debates em tornodas temáticas de nosso interesse, bem como para a dissemina-ção de informações e distribuição de materiais informativos ede divulgação.
Considerações finais
Ao longo de seus quase quatro anos de execução, muitos fo-ram os avanços proporcionados pelo projeto “Fortalecendo asescolas”, os quais emergem, em sua maioria, como frutos datentativa permanente de superação das lacunas identificadas noprimeiro ano de intervenção sob coordenação do Pólos e tam-bém daquelas identificadas ao longo do processo. Neste ínte-rim, o projeto proporcionou espaços de escuta, debates, trocasde experiências entre os envolvidos, preparando-os para a buscapor novos caminhos e posicionamentos ante o enfrentamento àsdiversas formas de violência infanto-juvenil em seu contextode trabalho, em sua comunidade e em sua família. Por meiodas formações realizadas nos municípios parceiros, tem prio-rizado a formação ampla dos envolvidos no processo – tantoformandos quanto formadores – com vistas a (re) significar suasvisões, posturas e atitudes em relação à violência e, a partir daí,torná-los multiplicadores da experiência vivenciada, de formaautônoma e independente da universidade.
Graças à produção de material paradidático e à elaboração cole-tiva de projetos de intervenção institucional e de planos muni-cipais de ação, o projeto tem buscado ajudar os participantes doprocesso na delimitação dos próximos passos a serem seguidos.O material paradidático produzido, bem como os planos e pro-jetos de intervenção, são maneiras de apoiar os profissionais en-volvidos do enfrentamento à violência contra crianças e adoles-

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
39
centes, para que estes continuem a avançar de forma autônomae independente da intervenção mais direta do Pólos/UFMG.
Sabe-se que existe, ainda, um longo caminho a ser trilhado noenfrentamento e prevenção à violência contra crianças e ado-lescentes, pois, sendo a violência um fenômeno complexo, re-sultante de um conjunto de fatores de ordem social, econômica,cultural e política, este caminho deve ser percorrido com cuida-do. O projeto “Fortalecendo as Escolas” tem se mostrado ummeio eficaz no enfrentamento à violência, graças à mobilização,sensibilização e conscientização dos profissionais da educaçãoe da rede. O destaque dado às escolas tem-se mostrado focalno avanço desse processo, posto que traz à baila importantesquestões até então negligenciadas por muitos dos cursistas queparticiparam das formações nos municípios parceiros.
Assumir a premência das escolas significa, também, reconhecera importância dos educadores enquanto agentes essenciais demudança da situação de crianças e adolescentes. Esse reconhe-cimento passa, dentre outras coisas, pela concordância acercada necessidade de processos permanentes de formação dos di-ferentes profissionais que nela atuam, com vistas a potencializarsua ação transformadora junto aos alunos, por meio da amplia-ção de sua visão de mundo e compreensão de seu papel em todoo processo.
Há que se considerar, no entanto, que a inserção da escola narede não deve significar sua sobrecarga, nem o enfraquecimentodas demais instituições, posto que uma instituição não substituia outra: todos precisam se reconhecer como atores importantes,além de identificar suas atribuições, criando, assim, um espaçopara trocas de experiência e busca coletiva de soluções.
Além disso, a inserção de outros atores na rede, como a famíliae as próprias crianças e adolescentes, é essencial. O incentivoao protagonismo dos diversos atores, sua inserção no processode discussão e busca de soluções contra a violência são objeti-vos a serem buscados permanentemente pela rede.
Diante disso, e à luz das falas e avaliações feitas pelos próprioscursistas, emerge como indispensável a criação de espaços parasensibilização, discussão e divulgação desse tema. Tais espaçosprecisam proporcionar ações intersetoriais, interdisciplinares eintegradas, que envolvam os diferentes grupos, organizações,

40
Entre Redes
instituições e contingentes populacionais. Somente assim, con-templando-se os distintos campos do saber, de maneira a evitarque visões estigmatizadas e preconceituosas sejam reforçadas,será verdadeiramente possível avançar no enfrentamento e mi-nimização das violências contra crianças e adolescentes.
A violência não pode ser vista como um problema que incideapenas na classe pobre e em países subdesenvolvidos: ela é umproblema presente em todos os locais e grupos sociais, aindaque assumindo diferentes configurações, causas e efeitos. Nes-se contexto, as universidades, principalmente por meio de seusprojetos de extensão, possuem um papel preponderante. Maisdo que propagadoras de conhecimentos e debates teóricos, estastêm que se ocupar, cada vez mais, da problematização de situa-ções recorrentes e do fortalecimento das comunidades e grupos,tornando-os sujeitos e protagonistas de sua história e não merosreceptores de intervenções pontuais.
Espera-se que o “Fortalecendo as escolas” tenha conseguidocumprir sua função social nesse processo. Mais do que isso, aexpectativa é de que suas intervenções tenham contribuído como início do longo percurso que levará à efetivação dos direitosdas crianças e adolescentes nos municípios parceiros.

“Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...”
41
Referências bibliográficas
ADORNO, S. Crianças e adolescentes e a violência urbana.Disponível em <http://www.fflch.usp.br/sociologia/docartigos/Sadorno_criancas.pdf.> Acesso em 14/01/2011.
BARSTED, L. de A. L. Uma vida sem violência é um direi-to nosso: propostas de ação contra a violência intrafamiliar noBrasil. Brasília: Comitê Interagencial de Gênero/ONU/Secreta-ria Nacional dos Direitos Humanos/Ministério da Justiça, Bra-sília, 1998.
BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Fede-rativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2001. 405 p.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n 8.069,de 13 de Julho de 1990. 6. ed. Brasília: Secretaria de DireitosHumanos da Presidência da República e Conselho Nacional dosDireitos da Criança e do Adolescente, 2010. 239p.BRASIL. Pacto de Direitos Civis e Políticos pelas NaçõesUnidas, 1966. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_politicos.htm.> Acesso em 03/12/2010.CUNHA, E. P.; SILVA, E. M.; GIOVANETTI, M. A. G. C. En-frentamento à violência sexual infanto-juvenil: expansão doPAIR em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.402 p.
GUARESCHI, N. M. de F.A criança e a representação social depoder e autoridade: negação da infância e a afirmação da vidaadulta. In: SPINK, M. J. (org.).O conhecimento no cotidiano:as representações sociais na perspectiva da psicologia social.São Paulo: Brasiliense, 1993, pp. 212-233. 311 p.
GUSTIN, M. (Re) Pensando a inserção da Universidade na So-ciedade Brasileira Atual. In: SOUZA JR., J. G. Educando paraos Direitos Humanos - Pautas Pedagógicas para a Cidadaniana Universidade. Porto Alegre: Síntese, 2004.
MARCÍLIO, M. L.História social da criança abandonada. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 331 p.
UDE, W. Redes Sociais: possibilidade metodológica para umaprática inclusiva. In: CARVALHO, A..et al.. (org.). PolíticasPúblicas. Belo Horizonte: Editora UFMG/PROEX, 2002.


Promoção dos direitos fundamentais decrianças e adolescentes sob uma
perspectiva intersetorial: a importânciadas redes sociais mistas para a
efetividade das políticas públicas
Miracy Barbosa de Sousa Gustin
Miracy Barbosa de Sousa GustinDoutora em Filosofia do Direito pela UFMG. Pós-doutora em Metodologia do Ensino e da Pesquisapela Universidade de Barcelona. Mestre em Ciência Política. Professora associada aposentada da
UFMG. Professora do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG.Prêmio Nacional em Educação em Direitos Humanos pela Secretaria Nacional de Direitos Huma-
nos da Presidência da República. Fundadora do Programa Pólos de Cidadania (UFMG).

44
Entre Redes
1. Reflexões preliminares
A Constituição brasileira, em seu artigo 227, estabelece umanormatividade clara que tutela, de forma protetiva, um dos gru-pos sociais cujo prejuízo pelas chamadas situações de risco éevidente, aquele composto por crianças e adolescentes. Nossotexto constitucional afirma ser dever da família, da sociedade edo Estado assegurarem a esse grupo social, com absoluta prio-ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e aolazer. Referese, ainda, ao direito à profissionalização, ao aces-so aos bens culturais, ao respeito, à liberdade e à convivênciafamiliar e comunitária. Tudo isso pode ser considerado como aatribuição de dignidade a este grupo social específico.
O texto ainda se ocupa de protegê-los contra determinados ris-cos, ou seja, preservá-los de toda forma de negligência, discri-minação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim,deve-se entender que é dever de todos, integrantes das adminis-trações públicas e dos vários grupamentos da sociedade civil,a prevenção de ameaças ou violações efetivas aos direitos dacriança e do adolescente.
As estatísticas, no entanto, denunciam as diversas formas deomissão em relação às crianças e adolescentes brasileiros e co-locam em questão a efetividade do conteúdo constitucional e dasnormas infraconstitucionais que tutelam a nossa infância e ju-ventude. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostrasde Domicílio - PNAD (2009) - sobre o trabalho infanto-juvenilno Brasil, em 2008 o Brasil registrava 4.452.301 crianças e ado-lescentes de cinco a 17 anos nessa situação, o que representava10,2% da população nessa faixa etária existente à época. Em2009, foram apontados 4.250.401, o equivalente a 9,79%. Essedado mostra apenas que foram tirados da situação de trabalhoprecoce somente 202.015 jovens trabalhadores.
Minas Gerais, pelos dados da PNAD, usa a mão de obra de477 mil jovens com idade entre cinco e 17 anos. São 13 milcrianças de cinco a nove anos; 146 mil na faixa etária dos dezaos 14; e 318 mil dos 15 aos 17 anos trabalhando. Ou seja, são159 mil crianças na faixa de cinco a 14 anos que trabalham.Este dado pode ser considerado um verdadeiro ultraje à noçãode completude do ser ou de plenipotencialização do ser huma-no, apregoada pelos especialistas em Educação para os DireitosHumanos, muito especialmente quando esse fenômeno se re-

“Promoção dos direitos fundamentais...”
45
fere a crianças em faixa etária escolar que deveriam estar emescolas de boa qualidade, em horário integral, vivenciando umaeducação emancipadora e de fortalecimento de sua autonomiacomo cidadãos plenos.
Anteriormente, mas há bem pouco tempo, com o objetivo dereforçar o que já foi afirmado, a PNAD de 2007 mostrava queo Brasil tinha cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentesde cinco a 15 anos que trabalhavam. Estes representavam umaporcentagem de 6,6% do total de pessoas nessa faixa etária. Emrelação aos dados educação/trabalho, segundo a PNAD do mes-mo ano, o que mais poderia nos preocupar é vermos uma pro-porção de 0,8%, qual seja, mais de 20 mil crianças brasileirasque não estudavam à época, só trabalhavam. Já em relação àporcentagem daqueles que estudavam e trabalhavam, ou seja,7%, é importante lembrar que, embora esse dado relativo cor-respondente a 175 mil crianças e adolescentes que estejam naescola e tenham uma ocupação, o trabalho somente é permitidopara aqueles a partir dos 14 anos, desde que na condição deaprendizes. Os dados nacionais mostram, no entanto, o contrá-rio e são veementes para a discussão das políticas públicas deEducação de nosso país.
Em relação à violência contra as crianças e adolescentes, os da-dos são, muitas vezes, bem mais assustadores. Segundo a Orga-nização Mundial do Trabalho – OTI - mais de 100 mil criançase adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. A Secre-taria Especial de Direitos Humanos identificou a exploração se-xual comercial de crianças e adolescentes em 937 municípios, amaioria deles localizada nas regiões Nordeste (31,8%) e Sudeste(25,7%). As regiões Sul, CentroOeste e Norte respondem, res-pectivamente, por 17,3%, 13,6% e 11,6% dos casos. As redesque se beneficiam da atividade, ligadas à pornografia infantil, àexploração sexual no turismo e à prostituição infantil, segundoa Secretaria de Direitos Humanos – SEDH -, organizam-se nor-malmente no interior do país.
Estas redes são observadas, com maior freqüência, em cidadescom população entre 20 e 100 mil habitantes (450 cidades) eentre cinco e 20 mil habitantes (241). É um fenômeno típicodos pequenos e médios municípios e que ocorre, com grandeênfase, nas rodovias, e apontando para os caminhoneiros comoum dos principais usuários dos serviços destas redes. O Progra-ma Pólos de Cidadania, em pesquisa realizada com o apoio da

46
Entre Redes
referida Secretaria Especial, demonstrou a fidedignidade dessesdados em relação às cidades de médio e pequeno porte do Mé-dio Vale do Jequitinhonha, especialmente aquelas margeadaspor grandes rodovias da região. A pobreza familiar e a falta deopções educacionais de boa qualidade formativa concretas paracrianças e adolescentes, dentre outros fatores, nas treze cidadesdo Médio Vale, impelem esse grupo fragilizado para a “pista”,nome que atribuem à exploração sexual em locais próximosou não às rodovias. Crianças menores, de 10-11 anos, foramencontradas pelo Programa sendo exploradas sexualmente emtroca de míseros cinco reais.
São também deploráveis os dados divulgados pela SEDH deestudos realizados sobre os padrões de mortalidade juvenil noBrasil. Os dados demonstram que
(...) a população adolescente é vitimiza-da por mortes violentas oriundas de fato-res externos, correspondendo a 72,1% dototal dos óbitos ocorridos da faixa etáriaentre 15 e 24 anos, sendo responsável por39,7% do total de mortes em 2004. Jovense adolescentes do sexo masculino, residen-tes nas periferias das grandes metrópoles,afro-descendentes e sem escolarização sãoo alvo prioritário, embora não exclusivo, daviolência letal (SEDH, 2009, p. 5).
Por tudo isso, tornam-se importantes as lutas pelas políticas pú-blicas de inclusão que respeitem o diálogo da diversidade entregrupos etários, pois hoje cada grupo social é uma constelaçãode símbolos e de valores que devem ser analisados pelas esfe-ras governativas, sem projetar sobre esse universo simbólico osparâmetros culturais dos setores técnicos das administrações fe-derais, estaduais e locais. Essas lutas só poderão ter efetividadese levadas a termo por redes sociais constituídas com interessese objetivos específicos. Neste texto trataremos de redes cujo ob-jetivo primordial é a tutela dos direitos e desejos das crianças eadolescentes de nosso país e de nosso estado, Minas Gerais.
2. As redes sociais mistas, as políticas públicas e aintersetorialidade
O suposto é de que estas redes deverão ser capazes de ações

“Promoção dos direitos fundamentais...”
47
incisivas que constranjam o Estado à execução de políticassociais com uma necessária previsão de prioridades, mas queestas prioridades não configurem privilégios desnecessários epreconceitos tradicionais da sociedade brasileira em relação àssuas crianças e adolescentes, especialmente aqueles oriundos deespaços de exclusão. A condição ideal seria alcançada quandoo Estado fosse capaz de responder às reivindicações coletivaspara uma inclusão sócioeconômica eficaz desses grupos mar-ginalizados, dentre eles, o grupo social infanto-juvenil que aquise tematiza.
Entretanto, qual tipo de rede poderia tratar, com efetividade,de temática social tão abrangente e importante? Antes de tudo,faz-se indispensável que esta rede possa compreender que suaatuação se dá em uma esfera pública e que deverá ter, como su-porte, um conceito do que seja o conteúdo da publicidade paraatuar com um de seus grupos de grande fragilidade. O que se-ria, então, uma esfera pública na qual esta rede deveria atuar?Diríamos, em parte com Marramao (2007), que é o encontro-confronto de “narrativas” ou “comunicações” em torno da or-ganização da sociedade global ou local proveniente dos diver-sos contextos de experiência e mundos de vida. Nesse sentido,deveremos superar a noção de tolerância pela de respeito recí-proco e subtrair da categoria de reconhecimento tentações taiscomo as políticas paternalistas que não permitam uma inserçãoemancipada das crianças e adolescentes segundo seus desejosde vida e suas necessidades.
As instituições “pseudodemocráticas” são hoje incapazes deresolver os conflitos que exigem respeito e universalismo nadiferença. E a questão infanto-juvenil requer exatamente a re-alização de uma inclusão igual na diferença, no caso, nas de-mandas, necessidades e especificidades das diferenças etárias.As identidades são múltiplas. Grupos sociais, mesmo que emfaixas etárias consideradas de “menoridade”, são dotados decompetência comunicativo-argumentativa e capazes de consi-derar suas próprias escolhas éticas, segundo suas necessidadese desejos de uma inclusão social efetiva conforme seus direitosfundamentais.
Quando falamos em necessidades, estamos nos referindo à rea-lização não apenas dos direitos fundamentais, mas à concretiza-ção e à sintonização com os direitos humanos. As necessidadessempre se constituíram por natureza social e cultural. Por isso,

48
Entre Redes
são historicamente determinadas. Isso não impede, contudo,que existam necessidades humanas básicas generalizáveis nãosó aos membros de determinado grupo social, mas a todo serhumano dotado de uma potencialidade de atividade criativae interativa. Quando pensamos em atividade criativa vem-noslogo à mente os jovens, com toda sua potencialidade de produ-ção do novo. Por meio da atividade criativa a pessoa humanae os grupos sociais tornar-se-iam capazes de superar os varia-dos constrangimentos histórico-culturais que se lhes antepõem.Apoiando-nos em Thomson e Añón Roig (1994), torna-se pos-sível afirmar que
(...) necessidade é uma situação ou estadode caráter não intencional e inevitável quese constitui como privação daquilo que ébásico e imprescindível e coloca a pessoa- individual ou coletiva - em relação diretacom a noção de dano, privação ou sofri-mento grave, um estado de degeneração daqualidade de vida humana e de bem-estar aqual se mantém até ser obtida uma satisfa-ção que atue em direção reversa (THOM-SON; ROIG, 1994, p. 266).
Como dano, privação ou sofrimento grave entende-se tudoaquilo que interfere, de forma direta ou indireta, no plano devida das pessoas ou dos grupos em relação às suas atividadesessenciais, inviabilizandoas ou tornandoas insuficientes frenteao seu grupo social. Essa insuficiência relacionase, direta ouindiretamente, ao ordenamento constitucional, vale dizer, aosdireitos fundamentais, com a construção de uma democraciaconstitucional que supõe relações democráticas em sua radica-lidade. E, quando falamos sobre esse tema, lembramo-nos deque essa radicalidade refere-se primordialmente a uma socie-dade organizada em torno de temas relacionados ao bem-estargeneralizado e não a danos e privações, como nos mostraram asestatísticas apresentadas na primeira parte deste texto.
Além disso, a organização a qual aqui nos referimos tem suaculminância na constituição de redes sociais mistas e interse-toriais.
Vejamos o que vêm a ser estas redes. Em primeiro lugar, elasdevem estar conectadas à noção de governança social, pois seformam a partir de uma conexão entre sociedade organizada

“Promoção dos direitos fundamentais...”
49
e administração autônoma de seus próprios atos em favor dosgrupos mais necessitados de sua ação. Assim, as redes que sepredispõem à governança social formam-se tanto por relaçõesinterpessoais como pelas relações de grupamentos ou conjun-tos, sejam eles familiares, comunitários ou institucionais, estesúltimos no sentido correlacionado às estruturas administrativo-estatais, porém com uma acepção imediata de realização deseus atos em uma esfera com sentido público.
Portanto, na temática tratada por este texto, a noção de rede temum papel relevante. Ela não é vista, todavia, como um novotipo de associativismo. Estas redes devem comportar, também,os componentes da autonomia e da emancipação e devem serdo tipo misto, ou seja, devem ser constituídas de organizaçõescomunitárias, da administração estatal, além de lideranças ines-cusavelmente legítimas dessas comunidades. Inúmeras vezeselas são constituídas por processos informais: conversas emfilas de ônibus, contatos de vizinhanças, relações intra ou inter-familiares, dentre outros que permitirão ações que favoreçamo desenvolvimento comunitário. Por outro lado, se estas redessão iniciadas de modo informal, em contrapartida devem serinstitucionalizadas de alguma forma, para garantirem sua efe-tividade.
Na implantação de políticas públicas que tenham como focoas crianças e adolescentes, estas redes são de valor inestimá-vel pela importância da efetividade de tais políticas, inúmerasvezes intersetoriais e, portanto, tendentes a uma desagregação.Isto porque a formação destas redes pressupõe não só a exis-tência de um conjunto de organizações sociais motivadas porobjetivos públicos e coletivos, mas também uma intencionali-dade política que supõe a formação de novas formas de atuaçãocoletiva e de novos atores solidariamente agrupados.
Muito constantemente pode ocorrer a existência de um cam-po ético-político bastante fortalecido no qual sujeitos coletivos,com identidades diversas e relações sociais solidárias anterio-res, transportam-se dos grupos locais para as esferas regionaise até mesmo estaduais ou federais. Essa expansão dependerádos objetivos que perseguem e do nível de atuação autônoma esolidária de seus integrantes.
Algumas pesquisas demonstraram algo que pode parecer in-satisfatório para o que se pressupõe tradicionalmente como

50
Entre Redes
fundamento de redes sociais, ou seja, alta coesão, liderançaslegitimadas, nível educacional alto, posição de relevo na so-ciedade, dentre outros. Esses fundamentos seriam tidos comolaços fortes. O produto destas pesquisas definiu, ,porém, quesão os laços fracos que atribuirão maior eficácia à ação em rede.Isto pode parecer contraditório com o que se afirmou até o mo-mento. Mas, como conceber a importância de redes sociais emambientes de extrema exclusão e pobreza, quando se sabe queé justamente ali que os laços integrantes das redes são extrema-mente fracos? Por esse e outros motivos é que se propõe, aqui,a constituição de redes sociais mistas, ou melhor, a conjugaçãode laços sociais fortes e fracos para a sustentabilidade das in-tervenções da rede no sentido de constituição de capital sociale humano e de governança social. A necessidade da formaçãode redes deriva, pois, da fragilidade dos laços existentes nascomunidades periféricas, em especial com o grupo de criançase adolescentes já frágeis por sua própria condição etária.
Tratando-se de políticas intersetoriais voltadas para a tutela dobem-estar das crianças e adolescentes marginalizados, as al-ternativas de obtenção de acesso aos direitos fundamentais emlocalidades de extrema exclusão e de comunidades periféricasexigem que seja atribuído às populações desses espaços sócio-culturais o status de sujeitos de sua própria história, no interiorde um processo pedagógico edificante e emancipador. O mesmoprocede para a estrutura infanto-juvenil.Há que se instaurar um processo no qual as pessoas se tornematores conscientes de sua exclusão, de seus riscos e danos e dassuas possibilidades de solução. Só assim a adversidade poderáser superada ou minimizada.
Os níveis extremos de pobreza no Brasil, constituídos de cer-ca de 9,5 milhões de pessoas, conforme relatórios do Institutode Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA -, negam a existênciade direitos fundamentais para todos e, muito mais, demonstramque a aplicação destes direitos é desigual e injusta. O discurso,genericamente aceito, de que os direitos humanos são para to-dos e que já foram inclusive constitucionalizados como direitosfundamentais, parece conspirar contra evidências não apenasestatísticas, mas visíveis e incontestes na conjuntura atual denosso país. A pobreza e a degradação humanas estão aí e aspolíticas públicas parecem desconhecê-las, especialmente – ebem pior - no caso de crianças que naturalmente deveriam serpreservadas de todas as espécies de danos e de privações.

“Promoção dos direitos fundamentais...”
51
Diz-se que elas são o “futuro do País”, mas como, se não têmdireito a um presente digno?
Pobreza, indigência, desemprego e subemprego dos membrosdas famílias, inexistência de moradia para todos, inúmeros da-nos e violências e visível degradação humana põem em risco asrelações democráticas e o Estado de Direito. Há, entretanto, apossibilidade de resgate desses direitos e, por conseqüência, orestabelecimento, pelo menos parcial, do Estado Democráticode Direito se essas populações excluídas e entregues às con-dições de pobreza e à indigência puderem, por meio da gover-nança social, se tornar conscientes de que é possível o fortale-cimento de suas organizações e de suas redes sociais no sentidode viabilizar um desenvolvimento sócio-econômico sustentávelpara a minimização das violências e dos riscos contra o ser hu-mano, em especial contra as crianças e adolescentes.
A governança social deve ser considerada como um meio deatribuição de competência às políticas públicas e às organiza-ções que trabalham diretamente com populações ou segmentossociais que necessitam se capacitar segundo respostas a condi-ções determinadas.
Por esse motivo, as equipes que trabalham com um sentido deampliação das possibilidades de governabilidade social devemprocurar a articulação entre grupos ou organizações da socieda-de civil com esferas administrativas estatais de todos os níveis,para uma atuação intersetorial que otimize ações e tomadas dedecisões públicas. A governança social, aliada às redes sociaismistas, deve ser uma pedagogia de vivências e de experiênciasem busca de um aprendizado, por parte das organizações debase, sobre as formas de atuação social que tenham como pro-duto uma ação efetiva. Do contrário, tudo se transforma emmais uma ilusão administrativa e aquilo que a Presidente re-centemente eleita, Dilma Roussef, afirmou de forma taxativa “(...) não podemos descansar enquanto houver brasileiros comfome, enquanto houver famílias morando nas ruas, enquantocrianças pobres estiverem abandonadas à própria sorte (...)”(Discurso após o resultado das eleições, divulgado pela impren-sa) ficará apenas como mais uma utopia política, sem qualquerrespaldo em formas concretas de políticas sociais realizadorasde ações intersetoriais efetivamente conectadas e sustentadaspor uma governança social eficaz e redes sociais mistas que per-mitam a superação, pelo menos parcial, das necessidades bási-

52
Entre Redes
cas de educação de qualidade, em horário integral para os maispobres, acesso à saúde integral, aos benefícios de um ambientesustentável e a uma moradia digna.
Crianças e adolescentes têm, por imposição constitucional, di-reito à realização de seus sonhos e da plenipotencialização deseus desejos de cidadania.
3. Considerações finais
No momento final deste artigo, cabe esclarecer que uma situ-ação de governança social deverá ter como objeto imediato desua ação as comunidades - representadas ou não pelo terceirosetor - e não a sociedade que, tradicionalmente, era concebidacomo um conjunto de indivíduos em seu sentido biológico eantropológico. Estas comunidades, as organizações do terceirosetor e as entidades da administração pública estarão envolvi-das em redes de composição mista, em um processo de comu-nicações e de intercompreensões que poderá reduzir a comple-xidade das demandas e das necessidades a partir de opções eseleções, quer públicas ou privadas.As políticas sociais relacio-nadas às crianças e adolescentes não devem ser entregues ape-nas, e tão somente, às estruturas administrativas estatais. Elasnão terão condições, por si mesmas e isoladamente, de daremconta da complexidade e da evidente heterogeneidade das açõesque permitirão um ambiente de realização de bem-estar e deenfrentamento das violências contra as crianças e adolescentesbrasileiros.
Exatamente quando se discute a fase final do Plano Decenal daPolítica de Proteção de Crianças e Adolescentes é que todas es-sas reflexões se fazem importantes para a troca de experiênciase de dados amparados por políticas que têm sido frutíferas noenfrentamento das situações inóspitas e perversas, vitimizado-ras de nossas crianças e jovens.
Não é sem razão que o Programa Nacional de Direitos Huma-nos 3 – PNDH3 -, em sua oitava diretriz, propõe a promoçãodos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvi-mento integral, de forma não discriminatória, assegurando seudireito de opinião e participação. O desenvolvimento integraldesse grupo etário só pode ser conseguido por meio da intera-ção das comunidades de interesse, do terceiro setor e das esferas

“Promoção dos direitos fundamentais...”
53
governativas em razão de sua complexidade e por sua aplicaçãoheterogênea, pois bastante diversificados são os problemas enecessidades que afetam esse grupo social.
As redes sociais mistas serão, pois, agentes privilegiados nacomplementação das ações realizadas pelas famílias, escolas eorganizações de proteção deste grupo e, por meio delas, serápossível dar voz e capacidade de participação às crianças e ado-lescentes em seu ambiente de moradia ou em instituições quetutelam seus direitos.
Não foi sem razão que Paula Gabriela Mendes Lima (2010),na sua dissertação de mestrado sobre O acoplamento estruturalentre o sistema político e o sistema jurídico para a efetividadeda proteção integral do adolescente autor de ato infracional,em seu estudo de caso do Centro Integrado de Atendimento aoAdolescente Autor de Ato Infracional - CIA/BH , afirma que
é extremamente importante que se repenseo papel dos sistemas parciais (...). Trazeros movimentos sociais, as sociedades civisorganizadas, as universidades, os conselhostutelares e os conselhos de direito para par-ticiparem do atendimento inicial integradoe desse repensar (...) e compreender que adoutrina da proteção integral tem uma fun-ção simbólica, mas não é uma mera utopia.É, ao contrário, o suporte central para aefetividade dos direitos humanos infanto-juvenis, que depende apenas de vontade po-lítica, lutas constantes pelos direitos, muitotrabalho e ação coletiva (LIMA, 2010, pp.158159).
Esse repensamento coletivo sobre mazelas que impedem a inte-gralidade do ser humano infanto-juvenil poderá trazer mudan-ças substanciais na tutela dos direitos desse grupo, não só nosentido de apenas atribuir-lhe “o que diz a lei”, mas, inclusive,de mudar o conteúdo da própria legislação quando esta estiverdefasada em relação aos novos direitos e deveres que surgemgradualmente no tempo e no espaço. As redes sociais que cui-dam dos interesses dessas crianças e adolescentes é que deverãoabrir esse grande debate em torno da legislação e das institui-ções que supostamente resguardam as demandas e necessida-des desse grupo social, quer esteja ele nas ruas, nas favelas, emmoradias precárias ou em escolas de categoria inferior. As redes

54
Entre Redes
sociais deverão expressar, com eles, essa insatisfação. Só assimse dará efetividade a uma governança social que se realize paratodos.
Referências bibliográficas
BRASIL. Constituição (1988). São Paulo: Revista dos Tribu-nais, 2009.______. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Traba-lho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-lios , 2007 e 2009.
______. Presidência da República. Secretaria de Direitos Hu-manos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Crian-ça e do Adolescente. Brasília: SEDH/Relatórios 2008, 2009.
______. Presidência da República. Sistema Nacional de Aten-dimento Socioeducativo – SINASE / Secretaria Especial dosDireitos Humanos. Brasília-DF: CONANDA, 2006.
______. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2009.
______. Presidência da República. Instituto de Pesquisa Econô-mica Aplicada – IPEA. Brasília: Indicadores IPEA, 2010.
_____. Presidência da República. Secretaria Especial de Direi-tos Humanos – SEDH. Programa Nacional de Direitos Hu-manos – PNDH3. Brasília: SEDH, 2010.
CHAVES, Antônio. Comentários ao Estatuto da Criança edo Adolescente. 2. ed. São Paulo: LTr, 1997.
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMA-NOS. RELATORIO SOBRE OS DIREITOS DA INFÂNCIA.Relatório sobre o castigo corporal e os direitos humanos decrianças e adolescentes. Brasília: SEDH, 2009.
LIMA, Paula Gabriela Mendes. O acoplamento estrutural en-tre o sistema político e o sistema jurídico para a efetividade daproteção integral do adolescente autor do ato infracional. (dis-sertação de mestrado).Belo Horizonte: UFMG/Faculdade deDireito, 2010.

“Promoção dos direitos fundamentais...”
55
MARRAMAO, Giacomo. Omundo e o ocidente: o problemade uma esfera pública global. Texto apresentado e distribuí-do no seminário “Direito, política e tempo na era global”, pro-movido pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUCMinas, nos dias 6 e 7 de junho de 2007. Belo Horizonte: PUCMinas, 2007.
Na Mão Certa. Disponível em: <http://www.namaocerta.org.br>. Acesso em 6 de novembro de 2010.
Programa de Proteção de Crianças e Adolescente Ameaçadosde Morte. Disponível em: <www.presidencia.gov.br/estrutu-ra_presidencia/sedh/spdca/ppcaam>. Acesso em 07 de no-vembro de 2010.
THOMSON, G. Needs. In: ROIG, María José Añón. Necesida-Necesida-des y Derechos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,1994. p. 266-267.


Violência e exclusão na modernidade:reflexões para a construção de um
universalismo plural
José Luiz Quadros de Magalhães
Tatiana Ribeiro de Souza
José Luiz Quadros de MagalhãesMestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Coordenador do Projeto “Fortalecendo as Escolas”
e do Programa Pólos de Cidadania (UFMG). Professor da Faculdade de Direito da UFMG, do Programade Pós-graduação em Direito da PUC Minas e da Faculdade de Direito do Sul de Minas.
Tatiana Ribeiro de SouzaMestre e doutoranda em Direito pela PUC Minas. Professora do Centro Universitário Newton Paiva (MG).
.

58
Entre Redes
1. Introdução: a construção da identidade nacional
A formação do Estado Moderno a partir do século XV ocorreapós lutas internas em que o poder do rei se afirma perante ospoderes dos senhores feudais, unificando o poder interno, unifi-cando os exércitos e a economia, para então afirmar este mesmopoder perante os poderes externos, os impérios e a Igreja. Trata-se de um poder unificador numa esfera intermediária, pois criaum poder organizado e hierarquizado internamente sobre osconflitos regionais. As identidades existentes anteriormente àformação do Reino e do Estado Nacional surgem neste momen-to e, de outro lado, se afirmam perante ao poder da Igreja e dosImpérios. Este é o processo que ocorre em Portugal, Espanha,França e Inglaterra.1
Destes fatos históricos decorre o surgimento do conceito deuma soberania em duplo sentido: a soberania interna a partirda unificação do Reino sobre os grupos de poder representa-dos pelos nobres (senhores feudais), com a adoção de um únicoexército subordinado a uma única vontade e a soberania externaa partir da não submissão automática à vontade do papa e aopoder imperial (multi-étnico e descentralizado).
Um problema importante surge neste momento, fundamen-tal para o reconhecimento do poder do Estado, pelos súditosinicialmente, mas que permanece para os cidadãos no futuroEstado Constitucional: para que o poder do rei (ou do Estado)seja reconhecido, este rei não pode se identificar particular-mente com nenhum grupo étnico interno. Os diversos gruposde identificação préexistentes ao Estado Nacional não podemcriar conflitos ou barreiras intransponíveis de comunicação,pois ameaçarão a continuidade do reconhecimento do poder edo território deste novo Estado soberano. Assim, a construçãode uma identidade nacional se torna fundamental para o exercí-cio do poder soberano.
Desta forma, se o rei pertence a uma região do Estado, quetem uma cultura própria, identificações comuns nas quais eleclaramente se reconhece, dificilmente outro grupo, com outrasidentificações, reconhecerá o seu poder. Assim, a tarefa princi-pal deste novo Estado é criar uma nacionalidade (conjunto devalores de identidade) por sobre as identidades (ou podemosfalar mesmo em nacionalidades) pré-existentes.2 A unidade da
1.CREVELD, Martin vanCreveld. Ascensão edeclínio do Estado. SãoPaulo: Martins Fontes,2004 e CUEVA, Mariode la. La idea del Es-tado. Fondo de CulturaEconômica, UniversidadAutônoma de México, 5.ed. México, D.F., 1996.

“Violência e exclusão...”
59
Espanha, ainda hoje, está, entre outras razões, na capacidade dopoder do Estado em manter uma nacionalidade espanhola porsobre as nacionalidades pré-existentes (galegos, bascos, cata-lães, andaluzes, castelhanos, entre outros). No dia em que essasidentidades regionais prevalecerem sobre a identidade espanho-la, os Estado espanhol estará condenado à dissolução. Comoexemplo recente, podemos citar a fragmentação da Iugosláviaem vários pequenos estados independentes (estados étnicos)como a Macedônia, Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Es-lovênia e, em 2008, o impasse com Kosovo.
Portanto, a tarefa de construção do Estado Nacional (do EstadoModerno) dependia da construção de uma identidade nacionalou, em outras palavras, da imposição de valores comuns quedeveriam ser compartilhados pelos diversos grupos étnicos, pe-los diversos grupos sociais para que, desta forma, todos reco-nhecessem o poder do Estado, do soberano. Assim, na Espanha,o rei castelhano agora era espanhol e todos os grupos internostambém deveriam se sentir espanhóis, reconhecendo a autori-dade do soberano.
Esse processo de criação de uma nacionalidade dependia da im-posição e aceitação, pela população, de valores comuns. Quaisforam inicialmente estes valores? Um inimigo comum (na Es-panha do século XV os mouros, o império estrangeiro), umaluta comum, um projeto comum e, naquele momento, o fatorfundamental unificador: uma religião comum. Assim, a Espa-nha nasce com a expulsão dos muçulmanos e, posteriormente,dos judeus. É criada, na época, uma polícia da nacionalidade:a santa inquisição. Ser espanhol era ser católico e quem não secomportasse como um bom católico era excluído.
A formação do Estado Moderno está, portanto, intimamen-te relacionada à intolerância religiosa, cultural, à negação dadiversidade fora de determinados padrões e limites. O EstadoModerno nasce da intolerância ao diferente e dependia de po-líticas de intolerância para sua afirmação. Até hoje assistimosao fundamental papel da religião nos conflitos internacionais,a intolerância com o diferente. Mesmo estados que constitucio-nalmente aceitam a condição de estados laicos têm na religiãouma base forte de seu poder: o caso mais assustador é o dosEstados Unidos, divididos entre evangélicos fundamentalistas,de um lado e protestantes liberais, de outro lado. Isso repercutediretamente na política do Estado, nas relações internacionais
2.Utilizaremos nestetexto as palavras iden-tidade e identificaçõesquase com sinônimos,ou seja, uma identidadese constrói a partir daidentificação de umgrupo com determinadosvalores. Importante lem-brar que o sentido destaspalavras é múltiplo emautores diferentes. Po-demos adotar o sentidode identidade como umconjunto de característi-cas que uma pessoa teme que permitem múltiplasidentificações, sendodinâmicas e mutáveis. Jáa idéia de identificaçãose refere ao conjunto devalores, características epráticas culturais com asquais um grupo social seidentifica. Nesse sentido,não poderíamos falar emuma identidade nacionalou uma identidade con-stitucional, mas sim emidentificações que per-mitem a coesão de umgrupo. Identificação comum sistema de valoresou com um sistema dedireitos e valores que osustentam, por exemplo.

60
Entre Redes
e nas eleições internas. Podemos perceber a mesma vinculaçãoreligiosa com a política dos estados em uma União Européiacristã que resiste à aceitação da Turquia e convive com o cres-cimento da população muçulmana européia.
O Estado Moderno foi a grande criação da modernidade, soma-da, mais tarde, no século XVIII, à afirmação do Estado Cons-titucional.
Ao contrário do que alguns apressadamente anunciam, o EstadoNacional não acabou e ainda será necessário por algum tempo,assim como a modernidade está aí, com todas as suas criaçõese em crise, sim, mas ainda não permitindo visualizar o que seráa pós-modernidade anunciada e já proclamada por alguns. Esta-mos ainda mergulhados nos problemas da modernidade.
A discussão da soberania e a sua reconceituação diante do fe-deralismo, em um primeiro momento e agora diante da UniãoEuropéia, a globalização e o mega poder econômico das corpo-rações privadas é um dos grandes temas contemporâneos. Outrotema que permanece atual, com maior complexidade, é a ques-tão da identidade e das identificações dos grupos sociais emgrandes metrópoles e a evolução das comunicações que criamespaços e sociedades multi-identitárias.
As grandes metrópoles se transformaram em espaços cosmopo-litas em que diversos grupos sociais, com diferentes valores deidentificação coletiva, convivem em uma cultura, por vezes, detão grande tolerância que se transforma em indiferença. Umamesma pessoa pode se identificar com grupos sociais diversose, muitas vezes, contraditórios como, por exemplo, a identifi-cação criada a partir do gênero, da cor, de classe, de trabalho ecorporação, da origem étnica, de opções religiosas ou filosófi-cas e assim por diante. A identificação com os valores nacionaisé apenas mais um dado.
Outro fator importante é que, nas sociedades democráticas etolerantes, as identificações originais do Estado Nacional queforam fundadas sobre a intolerância com o diferente, a intole-rância religiosa, de cor, étnica devem perder espaço para umaidentidade construída sobre a aceitação de valores comuns emmeio à diferença, como especialmente deve ser a identificaçãocom uma série de direitos fundamentais ou mesmo de direitoshumanos que se tornam cada vez mais aceitos pelas pessoas em

“Violência e exclusão...”
61
um maior numero de culturas e de sociedades.Isso significa que a identidade, em sociedades democráticas etolerantes, cosmopolitas, deve se dar em torno do reconheci-mento de direitos que são construídos sobre valores fundantesdas sociedades modernas como a vida, a liberdade, a igualdadee a justiça. Já discutimos muito, em outros textos, e não po-demos ignorar isto agora, que estas palavras, constituintes deprincípios jurídicos, têm significados diferentes em momen-tos históricos e culturas diferentes. Entretanto, ocorre, cadavez com maior intensidade, a partir do crescimento urbano, daampliação dos espaços metropolitanos e o avanço das comuni-cações, a construção de significados que se aproximam, comouma sintonia fina que vai evoluindo com o tempo, à medida quea comunicação entre as culturas e os grupos sociais aumenta.
A identificação sobre a qual construímos o nosso país não ée não pode ser a religião, nem o idioma ou a cor ou a etnia,mesmo porque somos um país plural em todos os sentidos. Aidentificação sobre a qual podemos construir uma sociedade to-lerante, livre e justa é a identificação com o sistema de direitosfundamentais expressos em nossa Constituição. Neste momen-to, surge um novo problema: isso ocorre? Se isso não ocorre,como conquistar?
É comum ouvirmos, muitas vezes, que temos direitos demais epoucos deveres. Outras bobagens desse tipo surgem com freqü-ência. Vivemos em uma sociedade na qual ocorre o aumento dacriminalidade e a solução que surge de forma irresponsável naboca de muitos, seja porque acreditam, seja porque querem vo-tos, é a de que devemos aumentar as penas, reduzir a idade pe-nal, criar novos tipos penais e outros absurdos. Em vista disso,devemos nos perguntar em que as reflexões aqui desenvolvidaspodem nos ajudar a compreender e a solucionar esse problema.Ora, se não podemos, ou melhor, não devemos mais construiruma identificação comum que sustente o reconhecimento dopoder do Estado e suas normas jurídicas de caráter geral, funda-da em identidades étnicas, cor, religião, pois estaríamos criandouma sociedade excludente e intolerante -, se devemos, em so-ciedades democráticas, plurais e tolerantes, construir uma iden-tificação coletiva que permita o reconhecimento da autoridadedo Estado e, logo, o cumprimento de suas leis, fundada em umpacto de respeito aos direitos fundamentais historicamente re-conhecidos -, para que nesta sociedade democrática haja coesãosocial e respeito, é necessário que todos participem da sua cons-

62
Entre Redes
trução, assim como é necessário que todos tenham seus direitosconstitucionais respeitados.
Diante disso, podemos perguntar: todos os brasileiros têm seusdireitos constitucionais respeitados? Será que um brasileiro quenunca teve seus direitos respeitados, não teve acesso à escolae/ou à saúde, não teve respeito a sua dignidade, uma moradia,saneamento básico, uma família estável, um salário justo; seráque um brasileiro que é constantemente desrespeitado na sua li-berdade de locomoção, é preso arbitrariamente por ser pobre, édespejado por não ter salário, é humilhado, jogado no chão, pi-sado na cara, revistado, chamado de vagabundo, este brasileiroque nunca teve nenhum direito constitucional vai se sentir partedessa sociedade e vai se reconhecer neste sistema de direitos?
Não nos referimos, aqui, à ruptura do pacto social com a crimi-nalidade. A questão da criminalidade não é só esta e a grandecriminalidade não é praticada pelos pobres; as comunidadesmais simples são, na sua esmagadora maioria, formadas porpessoas que respeitam seus acordos e pactos. Estamos falandode reconhecimento ou não do sistema de direitos. Estamos fa-lando de uma sociedade que parece cada vez mais cindida entrepobres e ricos. Esse fenômeno é mais claro em países como aVenezuela, Bolívia e Equador. Na primeira década do séculoXXI, governos identificados com as reivindicações dos pobresforam eleitos nestes países. Obviamente, para a compreensãohistórica da pobreza nestes países, é necessário levar em consi-derações questões étnicas e culturais, além do capitalismo cor-rupto e cartorial. A histórica exclusão dos povos indígenas edos negros, em medidas diferentes, nestes países, levou ao fatode que esta população pobre seja majoritariamente de indíge-nas, na Bolívia e Equador e indígenas e negros, na Venezuela.A grave divisão da população entre pobres e ricos faz com quequalquer governo que queira reduzir a pobreza e gerar maiorigualdade e justiça social tenha que tocar nos interesses da outraparte, os ricos, uma vez que, mesmo que se gere mais riquezapara ser distribuída, a diferença econômica é muito grande paraque se promova igualdade e coesão sem tocar na propriedadee riqueza do pequeno grupo que a acumula há muito tempo.Enquanto essa brutal diferença social permanecer, os gover-nos destes países serão sempre reconhecidos por uma ou outraparte, visto que se torna difícil criar uma identificação comumentre esses dois grupos. Os conflitos continuarão, contidos ounão, até a superação da diferença econômica radical que impede

“Violência e exclusão...”
63
qualquer coesão.A seguir, vamos compreender como a sacralização da democra-cia e da economia liberal impedem muitas pessoas de pensareme participarem da construção de uma sociedade mais justa e nãoviolenta. Para isso, vamos recorrer ao pensador italiano GiorgioAgambem e o seu conceito de sacralização. Devemos repensara democracia e a economia com liberdade e coragem e, paraque isso ocorra, é necessário dessacralizar, devolver para a so-ciedade, para cada pessoa, a possibilidade de pensar livre. Nãohá liberdade em sociedades construídas sobre mitos, dogmas,palavras e nomes proibidos.
2.A sacralização da democracia e do estado de direito comoimpedimento da construção de uma prática livre eincludente de democracia social radical
O pensador Giorgio Agambem (2005)3 faz uma importante re-flexão a respeito da construção das representações e da apro-priação dos significados, o que o autor chama de sacralizaçãocomo mecanismo de subtração do livre uso das pessoas daspalavras e de seus significados, das coisas e de seus usos, daspessoas e de sua significação histórica.
O autor começa por explicar o mecanismo de sacralização naantigüidade. As coisas consagradas aos deuses são subtraídasdo uso comum, do uso livre das pessoas. Há uma subtração dolivre uso e do comércio das pessoas. A subtração do livre uso éuma forma de poder e de dominação.Assim, consagrar significaretirar do domínio do direito humano, sendo sacrilégio violar aindisponibilidade da coisa consagrada.
Ao contrário, profanar significa restituir ao livre uso das pesso-as. A coisa restituída é pura, profana, liberada dos nomes sagra-dos e, logo, livre para ser usada por todos. O seu uso e signifi-cado não estão condicionados a um uso especifico separado daspessoas. A coisa restituída ao livre uso é pura no sentido de quenão carrega significados aprisionados, sacralizados.
Concebendo a sacralização como subtração do uso livre e co-mum, a função da religiosa é de separação. A religião, para oautor, não vem de religare, religar, mas de relegere que significauma atitude de escrúpulo e atenção que deve presidir nossasrelações com os deuses; a hesitação inquietante (ato de relire)
3.AGAMBEM, Giorgio.Profanation. Paris: Payotet Rivages, 2005.As reflexões e interpreta-ções livres desenvolvidasneste tópico são todas apartir do texto do filósofoGiorgio Agambem.

64
Entre Redes
que deve ser observada para respeitar a separação entre o sagra-do e o profano. Religio não é o que une os homens aos deuses,mas sim aquilo que quer mantê-los separados. A religião não éreligião sem separação, o que marca a passagem do profano aosagrado é o sacrifício.
O processo de sacralização ocorre com a junção do rito como mito. É pelo rito que simboliza um mito que o profano setransforma em sagrado. Os sacrifícios são rituais minuciososnos quais ocorre a passagem para outra esfera, a esfera sepa-rada. Um ritual sacraliza e um ritual pode devolver ou restituira coisa (idéia, palavra, objeto, pessoa) à esfera anterior. Umaforma simples de restituir a coisa separada ao livre uso é o toquehumano no sagrado. Esse contágio pode restituir o sagrado aoprofano.
A função de separação, de consagração, ocorre nas sociedadescontemporâneas em diversas esferas nas quais o recurso aomito, juntamente com rito, cumpre uma função de separação,de retirada de coisas, idéias, palavras e pessoas do livre uso,da livre reflexão, da livre interlocução, criando reconhecimen-tos sem possibilidade de diálogo. A religião como separação,como sacralização há muito invadiu a política, a economia eas relações de poder na sociedade moderna. O capitalismo demercado é uma grande religião que se afirma com a sacraliza-ção do mercado e da propriedade privada. As discussões queocorrem na esfera econômica são encerradas com o recurso aomito para impor uma idéia sacralizada a toda a população. Noespaço religioso do capitalismo não há espaço para a racionali-dade discursiva, pois qualquer tentativa de questionar o sagradoé sacrilégio. Não há razão e sim emoção no espaço sacralizadodas discussões de política econômica. Por isso, os proprietáriosreagem com raiva à tentativa de diálogo, porque, para eles, estediálogo é um sacrilégio, questiona coisas e conceitos sacraliza-dos há muito tempo.
Esse recurso está presente no poder do Estado e em rituais diá-rios do poder: a posse de um juiz, de um presidente, a formatu-ra, a ordenação de padres e outros rituais mágicos transformamas pessoas em poucos minutos, separando a pessoa de antes doritual para uma nova pessoa após o ritual. Isso ganha tanta forçano mundo contemporâneo que várias pessoas que freqüentamum curso superior, hoje, não pretendem adquirir conhecimen-tos; o processo de passagem por um curso não é para adquirir

“Violência e exclusão...”
65
conhecimentos, mas para cumprir créditos (até a linguagem éeconômica) com o objetivo de que, ao final, passem pelo ritoque os transformará, de maneira mágica, em novas pessoas. Oobjetivo é o rito, a certificação da passagem por meio do diplo-ma e não a aquisição do conhecimento. O espaço universitárioestá sendo transformado pela religião capitalista em algo mági-co, no qual o conhecimento a ser adquirido no decorrer de umprocesso, que deveria ser transformador, perde importância emrelação ao rito (a formatura) e ao mito (o diploma).
Como resistir à perda da liberdade? Como resistir à sacralizaçãodas relações sociais, econômicas e, logo, à perda da possibilida-de de fazer diferente, de fazer livremente o uso das coisas, daspalavras, das idéias? Como se opor à subtração das coisas aolivre uso? Como se opor à sacralização de parte importante denosso mundo, de nossa vida? A palavra que Agambem (2005)usa para significar essa possibilidade de libertação é “negligên-cia”, que pode permitir a profanação da coisa sacralizada.
Não é uma atitude de incredulidade e indiferença que amea-ça o sagrado, esta pode até fortalecê-lo. Tampouco o confrontodireto. O que ameaça o sagrado é uma atitude de negligência.Negligência entendida como uma atitude, uma conduta simul-taneamente livre e distraída face às coisas e seus usos. Não éignorar a coisa4 sacralizada, mas prestar atenção à coisa semconsiderar o mito que sustenta sua sacralização. Negligência,neste caso, significa desligarse das normas para o uso. Adotarum novo uso descompromissado de sua finalidade sagrada, ouseja, de sua função de separar. Assim, profanar significa liberara possibilidade de uma forma particular de negligencia que ig-nora a separação, ou antes, que faz uso particular da coisa.
Apassagem do sagrado para o profano pode corresponder a umareutilização. Muitos jogos infantis (jogo de roda, balão, brinca-deiras de roda) derivam de ritos, de cerimônias para a sacrali-zação como uma cerimônia de casamento. Os jogos de sorte, dedados, derivam das práticas dos oráculos. Esses ritos, separadosde seus mitos, ganharam um livre uso para as crianças. O poderdo ato sagrado é a consagração do mito (a estória) e o rito que oreproduz. O jogo (negligência) desfaz essa ligação. O rito semo mito vira jogo, é devolvido ao livre uso das pessoas. O mitosem o rito perde o caráter sagrado, vira uma estória. Importan-te lembrar que negligência não significa falta de atenção. Umacriança, quando joga, tem toda a atenção no jogo. Ela apenas
4.Coisa aqui significaidéias, objetos, pessoas,palavras, animais, ritos,danças, etc.

66
Entre Redes
negligencia o uso sagrado ou o mito que fundamenta o rito. Acriança negligencia a proibição.
Devemos dessacralizar a economia, o direito, a política, devol-vendo estas esferas ao livre uso do povo. Construir novos usoslivres.
Numa época na qual a dessacralização é fundamental diante dadimensão que a sacralização tomou, as pessoas, em meio ao de-sespero, buscam um retorno ao sagrado em tudo. O jogo comoprofanação, como uso livre está, hoje, decadente. As pessoasparecem incapazes de jogar e isso se demonstra com a proli-feração de jogos prontos, sacralizados, com regras herméticas,nos quais os novos usos são quase impossíveis ou invisíveis. Osjogos televisados, como grandes espetáculos de massa, acom-panham a profissionalização e a mitificação dos jogadores (osídolos).
A secularização dos processos de sacralização que dominam associedades contemporâneas permite que as forças de separaçãopermaneçam intactas, sendo apenas mudadas de lugar. A pro-fanação, de maneira diferente, neutraliza a força que subtrai olivre uso, neutraliza a força do que é profanado. Trata-se deduas operações políticas: a primeira mantém e garante o poderpor meio da junção do mito e rito agora em outro espaço; a se-gunda desativa os dispositivos do poder, separa o rito do mito,permitindo o livre uso.
O capitalismo é mostrado por vários autores como um espa-ço de secularização dos processos de sacralização. Max We-ber mostra o capitalismo como secularização da fé protestan-te; Benjamin demonstra que o capitalismo se constitui em umfenômeno religioso que se desenvolve de forma parasitária apartir do cristianismo.
Para Agambem (2005), o capitalismo tem três fortes caracterís-ticas religiosas específicas:
a) É uma religião do culto mais do que qualquer outra. No capi-talismo tudo tem sentido relacionado ao culto e não em relaçãoa um dogma ou idéia. O culto ao consumo, o culto à beleza, àvelocidade, ao corpo, ao sexo, etc;
b) É um culto permanente, sem trégua e sem perdão. Os dias

“Violência e exclusão...”
67
de festas e de férias não interrompem o culto, ao contrário, oreforçam;
c) O culto do capitalismo não é consagrado à redenção ou àexpiação da falta, uma vez que é o culto da falta. O capitalismoprecisa da falta pra sobreviver. O capitalismo cria a falta para,então, supri-la com um novo objeto de consumo. Assim queeste objeto é consumido, outra falta aparece para ser suprida. Ocapitalismo talvez seja o único caso de um culto que, ao expiara falta, mais a torna universal.
O capitalismo, por ser o culto, não da redenção e sim da falta,não da esperança, mas do desespero, faz com que este capita-lismo religioso não tenha como finalidade a transformação domundo, mas sim sua destruição.
Existe no capitalismoumprocesso incessante de separação únicae multiforme. Cada coisa é separada dela mesma, não importan-do a dimensão sagrado/profano ou divino/humano. Ocorre umaprofanação absoluta, sem nenhum resíduo, que coincide comuma consagração vazia e integral, ou seja, o capitalismo profa-na as idéias, objetos, nomes não para permitir o livre uso, maspara ressacralizar imediatamente. Um automóvel não é mais umobjeto usado para o transporte e sim um objeto de desejo queoferece, para quem compra, status, poder, velocidade, emoção,reconhecimento. O consumidor, geralmente, não compra o bemque pode transportá-lo. O que o consumidor compra não podeser apropriado, pois o que é consumível é inapropriável. O con-sumidor compra o status, o reconhecimento, a ilusão de poder,a velocidade e isso não pode ser apropriado, desaparece na me-dida em que é consumido. Trata-se de um fetiche incessante.Aoconferir um novo uso a ser consumido, qualquer uso durável setorna impossível: esta é a esfera do consumismo.
Na lógica da sociedade de consumo, a profanação torna-se quaseimpossível, visto que o que se usa não é o uso inicial do objeto,mas o novo uso dado pelo capitalista. Logo, o que se consomese extingue e desaparece e, portanto, não pode ser dado novouso. Não há possibilidade de liberdade dentro desse sistema.O novo uso da liberdade exige enxergarmos esse processo deaprisionamento da lógica capitalista de consumo.
O consumo pode ser visto como uso puro que leva à destruiçãoda coisa consumida. Ele é, portanto, a negação do uso, uma

68
Entre Redes
vez que há esta negação, pressupondo que a substância da coisafique intacta. No consumo, a coisa desaparece no momento douso.A propriedade é uma esfera de separação, é um dispositivo quedesloca o livre uso das coisas para uma esfera separada quese converte no Estado moderno em direito. Entretanto, o queé consumido não pode ser apropriado. Os consumidores sãoinfelizes nas sociedades de massa não apenas porque eles con-somem objetos que incorporam uma não aptidão para o uso,mas também porque eles acreditam exercer sobre essas coisasconsumidas o seu direito de propriedade. Isso é insuportável etorna o consumo interminável. Como não me aproprio do queconsumi, tenho que consumir de novo e de novo para alimentara ilusão de apropriação. Essa escravidão ocorre pela incapaci-dade de profanar o bem consumido e pela incapacidade de en-xergar o processo no qual o consumidor está mergulhado até acabeça.
3. A questão da nomeação: como as identificações podemdesagregar, descriminar e justificar a violência
Neste capitulo veremos como as nomeações de grupos, os no-mes coletivos que serviram para a unificação do poder do Esta-do serviram, historicamente, para desagregar, excluir e justificargenocídios e outras formas de violência.
A construção dos significados que escondem complexidades ediversidades é o tema do livro de Alain Badiou (2005), La por-tée du mot juif. Cita o autor um episódio ocorrido na França háalgum tempo: o primeiro-ministro, Raymond Barre, comentan-do um atentado a uma sinagoga, falou para a imprensa francesasobre o fato de que morreram judeus que estavam dentro dasinagoga e franceses inocentes que passavam à rua quando abomba explodiu. Qual significado da palavra judeu agiu de ma-neira indisfarçável na fala do primeiro-ministro? A palavra “ju-deu” escondeu toda a diversidade histórica, pessoal e do grupode pessoas que são chamadas por esse nome. A nomeação é ummecanismo de simplificação e de geração de preconceitos quefacilita a manipulação e a dominação. A estratégia de nomearfacilita a dominação.5
Badiou (2005) menciona que o antisemitismo de Barre nãomais é tolerado pela média da opinião pública francesa. Entre-tanto, outro tipo de anti-semitismo surgiu vinculado aos mo-
5.Outro mecanismo dedominação e manipula-ção do real é a estraté-gia amplamente utilizadapela imprensa de explicaro geral pelo fato particu-lar. Slavoj Zizek, no livroPlaidoyer em faveur del’intolerance, mencionadois exemplos norte-americanos. Cita o caso,por exemplo, da jovemmulher de negócios bemsucedida que transa como namorado, engravidae resolve abortar paranão atrapalhar sua car-reira. Este é um caso queocorre entre milhares,talvez milhões de outrassituações. Entretanto, opoder toma este casocomo exemplo perma-nente para demonstrar oegoísmo que representao aborto diante da opin-ião pública. Ao explicar ogeral pelo particular, ouconstruir predicados paragrupos sociais, a tarefade manipulação para adominação se torna maisfácil.

“Violência e exclusão...”
69
vimentos em defesa da criação do estado palestino. No livro,Badiou (2005) não pretende discutir o novo ou o velho antisemitismo, mas debater a existência de um significado excep-cional da palavra “judeu”, um significado sagrado, retirado dolivre uso das pessoas.6
Assim como ocorre com várias outras palavras, porém de formamenos radical (liberdade e igualdade, por exemplo), a palavra“judeu” foi retirada do livre uso, da livre significação. Ela ga-nhou um status sacralizado especial, intocável. O seu sentido épré-determinado e intocável, vinculado a um destino coletivo,sagrado e sacralizado, no sentido de que retira a possibilidadede as pessoas enxergarem a complexidade, historicidade e di-versidade de quem recebe este nome.
Este autor ressalta que o debate envolvendo o anti-semitismoe a necessidade de sua erradicação não recebe o mesmo trata-mento de outras formas de discriminação, perseguição, exclu-são ou racismo. Existe uma compreensão no que diz à palavra“judeu” e à comunidade que reclama este nome, que é capazde criar uma posição paradigmática no campo dos valores, su-perior a todos os demais. Não propriamente superior, mas emum lugar diferente. Assim, pode-se discutir qualquer forma dediscriminação, no entanto, quando se trata do “judeu”, a ques-tão é tratada como universal, indiscutível, seja no sentido deproteção, seja no sentido de ataque. Da mesma forma, toda pro-dução cultural e filosófica, assim como as políticas de Estado,tomam essa conotação excepcional. Talvez nenhum outro nometenha tido tal conotação ou, para Badiou (2005), a força e aexcepcionalidade do nome “judeu” só tenha tido semelhançacom a sacralização do nome Jesus Cristo. Não há, contudo, ummedidor para essa finalidade. O fato é que o nome “judeu” foiretirado das discussões ordinárias dos predicados de identidadee foi especialmente sacralizado.
O nome “judeu” é um nome em excesso com relação aos no-mes ordinários e o fato de ter sido uma vitima incomparável setransmite não apenas aos descendentes, como também a todosque cabem no predicado concernente, sejam chefes de Estado,chefes militares, mesmo que oprimam os palestinos ou quais-quer outros. Logo, a palavra “judeu” autoriza uma tolerânciaespecial com a intolerância daqueles que a portam ou, ao con-trário, uma intolerância especial com os estes. Depende do ladoem que se está.
6.É fundamental lerGiorgio Agambem,especialmente o livroHomo Sacer, publicadopela editora UFMG, BeloHorizonte. Ler tambémo texto Profanation, domesmo autor, publicadoem Paris, 2005, pelaeditora Payot e Rivages.Neste ultimo texto, o au-tor explica o processode sacralização comomecanismo que retirado livre uso das pessoasdeterminadas coisas, ob-jetos, palavras, jogos, etc.Através da profanação,do rompimento do ritocom o mito, é possíveldevolver estas coisas,palavras ao livre uso.

70
Entre Redes
Uma lição importante que se pode tirar da questão judaica, daquestão palestina, do nazismo e outros nomes que lembrammassacres ilimitados de pessoas é a de que toda introdução en-fática de predicados comunitários no campo ideológico, políti-co ou estatal, seja de criminalização (como nazista ou fascista),seja de sacrifício (como cristãos e judeus e mulçumanos), nosexpõe ao pior.
Esta mesma lógica se aplica à nomeação de um estado judeu.Primeiro, porque um estado democrático não pode ser vincu-lado a uma religião. Segundo, porque esta nomeação pode ge-rar privilégios. Uma democracia exige um estado indistinto doponto de vista identitário.
Vários equívocos podem ser percebidos quando da aceitaçãoou utilização do predicado radical para significar comunidades,países, religiões, etc. Por exemplo, podemos encontrar pessoascomprometidas com projetos democráticos, fechando os olhosou mesmo apoiando um anti-semitismo palestino, tudo pelaopressão do estado judeu aos palestinos ou, ao contrário, a tole-rância de outras pessoas, também comprometidas com um dis-curso democrático, a práticas de tortura e assassinatos seletivospor parte do estado de Israel, por ser este um estado “judeu”.
Combater as nomeações, a sacralização de determinados nomessignifica defender a democracia, o pluralismo; significa o reco-nhecimento de um sujeito que não ignora os particularismos,mas que os ultrapassa, que não tenha privilégios e que não inte-riorize nenhuma tentativa de sacralizar os nomes comunitários,religiosos ou nacionais.
Badiou (2005) dedica seu livro a uma pluralidade irredutível denomes próprios, o único real que se pode opor à ditadura dospredicados.
O filme Trem da vida é um maravilhoso poema à pluralidade denomes próprios que foram reduzidos a um predicado “judeu”na segunda guerra mundial. O filme ressalta a pessoa, os gru-pos dentro dos grupos e como a identificação com determinadosgrupos dentro de outro grupo gera segregação; ressalta a intro-dução do tema identidade e identificação com grupos, religiões,estados, partidos, idéias, como fator de segregação, sempre ir-

“Violência e exclusão...”
71
racional. Destaca a anulação do sujeito livre com a anulação donome próprio em função do nome de um grupo.4. Múltiplas identidades: a cidade cosmopolita perdida emconflitos de micro-identidades
Há uma forte diferença entre bandidos emocinhos no imagináriosocial e uma ausência dessa diferenciação nas práticas sociaisdiárias. A repressão policial diária desrespeita a privacidade, adignidade; a repressão humilha pelo simples fato da condiçãosocial ou da cor do sujeito. Um discurso repetido tem sido o deque a ordem constitucional não permite à polícia trabalhar, logoesta tem que agir fora do Direito, contra o Direito.
O filme Crash mostra até onde as nomeações, das quais trata-mos anteriormente, podem chegar a uma sociedade dita cosmo-polita. Se o problema da nomeação de um “estado judeu” queprocura unificar todos os grupos sociais, classes sociais, idadese outras diferenças sociais, e todos os nomes próprios, em umaúnica denominação, pode justificar privilégios e discriminaçõesexcepcionais, a fragmentação da sociedade em pequenos gru-pos de identidades em pequenas nomeações pode gerar outrostipos de problemas. A sociedade cosmopolita de Los Angeles,Nova York, São Paulo, Londres e Paris não está além das no-meações ou dos predicados radicais. Ela está multifragmentadaem diversos predicados radicais.
Negros, asiáticos, coreanos, chineses, árabes, turcos, persas,nordestinos, brancos, góticos, cabeças raspadas, nacionalistas,racistas, mexicanos, hispânicos, caucasianos e mais um montede nomeações convivem no espaço “democrático” da cidade.São obrigados pela lei a se suportarem, embora os que apli-cam a lei pertençam a um grupo e vejam o mundo limitadospela compreensão do seu grupo. Até mesmo nos nomes pró-prios carregam a identidade do grupo a que pertencem, mesmosem quererem pertencer: Shaniqua é um nome negro; Saddam éum nome iraquiano; Hassan é um nome muçulmano; Ezequielé um nome evangélico; Pedro é um nome cristão; David é umnome judeu. O nome próprio é abafado pelo nome do grupo.O nome próprio é condicionado pelo predicado radical. O filmemostra que é possível se libertar do nome grupal e resgatar algouniversal, algo humano, além das nomeações de grupos, etnias,cores, países, religiões. Algo humano universal que resgate onome próprio.
7.BADIOU, Alain. Cir-constances, 3 – portéesdu mot “juif”. Paris: Edi-tions Lignes e manifeste,2005, p.15.

72
Entre Redes
A aposta de Badiou (2005)7 em um estado contemporâneo in-distinto em sua configuração identitária pode não ser a supera-ção das nomeações e da sacralização de determinados nomes.Este estado contemporâneo democrático plural que tenha umsujeito que não ignora os particularismos, mas que o ultrapasse,que não tenha privilégios e que não interiorize nenhuma tentati-va de sacralizar os nomes comunitários, religiosos ou nacionaistalvez ainda não exista. O que o filme mostra é uma realidadefragmentada por nomes grupais sacralizados, porém não elimi-na a esperança de um espaço livre de sacralizações.
Esses nomes grupais sacralizados podem gerar novas guerrastribais, pois a construção de uma identidade nacional é ultrapas-sada por diversas identidades grupais ou mesmo é construídajustamente sobre o reforço destas identidades grupais. Isso seressalta no caso estadunidense em que a identidade nacionalé construída em parte, pelo menos nos espaços cosmopolitasdas grandes cidades, sobre a idéia de uma democracia étnico-racial multi-identitária que se opõe às identidades nacionaisintolerantes e uniformes. Nesse nome comprido faltou a práti-ca democrática. Pior quando se acredita poder fazer cumprir apretensa democracia étnico-racial, multi-identitária por meio dalei e, logo, do controle policial. A polícia também é um grupocorporativo e preconceituoso que anula os sujeitos quando estesestão fardados, quando estão no meio do grupo. Este grupo queacredita simbolizar a própria lei se sente no direito muitas vezesde ignorar o Direito para se autopreservar e preservar a imagemconstruída no grupo para o próprio grupo.
No filme citado, prevalece a idéia da sobrevivência dos nomespróprios encobertos pelos nomes grupais. O dado humano uni-versal sobrevive ao preconceito, às simplificações.
Considerações finais
Percorremos um longo caminho da formação do Estado Nacio-nal, da imposição de uma religião, de um idioma, da construçãoartificial e violenta de uma identidade nacional até as socieda-des cosmopolitas, multi-identitárias, plurais tão tolerantes que,muitas vezes, chegam ao desprezo e tão individualistas que che-gam ao egoísmo.

“Violência e exclusão...”
73
Se, de um lado, fomos capazes de trilhar um caminho de con-quistas de direitos, de afirmação do Estado Constitucional e,mais importante, do discurso constitucional, da efetividade dealguns direitos individuais e políticos e do reconhecimento dopoder pela legitimidade democrática e pela extensão das liber-dades individuais, muito ainda há por fazer pela superação dasbrutais diferenças econômicas, pela indiferença à miséria, pelaafirmação dos direitos sociais e econômicos desconstruídos nasúltimas duas décadas pelo cruel projeto neoliberal.
A construção de uma sociedade democrática includente enão violenta depende da superação dessas diferenças sócio-econômicas. Para além da universalização dos direitos sócio-econômicos, uma nova cultura humana precisa ser discutida eo reconhecimento de direitos humanos universais depende danossa capacidade de percebermos o ser humano único, essasingularidade coletiva que somos, essa condição comum e, aomesmo tempo, singular de sermos um nome próprio, constru-ído por uma história única da qual participam muitas pessoas.Devemos ser capazes de enxergar e lembrar de buscar, sempre,essa singularidade escondida atrás dos nomes coletivos. Umapessoa é múltipla, dinâmica, cada pessoa é um ser em constan-te transformação. Logo, ninguém “é” apenas. As pessoas estãosempre se transformando, estão sempre virando alguma outracoisa, conforme o contexto que se coloca diante delas. Não sepode reduzir uma pessoa a um nome coletivo: “fulano” não éjuiz, mas uma pessoa que exerce aquela função; “cicrano” não ébandido, mas praticou determinados atos ilícitos; esta ou aquelapessoa é muito mais do que sua condição social, que seu gêne-ro, que sua opção sexual, que sua cor, que sua religião, que seugrupo étnico ou sua nacionalidade. Quando formos capazes dever essa imensa diversidade e complexidade humana por detrásdos nomes coletivos, então não existirão mais genocídios, nãoexistirá mais a miséria ou exclusão, pois ninguém suportará verum igual na diferença em condição tão desigual.
Quando nos referimos às pessoas como “eles”, estamos a umpasso do genocídio: eles, os judeus; eles, os muçulmanos; eles,os hutus, etc. Quando resumimos uma vida a um predicadocomo “bandido”, estamos condenando uma pessoa à exclusão;quando chamamos outras pessoas de judeus, cristãos, muçul-manos estamos construindo muros de difícil transposição. So-mos todos pessoas. Pessoas únicas e complexas que podem ser,

74
Entre Redes
simultaneamente, um monte de coisas, mas seremos, no final esempre, pessoas como quaisquer outras pessoas.
Referências bibliográficas
AGAMBEM, Giorgio. Profanation. Paris: Payot et Rivages,2005.
__________________. Homo Sacer. Belo Horizonte: EditoraUFMG, 2005.
BADIOU, Alain. Circonstances, 3 – portées du mot “juif”. Pa-ris: Editions Lignes e manifeste, 2005.
CREVELD, Martin van Creveld. Ascensão e declínio do Esta-do. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
CUEVA, Mario de la. La idea del Estado. Fondo de CulturaEconômica, Universidad Autônoma de México, 5. ed. México,D.F., 1996.
ZIZEK, Slavoj. Plaidoyer en faveur de l’intolerance. Ed. Cli-mats, Castelnau- Le-Lez, 2004.

“Violência e exclusão...”
75


Escola, redes sociais e construção defatores protetivos: desafios
contemporâneos para uma sociedade maisimplicada com os processos educativos
das crianças e dos adolescentes
Geovania Lúcia dos Santos
Luiz Carlos Felizardo Junior
Walter Ude
Geovania Lúcia dos SantosMestre em Educação pela UFMG. Professora Assistente do Departamento
de Ciências Humanas da UNIFAL (MG).
Luiz Carlos Felizardo JuniorMestre em Educação pela UFMG. Pesquisador do Grupo de Pesquisa
Juventude e Educação na Cidade (FAE/UFMG).
Walter Ernesto Ude MarquesDoutor em Psicologia pela UnB. Pós-doutor em Psicossociologia e Sociologia
Clínica pela UFF. Professor Associado da FAE/UFMG.

78
Entre Redes
1. Introdução: a dimensão protetiva na ação escolar em umaperspectiva histórica
A dimensão protetiva da escola em relação às crianças e aosadolescentes é um dos elementos definidores dessa instituiçãodesde que fora criada, no alvorecer da modernidade ocidental.Tal afirmativa encontra sustentação, por um lado, no estudo dosmodos como contemporaneamente entendemos a proteção aesses sujeitos de direitos, em condições especiais de desenvol-vimento e os mecanismos de sua efetivação e, por outro lado,na compreensão do processo histórico no qual a instituição foracriada e vem sendo materializada.
Contudo, se é fato que à escola atribui-se socialmente a res-ponsabilidade de contribuir para a proteção das novas geraçõesdesde sempre, não se pode pensar que a compreensão do sig-nificado dessa dimensão e, por conseguinte, das formas de suaefetivação, permaneçam os mesmos ao longo do período que seestende entre os séculos XVI e XXI.
A consideração de que, muito embora a escola tenha sido desdesempre um lugar encarregado, entre outras coisas, de protegeras novas gerações, mas que essa proteção nem sempre foi en-tendida e efetivada do mesmo modo nos leva a, nas páginasseguintes, estimular os leitores a refletirem sobre as diferençasque identificamos quando nos detemos no estudo das formassociais de se compreender e implementar essa dimensão em pe-ríodos específicos da história da instituição.
Pretendemos, por meio da construção de um paralelo entre ocontexto de criação da escola moderna e o contexto atual, pon-tuar algumas mudanças que percebemos nas formas de compre-ender e efetivar a proteção às novas gerações na e pela esco-la, ratificando a importância de disseminarmos a compreensãocontemporânea que aponta para o compromisso da escola empromover a proteção integral das crianças e dos adolescentes.
2.Aproteção à criança no contexto da constituição da escolamoderna
Em seu estudo acerca de como se constituiu a concepção mo-derna de infância e de família, Philippe Ariès (1981) revela a

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
79
relação intrínseca entre esse processo e o surgimento do modelode escola ainda vigente. Segundo ele, uma vez construída so-cialmente a percepção da criança enquanto ser singular, passívele demandante de cuidados específicos como resultado de umprocesso histórico iniciado no século XVI -, a escola fora eleitacomo a instituição por meio da qual a sociedade poderia proveresses seres da proteção e dos cuidados para eles aspirados.
Assim, na base do discurso moralista e moralizante do contextoreformista, a escola emergiu como tempo-espaço destinado àproteção da criança, proteção esta que pressupunha sua separa-ção, preferencialmente na forma de isolamento, do mundo adul-to, uma vez que, neste, sua maleabilidade, fragilidade, rudeza,fraqueza de juízo e inocência a tornava bastante vulnerável epassível de degenerescência (VARELA e ALVAREZ, op. cit,pp. 71-72).
Tratava-se, pois, de extraí-la ao mundo adulto no qual era pre-parada para a vida para, isolada desse universo, ser dotada daforça de caráter e demais qualidades que a preparasse paranele ingressar, estando menos vulnerável e suscetível aos ris-cos e tentações ali abundantes, conforme atesta o próprio Áries(1981):
A partir de um certo período (...) a escolasubstitui a aprendizagem como um meiode educação. Isto quer dizer que a criançadeixou de ser misturada aos adultos e deaprender a vida diretamente, através docontato com eles. (...) A criança foi separa-da dos adultos e mantida à distância numaespécie de quarentena, antes de ser solta nomundo. Essa quarentena foi a escola, o co-légio (ARIÈS, 1981, Prefácio).
Entender que a escola foi pensada e adotada como um tempo-espaço de proteção à infância não significa desconsiderar suadimensão educativa propriamente dita. Contrariamente, pode-seafirmar que foi exatamente pelo afã educativopedagógico, ouseja, pelo desejo de formar, por meio do trabalho junto às crian-ças, um determinado tipo de sociedade, que a dimensão proteti-va da instituição emergiu: “Começou então um longo processode enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobrese das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual sedá o nome de escolarização” (idem; grifo do autor).

80
Entre Redes
A continuidade da argumentação de Ariès (1981) apresentadaacima corrobora tal percepção, não deixando dúvidas acerca daassociação entre as tarefas de educar e proteger, bem como emrelação ao entendimento de que a realização de uma estava in-trinsecamente ligada à outra. O fato de o autor apontar para acontinuidade desta associação até nossos dias chama a atenção,levando-nos a nos perguntar: em que medida se compreende,contemporaneamente, a relação entre educação e proteção? Se-riam nossas escolas espaços nos quais impera a compreensão deque a tarefa de educar pressupõe proteger? Trata-se de questõesque tentaremos retomar mais adiante. Por hora, continuaremosa refletir acerca do ponto inicial desta análise, qual seja, a di-mensão protetiva no contexto da constituição da educação es-colar moderna.
Muito embora o estudo de Philippe Ariès (1981) revele, comriqueza de detalhes, o processo que resultou na definição doestatuto da infância e aponte para o paralelismo que há entre talprocesso e a constituição da escola moderna, o entendimento docaráter protetivo dessa instituição se mostra ali apenas de formaindiciária. Isso porque, segundo Varela eAlvarez-Uria (1992), ofoco daquele trabalho é a “infância de qualidade” que se forma-rá nos colégios para governar. A infância pobre, segmento sobreo qual recairá a dimensão protetiva da escola de modo maisdireto e intencional, pouca atenção recebe de Áries (1981), umavez que seu estudo fora construído a partir da análise de fontesque quase nada revelam nesse sentido.
Ariès (...) relaciona a constituição da infân-cia com as classe sociais, com a emergên-cia da família moderna, e com uma série depráticas educativas aplicadas especialmen-te nos colégios. Mas relega a um segundoplano um tanto longínquo as táticas empre-gadas no recolhimento e moralização dosmeninos pobres (sem dúvida o acesso aum material que permita tal estudo é muitomais complicado) (VARELA e ALVAREZURIA, 1992, p. 75).
A análise mais detida do trabalho de Áries (1981), em paraleloao estudo do trabalho de Varela e Alvarez-Uria (1992), deixaclara a existência de interesses diferenciados no que se refereà proteção das crianças pela escola no contexto de sua criação,bem como a variação de interesses conforme a pertença social

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
81
dos educandos. Nesse sentido, pode-se acrescentar à lista o tra-balho de Mariano Enguita (1989), para quem a escola repre-sentou, igualmente, um período de quarentena no qual, estandoafastada ou com uma inserção diferenciada no mundo adulto,a infância seria preparada para nele reingressar, ocupando es-paços bastante específicos e cumprindo funções previamentedefinidas.
Nos três trabalhos e, de modo mais específico nos dois últimos,a pertença social da criança aparece como um indicativo do sen-tido dado à dimensão protetiva. No caso das crianças pobrestratava-se, em última instância, de recolhê-las sob os cuidadosdo Estado com vistas não exatamente à proteção de sua integri-dade, mas sim de proteger a sociedade dos riscos aos quais esta-ria sujeita, caso não se empreendesse um programa de formaçãoestruturado e executado com o objetivo de regenerar essa infân-cia, eliminando-lhe os vícios e demais inclinações socialmenteindesejáveis advindas de sua origem.
Quer fosse para governar, quer fosse para ser governada, querfosse para receber formação de caráter religioso disciplinador,quer fosse para receber formação moral e intelectual, tanto a“infância rude das classes populares” quanto a “infância angéli-ca e nobilíssima do Príncipe” e, por fim, a “infância de qualida-de dos filhos das classes distinguidas” (VARELA eALVAREZURIA, 1992) tiveram, nos primórdios da modernidade, a escolacomo um espaço de separação do mundo adulto no qual seriamdele protegidas para, posteriormente, nele ocupar o lugar quelhes era devido. À formação escolar associou-se, desse modo, adimensão da proteção da infância daqueles e/ou daquilo que aameaçava, ou seja, da sociedade.
Em um texto bastante instigante acerca da educação da infânciano Brasil, Kuhlmann Jr.(2000) revela, com base no estudo dahistória das instituições destinadas à educação das nossas crian-ças - história esta que, segundo ele, possui apenas pouco mais deum século –, o modo como a idéia de proteção, via assistênciasocial, esteve intimamente relacionada à de educação, notada-mente no que se refere à infância pobre. Inspirados, sobretudo,em ideais estrangeiros “(...) políticos, educadores, industriais,médicos, juristas, religiosos (...) se articulam na criação de as-sociações e na organização de instituições educacionais para acriança pequena” (KUHLMAN JR, 2000, p. 477).

82
Entre Redes
Trabalhando articuladamente, tais lideranças assumiram a defe-sa da criação de creches, jardins de infância e escolas maternaisnas quais - não exclusivamente, mas de forma predominante -as mães pobres poderiam deixar seus pequenos sob a proteçãoe os cuidados de agentes especializados no ofício, liberando-separa trabalhar.¹
A associação da idéia de proteção à criança à atividade de edu-cação das novas gerações a ser realizada pela escola consiste,assim, em uma realidade tanto na Europa quanto no Brasil, ain-da que os processos de sua constituição e institucionalização te-nham se dado de formas diferenciadas. A existência dessa idéiae sua realização, também em ambos os lugares, se fazia a partirdo reconhecimento, por parte dos poderes instituídos, da inca-pacidade do mundo adulto e, mais especificamente, da família,para cuidar, educar e garantir à criança o desenvolvimento detodas as propriedades necessárias a um bom preparo para in-gressar e servir à sociedade.
Na percepção dos ideólogos da escola, tratou-se, pois, em am-bos os casos, da criação, institucionalização e posterior atribui-ção de centralidade social a um mecanismo capaz de realizara tarefa que o mundo adulto, leia-se as famílias, se mostravaincapaz de dar conta, que era a de cuidar e formar as novasgerações.
Em vista disso, temos que, nos primórdios da escola moderna,a proteção à infância era não só uma das tarefas socialmenteatribuídas à instituição, mas, e principalmente, que se fazia sobo entendimento de que seu êxito seria tanto maior quanto maisafastada da família e, por extensão do mundo adulto, as crian-ças fossem mantidas. A escola, nesse modelo de análise, se eri-ge contra as famílias (VARELA e ALVAREZ, 1992; CUNHA,2000), sob o argumento de que atuará em seu favor, na medidaem que realizará, para ela, as funções que lhes são devidas, maspara cuja satisfação seus membros não dispõem das qualidadese tampouco dos conhecimentos necessários.
3. A dimensão protetiva da escola no contexto atual
Se considerarmos que a escola foi erigida como instituição for-madora central nas sociedades ocidentais e que, para tal, pro-moveu a desqualificação da família e demais instâncias socia-
1.Chama a atenção, notexto, as referências aentidades filantrópicasdestinadas à proteçãoda infância que busca-vam prover a criançade uma série de cuida-dos, dentre os quais sedestaca a proteção cujolocus privilegiado eramas instituições educativas.Para saber mais sobre aproteção à infância nocontexto brasileiro, reco-mendamos a leitura dePilotti e Rizzini (1995).

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
83
lizadoras, tomando para si o exclusivismo no que se refere àformação das novas gerações, também devemos considerar ofato de que vivemos, na atualidade, um contexto no qual essarealidade tem sido não só questionada, como também revistapor meio de uma série de dispositivos sociolegais.
Muitas são as razões para essa mudança e, embora a reflexãosobre elas seja um exercício bastante interessante, não nos dete-remos nesse aspecto, dados os limites do texto e a necessidadede não perdermos nosso foco de análise. Resultado de um longoprocesso, a mudança na forma de conceber a função da esco-la e os modos de sua realização situa-se no bojo de mudançassociais mais significativas que dizem respeito às novas formasde conceber a infância, a adolescência, bem como os modos dea sociedade estar e lidar com esse seu segmento naturalmentevulnerável.
Apromulgação da Constituição Federal Brasileira, em 1988, foio passo inicial para ratificação, no plano jurídico legal, da nossaatual concepção de infância e adolescência:
Art. 227. É dever da família, da sociedadee do Estado assegurar à criança e ao ado-lescente, com absoluta prioridade, o direitoà vida, à saúde, à alimentação, à educação,ao lazer, à profissionalização, à cultura, àdignidade, ao respeito, à liberdade e à con-vivência familiar e comunitária, além decolocá-los a salvo de toda forma de negli-gência, discriminação, exploração, violên-cia, crueldade e opressão (BRASIL, 2004,p. 43).
Como se pode observar, nossa Carta Magna sinalizou, com oreconhecimento da responsabilidade de toda a sociedade, paracom o cuidado, proteção e promoção das crianças e adolescen-tes.
Tal reconhecimento foi posteriormente ratificado em 1990, coma promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA(Lei 8069/90) e com a assinatura, pelo Brasil, da ConvençãoSobre os Direitos da Criança, no mesmo ano. Juntos, esses trêsdispositivos legais deram a base sobre a qual se tem consoli-dado, em nossa sociedade, o entendimento de crianças e ado-lescentes como sujeitos de direitos, em condições especiais de

84
Entre Redes
desenvolvimento.
Conforme ressaltado por Nóvoa (1999), no que tange ao aten-dimento de crianças e adolescentes, a escola foi, ao longo desua história, se esforçando para compensar a fragilidade das fa-mílias e da sociedade, assumindo um número cada vez maiorde missões. Nesse contexto tudo foi passando para dentro dasescolas, como se fosse possível resolver todos os problemasdas crianças e dos jovens no espaço escolar. Tal situação já deuclaros sinais de ter atingido o limite, colocando-nos diante doreconhecimento de que
a escola e os professores não podem colma-tar a ausência de outras instâncias sociaise familiares no processo de educar as ge-rações mais novas. Ninguém pode carre-gar nos ombros missões tão vastas comoaquelas que são cometidas aos professores,e que eles próprios, por vezes, se atribuem(NÓVOA, 1999, p. 16).
Em vista disso, ganha relevo a idéia de que à escola não caberesolver isoladamente todas as questões relativas à infância eadolescência, mas, por outro lado, faz-se necessário reconhe-cer sua responsabilidade no sentido de contribuir para que issoaconteça.
A compreensão da impossibilidade de quaisquer agências ouinstituições darem conta, isoladamente, do cuidado, proteção epromoção das novas gerações e, sobretudo, o reconhecimentode ser essa uma tarefa pela qual toda a sociedade deve se res-ponsabilizar também se faz presente na normatização da educa-ção, conforme expresso no texto da Lei de Diretrizes e Bases daEducação Nacional - LDB:
Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino,respeitadas as normas comuns e as do seusistema de ensino, terão a incumbência de:(...)VI - articular-se com as famílias e a comu-nidade, criando processos de integração dasociedade com a escola (BRASIL, 1996, p.3)
A obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino se articula-

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
85
rem às famílias e à comunidade, como estratégia para executara tarefa que lhes é socialmente atribuída representa um grandepasso no sentido da revisão do entendimento de outrora, quan-do, conforme já tivemos a oportunidade de destacar, entendia-se que a não participação da família na escola seria a condiçãopara o êxito da educação das novas gerações.
Tal articulação também é prevista no que se refere à atuação dosprofissionais da educação, em relação aos quais a Lei é bastanteexplícita:
Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de:(...)VI - colaborar com as atividades de articu-lação da escola com as famílias e a comuni-dade (idem, p. 4)
Indo além da recomendação de uma articulação entre escolas,família e comunidade, nossa legislação do ensino recomenda aparticipação efetiva da sociedade na organização, planejamentoe funcionamento dos estabelecimentos públicos de ensino, pormeio da institucionalização da gestão democrática, conforme sepode ler abaixo:
Art. 14º. Os sistemas de ensino definirãoas normas da gestão democrática do ensi-no público na educação básica, de acordocom as suas peculiaridades e conforme osseguintes princípios:(...)II - participação das comunidades escolar elocal em conselhos escolares ou equivalen-tes (ibdem, p. 4)
Trata-se, pois, de uma série de dispositivos por meio dos quaisse busca consolidar o entendimento de que crianças e adoles-centes são sujeitos aos quais se devem dar prioridade e que, porestarem em condições especiais de desenvolvimento, deman-dam o empenho de toda a sociedade, com vistas à garantia desua proteção integral, condição sine qua non para prover-lhes odesenvolvimento integral conforme preconizado pelo ECA.
Diferentemente de atribuir à escola a responsabilidade pela re-solução de problemas sociais de grande abrangência, trata-se dereconhecer que a proteção integral desses sujeitos de direitos

86
Entre Redes
representa uma dimensão de sua função educativa, uma vez quese sabe que, somente estando protegidos, as crianças e adoles-centes terão possibilidades de prosseguir em seu processo dedesenvolvimento integral, recebendo, dessa instância socializa-dora, a formação que lhe cabe promover.
De ummodo geral, os educadores e demais profissionais da edu-cação têm atuado no sentido de buscar respostas para a infinida-de de problemas que comprometem seu fazer social, humano,cidadão, profissional e ético de formação das novas gerações. Odesejo de superação de condições adversas, contudo, muitas ve-zes esbarra nos limites próprios de quem acredita poder superá-las com uma boa dose de dedicação e empenho pessoais.
Socialmente, já demos um salto bastante significativo, impreg-nando a legislação relativa à infância e adolescência e educacio-nal com a idéia co-responsabilidade e participação democrática.Entendemos que, no tocante à escola, faz-se necessário passar-mos da idéia do isolamento social, disseminando o entendimen-to de que, quanto mais aberta e articulada às demais agênciassociais ligadas à criança, aos adolescentes e às famílias seusprofissionais se posicionarem, maiores as possibilidades de êxi-to.
Certamente, existem muitos caminhos e estratégias por meiodos quais se tornará possível à escola somar seus esforços a tan-tos outros esforços dispersos voltados à proteção e promoçãodas crianças e adolescentes, potencializando, assim, as açõesexecutadas nesse sentido. Nas páginas que seguem, faremosuma breve discussão acerca da metodologia das redes sociais edas configurações pessoais, entendidas por nós como importan-tes procedimentos de fortalecimento da escola e, por extensão,da sociedade, para a garantia do desenvolvimento mais integralde nossas crianças e adolescentes.
4. Redes sociais e educação: a articulação da escola parapromoção da proteção integral à criança e ao adolescente
A pretensão de enfrentar problemas complexos com propostassimplificadoras que se respaldam numa única explicação ounuma causalidade linear vem se mostrando impraticável frenteaos diversos problemas que têm afetado a vida humana, nosúltimos tempos. Diante disso, somos desafiados a desenvolver

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
87
um olhar mais integrador que procura perceber as fronteirasexistentes entre as diversas dimensões que compõem a configu-ração da realidade observada. Nesse sentido, o termo comple-xus representa, na sua etimologia, “aquilo que é tecido junto”(MORIN, 1996, p. 188). Tal constatação nos provoca a rompercom medidas preditivas estabelecidas a priori para determinarum resultado previsto a ser comprovado a posteriori.
Diante disso, a escola e demais instituições não podem ficarreclusas perante aos problemas que enfrentam no seu cotidiano.Essa postura gera sintomas mais difíceis de serem superadosdevido ao caráter repetitivo das tensões provocadas pela faltade diálogo e da contextualização dos seus conflitos. Furto deaparelhos celulares na escola, por exemplo, não pode ser com-preendido sem a consideração do contexto produtivista, consu-mista e extremamente competitivo de uma sociedade capitalistaque explora esse tipo de relação nos meios midiáticos e demaisrelações compartilhadas pelos sujeitos escolares. Sendo assim,esse tipo de discussão não se circunscreve apenas ao âmbitoda sala de aula ou do gabinete da coordenação escolar, mas vaialém e ultrapassa os muros da escola. “Assim como é impor-tante situarmos o adolescente como um ser que se relaciona, aescola também precisa ser vista como uma instituição em redeao mesmo tempo que pertence a outras redes” (RAMOS& SU-DBRACK, 2006, p.186).
Dessa forma, a escola não desenvolverá fatores protetivos semuma articulação em redes. Quando nos remetemos ao termoredes sociais, metaforicamente, queremos indicar que não épossível pensar a educação escolar fora dos demais contextosconstitutivos da vida pessoal e social dos sujeitos, como as rela-ções estabelecidas na vida familiar, comunitária, religiosa, cul-tural e no mundo do trabalho, dentre outras dimensões. Alémdisso, a consciência da interdependência entre essas instânciasnos remete para a necessidade da articulação desses segmentossociais e institucionais, com o objetivo de potencializar e for-talecer suas ações, por meio da análise dos recursos, lacunase saberes presentes na comunidade na qual se pretende desen-volver esse tipo de proposta que visa a integrar os setores dasociedade comprometidos com a promoção da cidadania dosseus moradores.
Uma instituição isolada e fragilizada não conseguirá potencia-lizar seus educadores e educandos sem a inclusão e a integra-

88
Entre Redes
ção das demais instâncias sociais que participam da vida dessaspessoas. Essa constatação nos levar a indagar o seguinte: comouma professora poderá enfrentar, por exemplo, a violência se-xual praticada contra crianças, observadas no seu cotidiano es-colar, sem o respaldo da sua própria instituição, bem como doConselho Tutelar, do Juizado da Infância e da Juventude, daPromotoria de Justiça, dos órgãos da Segurança Pública, dosServiços deAtendimento Psicossocial, da alternativa da Denún-cia Anônima, dentre outras ações em rede?
Estudosmostramque uma professora isolada se sente tão violen-tada quanto uma criança nessas condições, já que a convivênciaprolongada com essa situação aviltante lhe provoca adoecimen-to, como nos aponta Souza, Miranda & Satiro (2009), numapesquisa realizada sobre esse tema, num contexto escolar.
As discussões que envolvem trabalhos educativos desenvolvi-dos por meio da construção de redes sociais articuladas e so-lidárias apresentam um objetivo comum e fundamental, qualseja, avaliar os vínculos pessoais e sociais dos sujeitos, bemcomo as relações institucionais internas e externas da escola edemais instituições, no intuito de verificar fatores de risco, deproteção e de vulnerabilidade enfrentados por essas configura-ções dispostas em contextos histórico-culturais complexos e es-pecíficos. Essa perspectiva se torna premente diante do aumen-to das ocorrências de situações violentas e conflitos que afetamos diversos membros que participam da comunidade escolar eda vida comunitária mais ampla.
Partindo do princípio de que “isolados, somos frágeis” (UDE,2002, p. 130), seja como pessoa ou como instituição, dentreoutras organizações sociais, propõe-se a articulação de práticasque propiciem aos sujeitos e grupos envolvidos num sentido depertencimento a uma rede social que propicie suportes e recur-sos diferenciados que podem variar desde apoio nos camposfamiliar, jurídico, afetivo, moral, econômico, como também oacesso à saúde, à cultura, à educação, à religiosidade, entre ou-tras possibilidades.
Todavia, essa proposta só se efetiva com o desenvolvimentode espaços de conversação abertos à participação comunitária.Aqui, se evidencia a necessária disposição de negociar com adiversidade de interesses, idéias e valores, como é próprio dasubjetividade humana, no intuito de construir alguns acordos

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
89
e consensos que possam trazer benefícios para a comunidadeparticipante, sempre de uma maneira provisória e parcial, devi-do à dinamicidade da vida, composta por um universo de seresinacabados.
Essa premissa tem sido apresentada com veemência por dis-tintos autores (SLUZKI, 1997; NAJMANOVICH, 1995; SUD-BRACK, 2006; CAPRA, 2002; UDE&FELIZARDO JUNIOR,2009), de diferenciadas áreas do conhecimento, como um pa-radigma necessário para tentar dar conta da complexidade dasdimensões que atuam na produção dos fenômenos humanos,sociais e naturais - sem dicotomizar as relações existentes entreelas - diante da fragmentação das ciências e das políticas públi-cas contemporâneas, fundamentadas no pensamento tecnicistae especialista desenvolvido na sociedade ocidental moderna.
Nesse aspecto, a obsessão de isolar a parte do todo num am-biente hermético, imune de qualquer influência externa expres-sa na subjetividade do pesquisador, no intuito de dominar tudodaquela partícula por meio de uma ciência exata e prescritiva,produziu olhares deterministas e isolacionistas perante a ummundo supostamente estático e, por isso, visto de uma maneirahomogeneizante.
No que tange às relações entre fatores de proteção, de risco ede vulnerabilidade num trabalho promovido em redes sociais,compartilhamos com a idéia apresentada por Canelas (2009),ao defender que risco e proteção não são situações dicotômicase excludentes. Pelo contrário, necessitamos reconhecer nossaexposição aos possíveis riscos a serem enfrentados, como tam-bém àqueles eminentes na nossa vida cotidiana, para que pos-samos buscar maneiras de nos proteger no tecido da nossa redesocial.
Por outro lado, a vulnerabilidade ocorre quando o sujeito nãoconsegue encontrar alternativas e suportes para se proteger.Nessa condição, fica exposto a processos de violência, podendoperder a própria a vida, tal como ocorre com os jovens ema-ranhados pelo mercado do narcotráfico. Todavia, em algumascircunstâncias, a fronteira entre o risco e a vulnerabilidade setorna muito tênue e, diante disso, nem sempre se consegue de-senvolver fatores de proteção.
Dentro dessa concepção, a escola e demais instituições também

90
Entre Redes
precisam pensar nos seus fatores de risco e de vulnerabilidadepara tentar promover ações articuladas, organizadas e reflexivasacerca da realidade que enfrenta, no intuito de gerar processosque engendrem compromissos com a vida comunitária e socialnas quais atuam. Nessa perspectiva, fica evidente que uma ins-tituição que se ocupa dos serviços de saúde não conseguirá re-alizar seus objetivos sem a participação da educação e que, porsua vez, educação e saúde não se constituem sem a presença daassistência social, da segurança, do acesso ao trabalho, à cultu-ra, ao esporte, etc. Como se nota, a criação de trabalhos inter-se-toriais, desenvolvidos a partir de comissões, fóruns, conselhos,grupos de estudos, grupos de trabalho, dentre outros espaços denegociação e conversação, se apresenta como recurso essencialpara a sustentabilidade de um trabalho em redes.
Além disso, a proposta de organização de assembléias constituium instrumento precioso para negociar conflitos, divergênciase posições distintas numa comunidade educativa. Esse espaçotem sido utilizado por alguns trabalhos no campo da EducaçãoSocial (ORSETTI et al, 1987). Trata-se de ummomento no qualos diferentes atores comunitários pertencentes a uma escola oua um contexto sócio-educativo se sentam em círculo, formandouma roda, com o objetivo de buscar um diálogo pautado portemas eleitos como prioritários pela coletividade, para tentarconstruir relações que garantam melhores condições de convi-vência. As assembléias podem ser divididas em “ordinárias”,com um dia da semana programado previamente - como, porexemplo, nas segundas-feiras pela manhã - e “extraordinárias”,quando surge algum problema inusitado e urgente para ser re-solvido, como, por exemplo, o desaparecimento de um celularde um membro da comunidade.
Essa interlocução gera um contexto cooperativo que promovea responsabilização de todos os sujeitos envolvidos na constru-ção das propostas, remetendo ao que Sluzki (1997) indica comoa capacidade auto-organizativa e auto-reguladora que as redessociais propiciam no desenvolvimento de acordos e normas co-muns.
No caso da escola, pode-se deparar com populações escolaresque ultrapassem o número de quinhentos estudantes. Frente aisso, sugerimos que em cada sala de aula sejam retirados, cole-tivamente, representantes de turma, respeitando a eqüidade degêneros, os quais levarão, para a assembléia mais ampla, temá-

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
91
ticas de interesse da comunidade e, posteriormente, retornarãocom as propostas construídas nas assembléias compartilhadascom os demais representantes.
Acreditamos que esse tipo de atividade contribui para a eman-cipação dos sujeitos escolares no sentido de desenvolverem seucompromisso pessoal e social com a coletividade com a qualinterage, bem como para a expansão de alternativas que pos-sam protegê-los de situações constrangedoras, ameaçadoras ouopressivas.
Nesse aspecto, Albertani, Scivoletto & Zemel (2006) apontamcomo fatores de proteção para o adolescente, o desenvolvimen-to das seguintes características: “habilidades sociais, coopera-ção, habilidades para resolver problemas, vínculos positivoscom pessoas, instituições e valores, autonomia, auto-estima de-senvolvida” (ALBERTANI, SCIVOLETTO & ZEMEL, 2006,p. 119). Por parte da escola, Ramos & Sudbrack (2006) assina-lam que:
Quando propomos a metodologia das re-des sociais, estamos em consonância comessa idéia de contribuir para que as escolaspúblicas se sintam protegidas. Não se tratade protegê-las com muros que as isolem dacomunidade, mas de construir com elas es-paços de interação comunitária, para que sesintam menos sós ao enfrentarem questõesdifíceis, como é a relativa às drogas.A escola não pode ficar só como se o pro-blema fosse apenas dela, ela precisa se abrirpara reagir e enfrentar as situações. Vemosas escolas preocupadas com a prevenção douso de drogas, mas temerosas de se expo-rem, na medida em que revelam problemasnesse sentido (RAMOS & SUDBRACK,2006, p. 187).
Diante dessas observações, fica evidente a premência de se or-ganizar trabalhos em redes cooperativas e solidárias por meiode espaços de negociação que dialoguem com diferentes pers-pectivas, com vistas a consolidar espaços mais humanos. A es-cola representa um elo fundamental nessa tessitura para umasociedade que possa reduzir os fatores de risco aos quais nossascrianças e jovens estão expostos, bem como vulneráveis a tra-gédias dilacerantes.

92
Entre Redes
5. Das redes institucionais às configurações pessoais:ampliando as possibilidades de atuação protetiva da escola
No tópico anterior chamamos a atenção dos nossos leitores paraa importância de a escola promover e/ou fortalecer articulaçõescom as demais instituições que atuam junto às crianças e ado-lescentes, com vistas a ampliar as possibilidades de efetivaçãoda dimensão protetiva em seu fazer educativo-pedagógico.Nesse contexto, o diálogo, a troca de experiências e a realiza-ção de atividades integradas com outras instituições se apresen-tam como estratégias importantes, cuja validade vem ganhandoforça, dado que possibilita à escola contribuir para a resoluçãode problemas que, se não foram engendrados em seu interior,impossibilitam, com sua permanência, a realização, com êxito,de sua missão precípua, qual seja, contribuir para a formaçãodas novas gerações.
Por meio do mapeamento das redes institucionais proposto porUde (2008), torna-se possível à escola (re)conhecer a naturezados vínculos que a articulam às demais instituições que atuamjunto às crianças, adolescentes e família, evidenciando pontosda rede de proteção rompidos e/ou inexistentes. A partir daí,abre-se um fértil caminho para a execução de ações voltadas aoestabelecimento e/ou fortalecimento dos vínculos, de modo adotar a rede de proteção da densidade, composição, dispersão,heterogeneidade e do tamanho necessários à constituição deuma rede ampla, forte, comprometida e capaz de atuar, proteti-vamente, de modo eficaz.
Para além do plano institucional, há, ainda, um ponto impor-tante sobre o qual a escola pode e deve atuar, no sentido decontribuir para a efetivação da proteção integral das criançase adolescentes que atende. Trata-se da compreensão do modocomo seu público, em geral, e cada estudante, em particular,vivencia os processos socializadores/educativos, para além daatividade escolar, reconhecendo, no interior destes, as instân-cias e agentes por meio dos quais são constituídas suas configu-rações pessoais, pois a escola é um espaço plural de múltiplasreferências identitárias.
Tomado de empréstimo do sociólogo Norbert Elias (1994), oconceito de configuração aponta para o reconhecimento “deuma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependen-

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
93
tes” (ELIAS, 1994, p. 249). Elas se tornam dependentes, ini-cialmente, “por força da natureza” (idem, p. 214) e, mais tarde,por meio da aprendizagem social, da educação, da socializaçãoe das necessidades recíprocas socialmente geradas. Vinculadasdessa forma, essas pessoas só poderiam existir, segundo Elias(1994), como pluralidade, ou seja, como configuração. A con-figuração inscreve um processo de socialização/educação quepode ser considerado “como um campo estruturado pelas re-lações dinâmicas entre instituições e os agentes distintamenteposicionados em função de sua visibilidade e recursos disponí-veis” (SETTON, 2000, p. 112).
A adoção dessa perspectiva de análise implica no reconheci-mento de que os seres humanos não podem ser compreendidoscomo seres individuais. Ao contrário, trata-se da adoção de ummecanismo que permite compreendê-los enquanto “(...) sujei-tos que compõem estruturas de pessoas mutuamente orienta-das e dependentes” (GONÇALVES e FELIZARDO JUNIOR,2009, p. 72).
Pensando especificamente na ação da escola junto a seu públi-co, trata-se de adotar a prerrogativa de que, independente daidade/ciclo de vida, todos e cada um vivenciam processos so-cializadores/educativos, por meio dos quais se humanizam. As-sim, a ação educativa está implicada no reconhecimento de quecada uma dessas instâncias tem propósitos e práticas distintos,na medida em que elas “(...) possuem natureza específicas, sãoresponsáveis pela produção e difusão de patrimônios culturaisdiferenciados entre si” (idem, p. 72). Nesse sentido, devemosestar atentos à identificação das instâncias socializadoras signi-ficativas para os estudantes e, na medica do possível, aferirmosse estes encontram, em tais instâncias, os suportes de que neces-sitam para prover seu desenvolvimento integral.
Entender como estudantes de diferentes grupos e segmentostêm construído laços e, também, como têm se construído en-quanto sujeitos individuais e coletivos no mundo contemporâ-neo é tarefa complexa, porém profícua na medida em que abreà escola e aos educadores canais de diálogo com vivências eexperiências extraescolares que, se não conflitam com o fa-zer educativo-pedagógico, podem, muitas vezes, reduzir suaspossibilidades de êxito, caso não compartilhem do conjunto dereferências que fundamentam este fazer.

94
Entre Redes
Pensando nesses termos, algumas questões se colocam: quaissão os espaços, instâncias e/ou agentes que, se fazendo presen-tes na vida de nossos estudantes, contribuem para sua forma-ção? Que significado os estudantes lhes atribuem? Com queausências eles têm de lidar no processo de se fazerem huma-nos? De que forma podemos nós, educadores, colocarmo-nosem diálogo com nossos estudantes, para compreendermos suasconfigurações pessoais e, no interior destas, as articulações quemais e menos efetivamente concorrem para sua humanização?Como articular nossa ação educativo-pedagógica às vivências eexperiências que todos e cada um trazem para dentro da escola,de modo a ampliarmos nosso potencial de atuação junto a essessujeitos?
O entendimento de que crianças e adolescentes são sujeitos emcondições especiais de desenvolvimento remete-nos ao reco-nhecimento de que tal desenvolvimento está referido não só àsdimensões biofísico-psíquicas, mas, igualmente, às dimensõessócio-culturais. Dito de outro modo, estes sujeitos de direitossão compreendidos, em nossa sociedade, como um segmentoque experimenta um fazer-se intenso a que podemos chamar deformação humana.
Assim entendido, o desenvolvimento para o qual nossas es-colas são chamadas a contribuir está para além do cognitivo-intelectual passível de ser efetivado (acredita-se) por meio darealização de atividades pedagógicas planejadas com tal inten-cionalidade. Como educadores, somos chamados a contribuirpara a formação humana, formação esta resultante de processosmúltiplos que não podemos ignorar, caso pretendamos efetiva-mente realizar a tarefa que nos é socialmente atribuída.
Como seres naturalmente vulneráveis que são, nossas criançase adolescentes dependem de toda uma configuração de relaçõesinterpessoais na qual buscam apoio para serem e viverem talcomo são: sujeitos em condições especiais de desenvolvimento.Contudo, esta mesma configuração pode, por vezes, representara negação do direito de serem e viverem as especificidades dociclo de vida em que se situam, na medida em que os levema vivenciar experiências de violação de direitos e/ou de ma-nutenção e reforço de negações outras, originadas no bojo deuma sociedade que tende a tratar desigualmente seus segmentosmais vulneráveis.

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
95
Reside aí a importância de aproximarmo-nos das crianças eadolescentes junto aos quais desempenhamos nosso “ofíciode mestres” (ARROYO, 2002) para compreendermos o modocomo cada um tece sua configuração de modo a captarmos “(...)como eles tentam superar as condições que os proíbem de ser,perceber e se contrapor às situações e às condições em que re-alizam sua existência em que [muitas vezes] se deformam e sedesumanizam” (ARROYO, 2002, p. 242).
A consideração de que à escola cabe contribuir para a efetiva-ção da proteção integral de crianças e adolescentes sob o riscode, agindo em contrário, comprometer seu fazer educativo-pe-dagógico, apresenta, para a instituição, o desafio de abandonara idéia de que seu público é constituído por alunos. Tal visão,pautada no entendimento de que se trata de seres sem luz, aosquais os educadores conduzirão no sentido do conhecimento deque não dispõem, reduz a complexidade característica dos sereshumanos constituídos que são por dimensões múltiplas cujo ar-ranjo individual confere a especificidade de cada sujeito.
Portanto, pensar uma educação escolar cujo fazer se pauta,entre outros, pela efetivação da dimensão protetiva, demandapensar em termos daquilo a que Arroyo (2002) chama “a hu-mana docência”, qual seja, a docência que reconhece o direitoà educação enquanto direito “(...) ao saber, à cultura e seussignificados, à memória coletiva, à identidade, à diversidade,ao desenvolvimento pleno como humanos” (ARROYO, 2002,p. 53). Desenvolvimento este que, como já tivemos a oportuni-dade de ressaltar, só se realiza na medida em que as condiçõespara tal estejam dadas. Dito de outro modo, só podemos falarem desenvolvimento pleno em se tratando de sujeitos aos quaisestejam garantidas todas as condições favorecedoras.
Cabe-nos, portanto, estender nosso olhar, aguçar nossos ouvi-dos e sensibilidade para perceber, na multiplicidade de questõesque se interpõem no nosso fazer cotidiano, brechas a partir dasquais possamos espreitar nossos estudantes enquanto seres emprocesso de humanização que são; é mister buscarmos, nas fis-suras da configuração de cada e sobre a qual se sustenta, elospor meio dos quais possamos contribuir ora para resgatar-lhesa “humanidade roubada”, ora para apreendermos e comparti-lharmos, com as demais instâncias que participam de sua for-mação, formas de garantir-lhes as condições especiais de quetanto necessitam para serem e se desenvolverem tal qual lhes é

96
Entre Redes
de direito.
6. Aplicação do conteúdo à prática: escola e práticasprotetivas
Concebemos a escola como um lugar protetivo, já que se desti-na à promoção da sociabilidade e à inserção dos sujeitos esco-lares no campo do conhecimento sistematizado. Todavia, assimcomo as demais instituições sociais, nem sempre a escola repre-senta um local de proteção para as pessoas que freqüentam esseespaço de convivência. Diante disso, necessitamos questionare refletir acerca das possibilidades de inclusão social na práticaescolar.
Em nossa experiência (UDE, 2008; 2009), pudemos constatarque a instituição escolar se torna mais protetiva quando fun-ciona de maneira integrada aos demais grupos, instituições ecoletividades existentes no entorno da escola. Para verificarisso, utilizamos um mapa que procura avaliar a qualidade dosvínculos estabelecidos entre as diferentes instâncias presentesna comunidade, ou seja, constróise uma espécie de cartografiaque indica como a escola se situa em relação às distintas áreasdo contexto pesquisado, como cultura, saúde, lazer, esporte, as-sistência, religião, trabalho, educação, área jurídica, segurança,dentre outras.
Nesse aspecto, buscamos identificar a qualidade dos vínculosconfigurados, procurando qualificálos por meio de uma classi-ficação que sugere a prática cotidiana, ao indagarmos se aconte-cem de um modo próximo, mediano ou distante. A proximidadeou distanciamento das atividades pesquisadas se avalia a partirdo nível de parceria executada no cotidiano do trabalho inte-rinstitucional. Após esse passo, se visualiza um desenho queesboça o nível das relações construídas no âmbito da rede so-cial externa da escola estudada. Para isso, convidamos todosos representantes escolares a opinarem e discutirem o assunto,através de um fórum de debate. Na maioria dos casos, esse mo-mento se dá de um modo muito envolvente, tenso e intenso, jáque revela controvérsias, disparidades e consensos.
Diante do quadro construído, são propostas articulações quepossam fortalecer a rede social existente, bem como a constru-ção de objetivos comuns para a efetivação de ações de enfren-

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
97
tamento à violência contra crianças e adolescentes. Todavia, emboa parte dos casos analisados e interpretados, verificase queas instituições e demais grupos organizados trabalham de formaisolada. Essa evidência demonstrou que, por exemplo, quandoa escola se isola, ela tenta assumir a função das demais institui-ções. Nesse sentido, a professora ou o professor se arvoram emserem pais, mães, tias, tios, médicos, assistentes sociais, psicó-logos, enfermeiros, dentre outras especialidades e atribuições.Frente a esse acúmulo de tarefas, se deparam com sobrecargasfísicas e mentais, com conseqüente adoecimento.
Toda essa trama se torna objeto de uma longa discussão relativaaos territórios e fronteiras institucionais, no intuito de contri-buir para definição das responsabilidades que competem a cadainstância social envolvida no mapeamento. Nesse aspecto, ficamuito claro que não cabe à escola substituir as famílias. Con-tudo, pode e deve fortalecê-las ao incluí-las numa rede socialmais ampla. A consciência da incompletude institucional decada setor analisado possibilita um olhar mais crítico e menosonipotente diante dos problemas a serem enfrentados coletiva-mente.
Em suma, durante a nossa prática, aprendemos sobre a necessi-dade emergente de identificar onde os vínculos estão mais fra-gilizados para promover laços mais fortalecidos, com o objetivode gerar mais proteção aos sujeitos e à sua comunidade, tendoem vista que uma rede mais densa propicia suportes de umamaneira mais efetiva, por meio de relações horizontais, menosformais, cooperativas e solidárias.
Considerações finais
A instituição escolar compõe a vida socialdos estudantes de uma maneira preciosa,tendo em vista que ali [eles] estabelecemcontatos com o conhecimento sistematiza-do e com uma rede de vínculos pessoais egrupais que pode reconfigurar suas manei-ras de compreender o mundo. Essa é a esco-la [com] que, ao meu ver, devemos sonhar elutar para que se consolide. Trata-se de umlugar onde se efetua a socialização secun-dária da criança, além do âmbito familiar,

98
Entre Redespossibilitando expressar dimensões da sub-jetividade nas atividades realizadas (UDE,2008, p. 38).
No início de nossa reflexão, chamamos a atenção para a his-toricidade que há no atribuir uma dimensão protetiva ao fazereducativo-pedagógico que se realiza na escola, desde os pri-mórdios da instituição ao alvorecer da modernidade ocidental.Em meio à argumentação que tecemos, apresentamos algumasquestões referentes à possibilidade de permanência, nos diasatuais, dessa compreensão: em que medida compreende-se,contemporaneamente, a relação entre educação e proteção? Se-riam nossas escolas espaços nos quais impera a compreensão deque a tarefa de educar pressupõe proteger? Optamos, naqueleponto do texto, por tentar responder a tais perguntas em ummomento posterior.
Agora, tendo apresentado todo o conjunto de questões que tí-nhamos em mente, relativas à temática aqui discutida, entende-mos ser chegada a hora de saldar aquela dívida.
No que se concerne à possibilidade de existir, contemporanea-mente, a compreensão da existência de relação entre educação eproteção, acreditamos que há, sim, e muita. Conforme tivemosa oportunidade de mostrar ao longo deste texto, partimos doprincípio de que a tarefa de educar só se efetiva, com êxito, namedida em que os educandos disponham das condições neces-sárias para vivenciar a experiência educativa em sua plenitude.Para tanto, nós, que temos por ofício a tarefa de educar-lhes,precisamos, sim, considerar que a garantia de proteção à suacondição especial de desenvolvimento consiste em uma açãopara a qual temos o dever social, humano, cidadão e profissio-nal de contribuir.
No que tange à possibilidade de serem nossas escolas espaçosnos quais impera a compreensão de que a tarefa de educar pres-supõe proteger, tendemos, inicialmente, a responder afirmativa-mente. Tal resposta, contudo, aponta muito mais para a escolacom a qual sonhamos, mas que, infelizmente, ainda representaum projeto cuja materialização permanece, na maior parte doscasos, no vir a ser.
Em nossas muitas andanças e nos diversos diálogos construídoscom educadores escolares de várias localidades, temos a opor-tunidade de identificar, em alguns, o compreender da educação

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
99
enquanto processo de humanização que demanda, enquanto tal,que os sujeitos implicados o vivenciem em sua integralidade.Imbuídos dessa percepção, tais profissionais assumem o com-promisso da defesa das infâncias e juventudes, tantas vezes rou-badas de nossas crianças e adolescentes (ARROYO, 2002).
Muito embora a existência destes profissionais seja um impor-tante indicativo de que temos grandes possibilidades de impreg-nar nossas escolas com esse entendimento, reconhecemos quese trata, ainda, de vozes isoladas cujo trabalho de realização deuma educação comprometida com a promoção de seus educan-dos se dá, no mais das vezes, de forma isolada e, não raro, sobos boicotes daqueles que optam pelo conforto de uma visão re-ducionista de seu fazer profissional: ensinar determinados con-teúdos previamente definidos em um cardápio único, destinadoa servir a todos, independente da trajetória do fazer-se humanode cada um.
Esses educadores nos ensinam, entre outras coisas, que a hu-mana docência se faz pelo compromisso com as trajetórias devida e formação do outro, a quem devemos ajudar a se formar;ensinam-nos, também, que a humana docência só se efetiva namedida em que não perdemos a esperança na possibilidade deconstrução de uma escola e, por extensão, de ummundo no qualtodos e cada um tenham abertas, diante de si, as possibilidadesde se fazerem humanos de forma plena.
Os profissionais comprometidos com a humana docência bemsabem que a tarefa de promover o desenvolvimento integral dascrianças e adolescentes é por demais pesada e complexa paraser realizada no âmbito da escola. No entanto, diferentementede outros que se colocam em posição de defesa frente ao queacreditam ser “mais uma tarefa que nos jogam sobre as costas”,os educadores que compreendem sua responsabilidade frente aseus educandos buscam superar o entendimento de se tratar deuma tarefa que lhes cabe realizar sozinhos, eles buscam articu-lar seu fazer profissional ao fazer de outros tantos agentes e ato-res sociais aos quais tal responsabilidade também é atribuída.
É exatamente no movimento de compartilhar com outras ins-tâncias a responsabilidade de promover e proteger as criançase adolescentes, reconhecendo e atribuindo a cada um o papelque lhes cabe desempenhar, que estes educadores avançam nosentido de tirarem a escola do isolamento dos que se acreditam

100
Entre Redes
autosuficientes ou responsáveis apenas por tarefas pontuais ecaminham rumo à articulação de redes protetivas por meio dasquais a promoção e proteção integral das crianças e adolescen-tes pode ser realizada de forma exitosa.
A leitura atenta de nossa legislação educacional e relativa à in-fância e à adolescência revela uma expectativa de que a socie-dade se comprometa com nossas novas gerações e que a escolase abra para um fazer coletivo, cujo objetivo comum seja o de-senvolvimento pleno dos que por ela passam.
Sabemos que a existência de leis, por si só, não garante a reali-zação dos ideais nelas contidos. Contudo, acreditamos, por umlado, no caráter pedagógico das normas sociais (CURY, 2000),na medida em que elas orientam os rumos que a sociedade devetomar e, por outro lado, no potencial disseminador da ousa-dia, esperança e compromisso daqueles que compreendem que“nenhum de nós é melhor e mais inteligente que todos nós”(BRANDÃO, 2002, p.29) e sabem, portanto, que a articulaçãoda escola junto às redes sociais representa uma rica possibili-dade de ampliação dos fatores protetivos e das possibilidadesformativas para nossas novas gerações.

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
101
Referências bibliográficas
ALBERTANI, Helena M. B.; SCIVOLETTO, Sandra & ZE-MEL, Maria de Lurdes Souza. Prevenção do uso de drogas:fatores de risco e fatores de proteção. In.: Curso de Prevençãode Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Brasília –DF: UnB, 2006.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família.2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora,1981.
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre: Imagens e auto-ima-gens. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
BRANDÃO. Carlos Rodrigues. A educação popular na esco-la cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002.
BRASIL. Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração ePublicações. Subsecretaria de Edições Técnicas. Constituiçãoda República Federativa do Brasil. Texto consolidado até aEmenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004. Bra-sília, 2004.
_______. Ministério da Educação. Lei de diretrizes e Basesda Educação Nacional – LDB nº 9.394/96. Brasília, 1996.
_______. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).Mi-nistério da Justiça. Secretaria da Cidadania e Departamento daCriança e do Adolescente. Brasília, 1990.
CANELAS, Renata Schettino. Resiliência e Promoção deSaúde: Contribuições da Escola Integrada. (Tese de Doutora-do) Belo Horizonte: Faculdade de Medicina da UFMG, 2009 .
CAPRA, Fritjof. ATeia da Vida. São Paulo: Cultrix,1997.
CUNHA, Marcus Vinícius. A escola contra a família. In: LO-PES, Eliane Teixeira et. al. (orgs). 500 anos de Educação noBrasil. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 447-468
CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação como desafio naordem jurídica.In.: LOPES, Eliane Teixeira et al (orgs.). 500anos de Educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte:Autêntica,

102
Entre Redes
ano?, pp. 567584.ELIAS, Norbert.O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar,1994.
ENGUITA, Mariano. F. A face oculta da escola. Porto Alegre:Artes Médicas, 1989.
GONÇALVES, Luiz Alberto de Oliveira; FELIZARDO JU-NIOR, Luiz Carlos. Juventude negra e sociabilidade: A cidadeenquanto espaço educativo. In.: SOARES, Leôncio; SILVA,Isabel de Oliveira e (orgs.). Sujeitos da Educação e Processode sociabilidade: Os sentidos da Experiência. , v. 1, Belo Ho-rizonte: Autêntica, 2009, pp. 51123.
KUHLMANN JR, Moysés. Educando a Infância Brasileira.In.:LOPES, Eliane Teixeira et al (orgs.). 500 anos de Educa-ção no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, pp. 469-496.MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro:Bertrand, 1996.
NAJMANOVICH, Denise. El lenguage de los vínculos. In.:DABAS, Elina & NAJMANOVICH, Denise.Redes: el lengua-je de los vínculos. Buenos Aires: Piados, 1995.
NÓVOA, António. Os professores na virada do milênio: do ex-cesso dos discursos à pobreza das práticas. Educação e Pesqui-sa, v. 25, n. 1.São Paulo, jan./jun. 1999, , pp. 1120.
ORSETTI et al. Um tiro de amor para todos vocês. Meninosde Rua: Educação em Meio Aberto. Belo Horizonte: Barvale,1987.
PILOTTI, Francisco e RIZZINI, Irene. A arte de governarcrianças: A história das políticas sociais, da legislação e da as-sistência à infância no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Intera-mericano Del Niño, Editora Universitária Santa Úrsula, AmaisLivraria e Editora, 1995.
RAMOS, Maria Eveline Cascardo & SUDBRACK, Maria Fá-tima Olivier. A escola em rede. In.: Curso de Prevenção deDrogas para Educadores de Escolas Públicas. Brasília – DF:UnB, 2006.

“Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...”
103
SETTON,Maria da Graça Jacintho. Família, escola e mídia: umcampo com novas configurações. Educação e Pesquisa, v. 28,n. 1. São Paulo, jan./jun. 2002, PP. 107-116.
SLUZKI, Carlos E. A Rede Social na Prática Sistêmica. SãoPaulo: Casa do Psicólogo, 2007.
SOUZA, Janaina de; MIRANDA, José Carlos & SATIRO, Mi-chelle Costa. Mal-estar docente, violência e redes sociais: algu-mas reflexões do adoecimento dos educadores e educadoras daRegião. In.: SANTOS, Geovania Lúcia et al. Escola, Violênciae Redes Sociais. Belo Horizonte: Editora Faculdade de Educa-ção/UFMG, 2009.
SUDBRACK, Maria Fátima Olivier. Redes Sociais e os adoles-centes. In.: Curso de Prevenção de Drogas para Educadoresde Escolas Públicas. Brasília – DF: UnB, 2006.
UDE, Walter. Redes Sociais: possibilidade metodológica parauma prática inclusiva. In.: Carvalho, A. et al (orgs.). PolíticasPúblicas. Belo Horizonte: Proex/UFMG, 2002.
___________. Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenile construção de redes sociais. In.: Enfrentamento à violênciasexual infanto-juvenil: Expansão do PAIR em Minas Gerais.Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, pp. 30-60.
UDE, Walter & FELIZARDO JUNIOR, Luiz Carlos. Enfren-tamento à Violência, configurações e redes sociais: possibili-dades teórico-metodológicas para a realização de intervenções.In.: SANTOS, Geovania Lúcia et al. Escola, Violência e Re-des Sociais. Belo Horizonte: Editora Faculdade de Educação/UFMG, 2009.
VARELLA, Julia e ALVAREZURIA, Fernando. A maquinariaescolar. Tempo e Educação, n. 6, 1992, pp. 69 – 97.


(Re)ligando os pontos: o papel do educadorna proteção à criança e ao adolescente
Maria Amélia G. C. Giovanetti
Maria Amélia G. C. GiovanettiDoutora em Sociologia pela Universidade Católica de Louvain (Bélgica).
Professora aposentada da FAE/UFMG. Atua na formação de educadores daEducação de Jovens e Adultos (EJA) e de educadores sociais.

106
Entre Redes
1. Introdução
No projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção àcriança e ao adolescente”, o papel do educador consistiu em umdos temas debatidos, razão pela qual nos debruçaremos sobre omesmo tema nos limites deste texto.
Ao abordarmos o papel do educador, vamos nos referir à edu-cação concebida a partir de uma ótica mais ampla, envolvendoa educação escolar e não escolar. Focaremos também a educa-ção voltada para as camadas populares. Dentro desse contexto,refletiremos a respeito do papel da escola marcada, como todainstituição social, por ambigüidades e contradições.
Apontaremos três caminhos visando ao enfrentamento à vio-lência sexual infanto-juvenil, quais sejam: o poder da escuta,a importância da construção de um novo olhar a respeito doseducandos e seus familiares pertencentes às camadas popularese a contribuição da observação.
2. O papel do educador: alguns pressupostos
Ao refletirmos a respeito do papel do “educador”, estaremosnos referindo às equipes de profissionais que atuam no espaçoescolar (diretores, coordenadores e professores) e também aosprofissionais que atuam fora deste espaço. Profissionais que,por meio de intervenções na área da saúde, da assistência, dadefesa e responsabilização e demais áreas atuam com a inten-cionalidade de propiciar mudanças pessoais e sociais. Portanto,educadores concebidos como sujeitos capazes de estimularema curiosidade, a busca do conhecimento, a reflexão crítica, bemcomo a convivência marcada pela abertura, disponibilidade aonovo e pelo respeito à diferença.
Inicialmente, centraremos nossa atenção no papel do educadorescolar e, para isso, refletiremos a respeito do lugar ocupadopela escola, sobretudo aquela escola freqüentada por crianças eadolescentes das camadas populares.
Concebemos a escola como um espaço por meio do qual edu-cadores e educandos, ao estabelecerem relações sociais, vêemo mundo, os seres com os quais convivem e vêem a si mesmos.

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
107
Aescola, a partir dessa ótica, é concebida como uma instituiçãoque ocupa um lugar significativo na construção das identidades,processo contínuo que acontece ao longo da vida.
Mediante a constatação acima, refletiremos a respeito do pa-pel do educador escolar enquanto um facilitador do processo deconstrução de identidades marcadas ora pela negatividade, orapela positividade. Explicitaremos nossa concepção de educaçãoe teceremos algumas considerações a respeito da construção deidentidade de educandos pertencentes às camadas populares.
A concepção de educação que norteia nossas reflexões é aque-la ancorada no referencial teórico construído pelos autores docampo da Educação Popular1, tendo em Paulo Freire sua re-ferência central. A expressão “educação dialógica”2 reve-la o significado de uma educação fundada no respeito, noreconhecimento mútuo e na proximidade entre os sujei-tos. Educadores e educandos trocam saberes, descobertase afetos. Vivenciam conflitos e dúvidas. Enfim, educaçãopressupõe, aqui, a vivência de um processo de “mão du-pla”, rompendo com a relação linear marcada pelo edu-cando que apenas aprende e pelo educador que apenasensina.
No tocante ao processo de construção de identidades de educan-dos pertencentes às camadas populares, Cynthia Sarti (1996)nos alerta ao afirmar que “a introjeção da inferioridade natura-lizada está entre os danos mais graves da desigualdade social.Acreditar-se menos” (SARTI, 1999, p.107).
À luz desta afirmação, refletimos:
É grave quando educadores constroem uma imagem, marcadapela negatividade, a respeito dos educandos: “fracassados”,“atrasados”, ”incapazes”, “ignorantes”, “analfabetos”, etc. Po-rém, mais grave ainda é quando os educandos introjetam a ima-gem negativa expressa por aqueles que os rodeiam e passam ase identificarem com ela, acreditandose “menos”, parafrasean-do Sarti (1999).
Em sua pesquisa empírica, realizada à época de seu doutoradoem educação, a professora Liliane dos Santos Jorge (2007) co-menta a respeito dos alunos adolescentes pertencentes às cama-
1.Segundo Paludo(2010), “para Freire,a expressão educa-ção popular designa aeducação feita com opovo, com os oprimi-dos ou com as classespopulares, a partir deuma determinada con-cepção de educação: aeducação libertadora (...)problematizadora, que secontrapõe à EducaçãoBancária, domestica-dora. Ela se concretizacomo Ação cultural paraa liberdade. É ação real-izada com os oprimidose não para eles, seja naescola, seja no processode mobilização ou de or-ganização popular para aluta, defesa dos direitos ereivindicação da justiça”(PALUDO, Conceição.Educação Popular. Ver-bete, In.: STRECK, Da-nilo R.; REDIN, Euclidese ZITKOSKI, Jaime José(orgs.). Dicionário PauloFreire. 2. ed. Belo Hori-zonte: Autêntica, 2010,pp. 140-141).
2.Zitkoski (2010), emseu verbete Diálogo/Dia-logicidade no dicionárioPaulo Freire explica:“a proposta de umaeducação humanista-libertadora em Freire temno diálogo/dialogicidadeuma das categoriascentrais de um projetopedagógico crítico, maspropositivo e esperan-çoso em relação a nossofuturo. (...) através dodiálogo podemos olharo mundo e a nossa ex-istência em sociedadecomo processo, algoem construção, comorealidade inacabada eem constante transfor-

108
Entre Redes
das populares:
Além dos inúmeros rótulos que a socieda-de, a família e a escola já lhes atribuíra, osadolescentes ainda conviviam entre si, comatitudes de auto-desprezo, por meio de ape-lidos pejorativos, referentes às caracterís-ticas físicas ou relativas às dificuldades deaprendizagem (JORGE, 2007, p. 266).
A mesma autora cita a reação da professora destes adolescen-tes:
Clarisse não destaca suas características ne-gativas e não permite apelidos pejorativosna classe: Ele tem nome. E um nome muitobonito. O nome dele é Cristóvão Renato. Eunão quero esta história de apelidos aqui nasala. Eu trato cada um de vocês pelo nomee quero que vocês tratem assim os seus co-legas (JORGE, 2007, p.266).
Além desse cuidado referente ao uso de apelidos pejorativos,esta autora comenta, em sua tese, a respeito da importância queos adolescentes imprimiam às situações as quais reforçavam acrença na possibilidade de aprenderem a ler e em sua capacida-de para tal: “isto notava-se na alegria com que comemoravamcada palavra acertada no ditado, na importância que davamaos seus escritos afixados no mural da classe” (JORGE, 2007,p. 266).
E completa: “Clarisse [a professora] buscava sempre fazê-losacreditarem-se capazes” (JORGE, 2007, p. 266).
Partindo do pressuposto de que as relações sociais são constru-ídas, acreditamos que, se existem educadores que estabelecemuma relação marcada pela negatividade, existem também edu-cadores que agem no sentido oposto, ou seja, a partir de umapostura marcada pela positividade, contribuindo para superaçãoda inferioridade, processo muito complexo e, portanto, desafia-dor.
3. E a escola? Qual o seu papel?
mação”. (ZITKOSKI,Jaime José. Diálogo/Dialogicidade. Verbete,In.: STRECK, DaniloR.; REDIN, Euclides eZITKOSKI, Jaime José(orgs.). Dicionário PauloFreire. 2. ed. Belo Hori-zonte: Autêntica, 2010,p. 117).

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
109
No conjunto das instituições sociais que atuam na rede de prote-ção à criança e ao adolescente, destacaremos a escola concebidaenquanto espaço privilegiado para propiciar encontro libertadore emancipatório3 entre educadores e educandos, podendo, as-sim, contribuir para o fortalecimento da rede mencionada.
Por que consideramos a escola como um espaço privilegiado?Que argumentos nos levam a construir tal afirmação?
O privilégio da escola localiza-se em sua rotina marcada por en-contros cotidianos e contínuos. Ou seja, professores(as) e alu-nos da Educação Básica têm a oportunidade de se encontraremdiariamente e, no mínimo, ao longo de um ano.
Tânia Dauster (1996) reafirma essa perspectiva: “a escola éuma instituição privilegiada, na medida em que possibilita ocontato entre atores com diferentes visões de mundo,podendopromover o seu encontro e a troca de significados e vivências”(DAUSTER,1996, p. 70).
Nos dias atuais, marcados pela pressa, que permite apenas en-contros efêmeros, de curta duração, a escola desfruta de algoexcepcional na medida em que sua rotina é favorável a encon-tros semanais e até mesmo diários, o que propicia aos educado-res a construção de uma relação de confiança, elo fundamentalpara o desencadear de um processo de mudança pessoal.
Ao refletir a respeito da relação professoraluno, Inês Teixeira(1996) afirma:
Trata-se de uma relação face-a-face, emcotidianos de convivência na instituiçãoescolar, um ambiente destinado aos proces-sos didático-pedagógicos. Espaço progra-mado para esse fim, no qual professores ealunos se encontram por longos períodos,existindo entre eles proximidade pessoal efísicogeográfica, diferentemente de outrosambientes e interações humanas. Não raroeles se encontram diariamente, durante me-ses e anos, embora isso ocorra em funçãodas contingências e não das suas escolhas.Esses caracteres por si só demarcam o forteempenhamento humano de que tais rela-ções se revestem, evidenciado nas trocas,nos conflitos e intimidade entre docentes e
3.“A Emancipação hu-mana aparece, na obrade Paulo Freire, comouma grande conquistapolítica a ser efetivadapela práxis humana,na luta ininterrupta afavor da libertaçãodas pessoas de suasvidas desumanizadaspela opressão e domi-nação social” (MOR-EIRA, Carlos Eduardo.Emancipação. Verbete,In.: STRECK, DaniloR.; REDIN, Euclides eZITKOSKI, Jaime José(orgs.). Dicionário PauloFreire. 2. ed. Belo Hori-zonte: Autêntica, 2010,p. 145).

110
Entre Redesdiscentes (TEIXEIRA, 1996, p.187).
Liliane dos Santos Jorge (2007) ao abordar, também, a relaçãoprofessoraluno, afirma:
Reconhecemos e reafirmamos que uma al-teração do olhar, não só dos educadores,mas da sociedade, sobre os adolescentespobres não se processa de forma mecânica.Este é um processo lento, que demanda porparte dos profissionais da educação, umaformação que toque nos processos relacio-nais (JORGE, 2007, p. 207).
Ao considerarmos que uma das condições básicas para o ser hu-mano mudar de atitude, de comportamento é sentir-se reconhe-cido, acolhido, respeitado e aceito, diríamos que os encontrosdiários poderão criar um clima de cumplicidade e de entendi-mento, os quais geram nos sujeitos envolvidos uma disponibi-lidade para se abrirem e realizarem suas trocas, sua aprendiza-gem de “mão dupla”.
Destacaria aqui o papel fundamental da escola na rede de pro-teção. À medida que um dos graves desafios do fenômeno daviolência sexual infanto-juvenil se refere ao silenciamento/ocultamento da existência do fenômeno, por parte das crianças,adolescentes e seus responsáveis, a quebra desse sigilo exige acriação de um clima de confiança. E bem sabemos que confian-ça é algo que não se conquista de maneira imediata e automá-tica. Pelo contrário, trata-se de um vínculo que se constrói pormeio de um longo processo que exige tempo. “A confiança éconstruída por atitudes de respeito como acolhimento, nos limi-tes das relações humanas possíveis, entremeadas de afeto e dedisponibilidade para o diálogo” (FERNANDES, 2010, p. 82).
Além do tempo necessário para construção do elo de confiança,que é uma condição básica para a quebra do silenciamento, des-tacamos aqui a importância do tempo para desencadear um pro-cesso de mudança. Cabe lembrar que, no contexto do enfrenta-mento à violência sexual infanto-juvenil, trata-se de mudançade comportamentos que, por sua vez, pressupõe desconstruçãode preconceitos e estigmas enraizados, processo demorado,pois, quanto mais arraigados são os nossos preconceitos, maistempo exigem para serem desconstruídos. Nos dizeres de Ju-

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
111
randir Freire Costa (2004), “a paciência e a persistência são asmelhores armas para as mudanças repensáveis e humanamentefrutíferas (...) tempo e paciência” (COSTA, 2004, p.87).
Mudança exige tempo e paciência. E a paciência, por sua vez,para ser conquistada por parte do educador, exige a aprendiza-gem da escuta. Paulo Freire, em sua Pedagogia da Autonomia(1996) já nos alertava que ensinar exige saber escutar. Saberescutar não apenas as palavras expressas, mas também os sinaisnão verbais, ou seja, os gestos, os olhares, os silêncios.
4. O poder da escuta
Uma das marcas significativas de uma relação educativa liber-tadora, ou seja, uma relação que propicia espaço para educado-res e educandos expressarem o ser que são, desconstruindo seuspreconceitos e possíveis medos, é uma relação que proporcionauma escuta efetiva.
RubemAlves (2003) nos lembra:
É preciso tempo para entender o que o outrofalou (...) O longo silêncio quer dizer: Estouponderando cuidadosamente tudo aquiloque você falou. (...) Não basta o silêncio defora. É preciso silêncio dentro. Ausência depensamentos. E aí, quando se faz o silênciodentro, a gente começa a ouvir coisas quenão ouvia (ALVES, 2003, p.65).
Ferruci (2004), por sua vez, fala sobre a escuta e o silêncio:
Talvez façamos tanto barulho por que nãoestejamos muito dispostos a escutar. O ver-dadeiro ato de escutar só acontece no silên-cio. Só posso ouvi-lo quando nenhum somvem atrapalhar, e, especialmente, quandosilenciei as vozes interiores que me distra-em do que você quer me dizer (...) Se nãointerrompemos o interlocutor, certamenteo fazemos com nossos pensamentos (FER-RUCI, 2004, p. 136).
O autor Fierruci (2004) ainda aprofunda sua reflexão, ao afir-

112
Entre Redes
mar:
E para ouvir é preciso mais do que o silên-cio. É preciso a capacidade de ouvir nãosó o que está sendo dito, mas como estásendo dito. Muitas vezes, as palavras em simesmas não são tão importantes; é o tomque mais importa (...) O verdadeiro ato deescutar pressupõe que ouvimos também oque não está sendo dito abertamente. Ouvi-mos o que a alma diz, ou grita (FIERRUCI,2004, p. 137).
Àmedida que uma criança, um adolescente ou seu familiar, mar-cados pela “introjeção da inferioridade naturalizada” e, portan-to, acreditando-se menos, nos dizeres de Cynthia Sarti (1999), àmedida que essas pessoas encontram um educador que cria umespaço de escuta, esse “acreditar-se menos” começa a encontrarcondições para ser desconstruído.
Alguém que nos escuta é alguém que nos reconhece e nos con-sidera. Portanto, a inferioridade introjetada começa a convivercom novas experiências relacionais, as quais vão trazendo no-vos elementos associados a sentimentos marcados pela positi-vidade.
Ao ser escutado, pouco a pouco, algo novo se descortina diantede uma criança, um adolescente ou mesmo de seu familiar. Aose sentir reconhecido por meio da escuta, inicia-se um processode reflexão e autovalorização. O que estava arraigado, já con-cebido como natural, poderá ser questionado. Ao serem escu-tados, educandos e seus familiares encontram condições paracomeçarem a sair do isolamento, da invisibilidade.
Segundo Fischer e V. Lousada (2010), uma das tarefas da escolacomo espaço de aprendizado da democracia seria a partir dopensamento de Paulo Freire:
Ouvir os outros não por puro favor, maspor dever, o de respeitá-los, o da tolerância,o do acatamento às decisões tomadas pelamaioria a que não falte, contudo o direito dequem diverge de exprimir sua contrarieda-de (FREIRE, 1997, p. 89, apud FISCHER eLOUSADA, 2010, p. 296).

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
113
Em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, Freire (1996) afirma:
Se, na verdade, o sonho que nos anima é de-mocrático e solidário, não é falando aos ou-tros, de cima para baixo, sobretudo, comose fossemos os portadores da verdade a sertransmitida aos demais, que aprendemos aescutar, mas é escutando que aprendemosa falar com eles. Somente quem escutapaciente e criticamente o outro, fala comele mesmo que, em certas condições, pre-cise falar a ele (...) O educador que escutaaprende a difícil lição de transformar o seudiscurso,às vezes necessário,ao aluno,emuma fala com ele (FREIRE,1996, pp.127-128).
A convivência cotidiana entre professores e alunos propiciaa criação de um clima de intimidade. A autora Inês Teixeira(1996) se indaga:
E por que são também relações de intimi-dade? Aqui se observa o gesto e a palavranão programados, enredando professor ealuno numa convivência impregnada de ca-lor humano, de sentimentos e não apenasestabelecida em funções e papéis sociais(TEIXEIRA, 1996, p. 188).
A mesma autora complementa: “Na verdade, a proximidade econvivência cotidiana faz surgir uma certa liberdade e acolhi-mento mútuo entre professores e alunos” (TEIXEIRA, 1996,p. 188).
O que queremos destacar é a potencialidade existente na escolapara, por meio das relações existentes entre educadores e edu-candos, propiciarem a quebra do sigilo, do segredo que opri-me tantas crianças e adolescentes, bem como a seus familiares,marcados pela violência sexual. Reforçamos aqui o fundamen-tal papel do educador: alguém que poderá ser uma presença efe-tiva na rede de proteção à criança e ao adolescente, solidário aoenfrentamento à violência infanto-juvenil.
A relação professor-aluno é, portanto, uma relação, segundo

114
Entre Redes
Teixeira (1996), na qual uma forte marca de envolvimento hu-mano e de afetividade se destaca.
Miguel Arroyo (2004) chama a nossa atenção para o dever dagestão e da docência em criar um clima de convívio nas escolasem um contexto no qual “as formas de sociabilidade fora daescola deixam tanto a desejar” (ARROYO, 2004, p. 27).
A convivência no espaço escolar é geradora de sentimentoscontraditórios, dependendo da postura de vida que assumimosenquanto educadores.
São alunos que vão nos tornando ao longodos anos descrentes ou comprometidos, du-ros ou humanos defensivos ou surpresos. Oconvívio tão próximo comos educandos(as)vai nos tornando insensíveis sentenciadoresde suas aprendizagens e de suas condutasou persistentes auscultadores dos mistériosde suas vidas (ARROYO, 2004, p. 64).
O mesmo autor completa e nos alerta:
Por mais que tentemos reduzir uma criançaou um adolescente a um número da cha-mada não dá, se revelam humanos (...) Portrás de cada nome que chamamos na listade chamada se fará presente um nome pró-prio, uma identidade social, racial, sexual,de idade (ARROYO, 2004, p. 27).
Fica evidente a dimensão relacional de nossa prática educativa.Professores e alunos, educadores e educandos:
... pessoas postas em situações que envol-vem calor e sentimento humano, seja debem-estar e bem-querer ou de mal-estar emal-querer. De aceitação e alegria, ou derecusa e repulsa. De positividade ou ne-gatividade ou tudo isso junto, misturado,variando conforme os contextos. O que seconstata, contudo, é que dificilmente have-rá frieza ou indiferença de um para comooutro (TEIXEIRA, 1996, p. 188).

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
115
Um dos desafios com o qual a escola se depara é a reinvençãoda convivência entre educadores e educandos mergulhados emformas de sociabilidade profundamente desumanas.
5. “O outro lado da moeda”: escola, espaço marcadotambém pela violência
Importante ressaltar que a mesma escola, que poderá propiciarespaços de encontros e convivência geradores de vínculos deconfiança, tem sido também espaço de apreensões e medos. Aoinvés de deixar sua marca positiva na vida dos sujeitos envol-vidos, existe o “outro lado da moeda”, ou seja, a escola geraconflitos que agravam situações de violência.
Cabe a nós, profissionais envolvidos com a educação, indagarnos a respeito do significado dessas tensões. O que os conflitosquerem nos comunicar? Que gritos são expressos nos atos deviolência?
Arriscamos a afirmar que, enquanto nós, educadores, não nosabrirmos para captarmos as tensões mais profundas, não saire-mos do lugar da descrença, da desistência, da desesperança.
Uma das chaves de leitura para um olhar mais cuidadoso a res-peito da violência presente na relação professor-aluno, apresen-tada por Arroyo (2004), é a desconstrução de nossos precon-ceitos para ceder lugar à construção de um novo olhar sobreos educandos. Remetemo-nos, aqui, aos educadores de maneirageral, incluindo os educadores escolares (diretores, coordena-dores e professores) e também aqueles que atuam para alémdos muros da escola, os conhecidos educadores populares e/oueducadores sociais.
O clima de cumplicidade, solidariedade, companheirismo pró-prio de uma instituição marcada por encontros diários, confor-me já mencionamos ser o caso das escolas, bem como de cen-tros sociais, poderá ser prejudicado, dificultando a construçãodo elo de confiança.
Nós nos perguntamos: como esperar que uma criança ou umadolescente se abra, expresse seu sofrimento, seus medos e an-gústias a alguém que convive com ele a partir de preconceitose rótulos – “atrasado”, “ignorante” – e, agora, com o acréscimo

116
Entre Redes
de “perigoso” e “violento”?
6. A importância de um novo olhar
Ao nos indagarmos a respeito do papel do educador na rede deproteção à criança e ao adolescente, destacamos a importânciada construção de um novo olhar. Segundo Arroyo (2004), “apedagogia é chamada a ser parteira [do] renascer de outrajuventude, outra adolescência e outra infância” (ARROYO,2004, p. 28). Ou seja, nós, educadores, somos convocados aassumir o nosso compromisso com o processo de mudança so-cial. Compromisso que ganha visibilidade ao desconstruirmosnossos olhares estigmatizados e preconceituosos. Descons-trução que ganha concretude a partir de alguns passos, dentreeles destacando-se o cultivo de uma atitude de abertura a que-rer conhecer melhor os educandos e seus familiares. Urge quenos indaguemos: conhecemos os nossos educandos? Como osvemos? Observamo-los? Paramos para escutá-los efetivamen-te? Fazemos pausas? Estas são questões que nos auxiliam a ul-trapassar a convivência superficial e unificadora a respeito dascrianças e adolescentes.
Outro passo, visando à construção de um novo olhar, é a convi-vência com a comunidade, um dos desafios que a escola viven-cia em seu cotidiano. Ao contribuir para o fortalecimento dosvínculos entre os diversos atores da rede de proteção, a escolacontribui, também, para superar a fragmentação e o isolamen-to.
Dulce Critelli (2004) nos interpela:
A nossa violência. De onde ela vem? Elanão é apenas um problema da economianem só um caso de polícia. Talvez seja otestemunho da falência da nossa ética, dosnossos valores e a vitória do individualis-mo.(...)Temos acreditado que “cada um épor si”, que “cada qual cuida de sua pró-pria vida”. Que cada um vence sozinho ese desgraça sozinho e não se deve interferirna vida dos outros – ou que “ninguém temnada a ver com isso (CRITELLI, 2004, p.2).

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
117
Amesma autora complementa:
A vida moderna é a vida dos homens iso-lados uns dos outros, que vivem cada vezmais sós e agem solitariamente.Nossatendência é a de recusar o convívio numacomunidade (...) Esquecemos assim queuma comunidade também nos dá respaldoe proteção. Recusando o convívio numa co-munidade, ficamos sem ter a quem recorrernas necessidades, com quem compartilhare defender sonhos e princípios (CRITELLI,2004, p. 2).
Ao destacarmos o papel da escola ao se inserir efetivamente narede de proteção, reafirmamos nossa crença na possibilidade damudança, a partir de um novo olhar, endossando a afirmação deCritelli (2004): “Não acredito que sejamos agora apenas im-potentes e nada mais. Não acredito que tenhamos perdido nos-sa capacidade de conversar e de fazer acordos” (CRITELLI,2004, p. 2).
Em sua “Carta do direito e do dever de mudar o mundo”, PauloFreire (2001), ciente da natureza contraditória e processual detoda realidade, afirma que mudar é difícil, mas é possível. Nareferida carta, apresenta uma de suas mais lúcidas chaves deleitura, ao esclarecer a diferença entre elementos determinantese elementos condicionantes.
O autor esclarece que “emprestar a um fator condicionante, umpoder determinante nos leva a uma posição fatalista diante daqual nada se pode fazer” (FREIRE, 2001, p. 319). Esclarece,também, que “saber-se condicionado e não fatalisticamentesubmetido a este ou àquele destino abre o caminho [para a]intervenção do homem no mundo” (FREIRE, 2001, p. 320).E complementa: “contrário da intervenção é a adequação, aacomodação ou a pura adaptação à realidade que não é assimcontestada” (FREIRE, 2001, p. 320).
Um desdobramento também muito fértil do esclarecimento arespeito dos condicionamentos é a concepção da história comopossibilidade e não como determinação:
Só na história como possibilidade e nãocomo determinação se percebe e se vive a

118
Entre Redessubjetividade em sua dialética relação comaobjetividade. É percebendo e vivendo a his-tória como possibilidade que experimentoplenamente a capacidade de comparar, deajuizar, de escolher, de decidir, de romper(FREIRE, 2001, p. 323).
A partir da superação de um olhar mecanicista e, portanto, de-terminista a respeito da natureza humana e da vida em socieda-de, adquirimos um novo olhar que reconhece, na espécie huma-na, sua capacidade única de poder intervir no mundo. “Gosto deser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado,mas consciente do inacabamento, ser que posso ir mais alémdele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e oser determinado” (FREIRE, 1996, p. 59).
7. A observação
Além de nossa capacidade humana para escutar, há que se fazerbom uso de outro recurso pouco considerado, qual seja, nossacapacidade para observar.
Observar pressupõe abertura ao novo, a fim de captarmos ges-tos, olhares, silêncios, risos que revelam realidades encobertas,negadas, reprimidas.
Ferruci (2004) nos desafia:
Para ver – ver de verdade –, só precisamosde um instante. Lembro-me da professorade meu filho que, toda manhã, recebe ascrianças na porta chamando cada uma pelonome. (...) Ela não se esquece de nenhum(...) É como dizer: aqui, neste lugar, vocêconta. Aqui você é alguém (FERRUCI,2004, pp. 130-131).
Conformemencionamos anteriormente, o silêncio, muitas vezesmoldado pelo medo, acompanha a vida de crianças e adolescen-tes vítimas da violência sexual. Nós, educadores, muitas vezesnos sentimos impotentes, sem vislumbrarmos caminhos pararomper com este silêncio causador de sofrimento e angústia.
A observação proporciona uma aproximação com a realidade,

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
119
oferecendo elementos para conhecimento, reflexão, compreen-são e intervenção. Porém, ela exige que aprendamos a desen-volver uma sensibilidade, a fim de garantir o respeito ao espaçoobjetivo e subjetivo que pertence ao “outro” que é observado.
A observação possibilita, também, captar de forma mais diretaas contradições, as tensões e conflitos, uma vez que a presen-ça do observador se dá no cotidiano, nos momentos em que asinterações fluem com mais naturalidade. Cabe lembrar que, noritmo natural da vida, nós, seres humanos, nos exprimimos commais transparência, sem a preocupação em mantermos uma“imagem” ideal.
Além de ser um rico instrumento para coleta de informações,fonte para um conhecimento da realidade, a observação consis-te também em um instrumento que proporciona uma aproxima-ção, um contato entre educadores e educandos. Aliada à escuta,a observação proporciona ao educador o cultivo de sua capa-cidade de silenciar-se e possibilita que os educandos tambémse aproximem para conhecê-lo. Muitas vezes, com a melhordas intenções, nós, educadores, nos precipitamos com nossasanálises, conclusões, nossos diagnósticos e impedimos que arealidade mais profunda se evidencie.
O respeito implica dar às pessoas o espaçoque elas merecem. Muitas vezes deixamosde fazer isso. Antes de mais nada, nós jul-gamos. Como juizes precipitados e cheiosde preconceito, chegamos rapidamente anossas conclusões. Mesmo sem dizer umapalavra, formamos opinião sobre quem querque esteja diante de nós. (...) E estejamoscorretos ou não em nosso julgamento, issoirá interferir em nosso relacionamento comessa pessoa (FIERRUCI, 2004, p. 139).
É importante escutar o que as pessoas dizem concomitantemen-te com a observação de seus sorrisos, seus olhares, seus gestos,sua respiração, um tipo de olhar evasivo, um tempo de respira-ção mais longo ou mais curto, um silêncio que convida a ir maislonge. Escutar e observar para tentar ultrapassar a superfície dafala, para captar o essencial.
Cabe considerar que apenas nos aproximamos da realidade, ouseja, não a esgotamos jamais. Apesar dos esforços e cuidados

120
Entre Redes
no sentido de apurarmos nossas “lentes” e demais sentidos,conseguimos captar apenas alguns aspectos da realidade. Os da-dos observados e escutados são apenas resultado do que nos foipossível captar nas condições objetivas e subjetivas que aquelemomento preciso proporcionou.
Portanto, nosso conhecimento da realidade é sempre aproxima-tivo. Ainda mais quando se trata do conhecimento a respeitoda condição humana. Há sempre algo inacessível e misterioso.Reafirmamos nossa preocupação com a emissão de nossos jul-gamentos e nossas conclusões. Nas relações humanas há sem-pre que considerar a dimensão do inacessível e do imprevisível,desafio que nos acompanha e que merece nossa atenção.
Ferruci (2004), refletindo sobre a atitude do respeito nas rela-ções humanas, associa à capacidade de olhar e nos alerta:
Olhar é um ato subjetivo e criativo. É sub-jetivo porque muda de acordo com nossomodo de sentir e pensar naquele momentoe, segundo nossas experiências e esperan-ças. E é criativo porque, em vez de deixaras pessoas como elas são,esse mesmo atoas toca e as transforma (FERRUCI, 2004,p. 132).
A partir destas reflexões, fica evidente que a capacidade de es-cutar e observar, rumo à construção de um novo olhar, é umprocesso que exige por parte de nós, educadores, um contínuoprocesso de reeducação.
8. Aplicação do conteúdo à prática
Reforçamos a importância de você, educador(a), ocupar um lu-gar efetivo na rede de proteção à criança e ao adolescente, reali-zando atividades como as que sugerimos a seguir:
1) Educador escolar, ou seja, diretores, coordenadores eprofessores:
- A partir da convivência diária, procure criar momentos de en-contros, conversas, brincadeiras, com o objetivo de cultivar oelo de confiança entre você e os educandos (crianças, adoles-centes, jovens e adultos), bem como os seus familiares;

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
121
- Priorize o escutar, expressando aos educandos a sua con-sideração e o seu respeito;- Que os educandos e seus familiares possam sentir um apoio euma segurança na escola. Que ela seja sua aliada, seu alicerce,seu porto seguro;
- A partir de seu contato diário, procure ser o porta voz junto àrede de proteção, mobilizando os demais atores, parceiros darede;
- Abra as portas de sua escola para reuniões, encontros e festas,criando um clima de convivência solidária.
2) Educadores que atuam em espaços não escolares(conselheiros tutelares, profissionais da área da saúde,assistentes sociais, etc):
Sugerimos que vocês se identifiquem enquanto educadores,uma vez que sua presença profissional também proporcionaaprendizagens e mudanças tanto subjetivas como objetivas;
- Procurem as escolas próximas de sua regional, de seu eixo deatuação, a fim de criarem parcerias, visando ao enfrentamentoda violência sexual infanto-juvenil. As escolas poderão ocuparum lugar importante na rede, na medida em que poderão ofe-recer seu espaço físico propício aos encontros, à convivência,às trocas. Desafiem as escolas a “abrirem suas portas e janelas”para captarem a dinâmica social, política e cultural na qual vo-cês já se encontram inseridos. A inter-relação entre a escola ecomunidade consiste em um dos motores que mobiliza a rederumo ao enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil.
Dulce Critelli nos (2004) alerta:
Somos convocados pelo futuro para realizarcoisas que ainda não são ou que queremosrealizar outra vez. (...) Estamos irremedia-velmente comprometidos com a constantecriação do mundo. E é isso o que nos dis-tingue dos animais, dos anjos, de quaisqueroutras criaturas. Queiramos ou não, o mun-do está sob nossa guarda. Para isso fomoscriados (CRITELLI, 2004, p. 2).

122
Entre Redes
Arroyo (2004) nos desafia, estimulando a abertura da escola àspráticas educativas não escolares:
Como coordenadores e pedagogos de ofí-cio, o que podemos aprender com [a] plura-lidade de ações pedagógicas que acontecemperto de nós, das escolas? O que podemosaprender com as famílias populares na hu-manização de seus filhos? O que podemosaprender com os educadores e educadorasenvolvidos(as) na recuperação da infânciaroubada? (...)Por que não articular as práticas educa-tivas escolares com essas práticas? (AR-ROYO, 2004, p. 250).
Arroyo (2004) conclui, indagando: “por que não deixar quenos contaminem e aprender juntos uma arte e um saber-fazerque nos são comuns?” (ARROYO, 2004, p. 251).
Como mensagem final: uma das contribuições de um trabalhoem rede está situada na possibilidade de trocas, nas quais educa-dores poderão aprender uns com os outros, além de se apoiaremmutuamente.
Considerações finais
A partir das reflexões apresentadas neste texto, focando o papeldo educador na rede de proteção à criança e ao adolescente, ficaevidente a complexidade do fenômeno a ser enfrentado e a res-ponsabilidade de cada ator envolvido na rede. Jurandir F. Costa(2004) nos alerta: “O que cada um de nós faz ou diz importa, eimporta muito! O mundo se faz de pequenos gestos cotidianos edas grandes crenças que os sustentam” (COSTA, 2004, p. 88).
A constatação de que nosso conhecimento e nossa compreensãoda realidade são sempre aproximativos nos leva a cultivar umaatitude mais cautelosa ainda, antes de julgarmos os comporta-mentos humanos.Outra aprendizagem nos remete a fazer bom uso de nossas po-tencialidades humanas, como é o caso de nossa capacidade deescuta e de observação. Algo a ser cultivado no dia-a-dia. Ca-pacidades essencialmente humanas que poderão significar ins-

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
123
trumentos poderosos na construção de um novo olhar a respeitodos educandos e seus familiares pertencentes às camadas po-pulares. A partir desse alicerce, poderemos vislumbrar a cons-trução de ações efetivas de enfrentamento à violência sexualinfantojuvenil, questão que tanto nos aflige e angustia!
Por fim, um alento e um alerta: conforme abordamos neste tex-to, a escola carrega consigo um potencial muito rico no senti-do de propiciar uma convivência diária e prolongada, condiçãoessencial para criação do vínculo de confiança. Porém, importalembrarmo-nos sempre do cuidado a ser dedicado às revela-ções, às quebras dos sigilos e silêncios por parte das crianças,adolescentes e seus familiares, pois estes constituem conteúdosde caráter muito pessoal. Cautela, calma, paciência e persistên-cia são elementos-chave que precisarão nos acompanhar. Outroelemento importante a ser lembrado é a dimensão do trabalhorealizado em rede. Na medida em que tanto a escola como asdemais instituições agirem contando com o apoio, a presençaumas das outras, o sentimento da solidariedade contribuirá nofortalecimento dos vínculos. Sempre lembrando que tudo issoconstitui um processo lento, com avanços e retrocessos e que,portanto, exigirá tempo e paciência.
Remontando a Jurandir F. Costa (2004): “toda mudança paraser estável, duradoura e produtiva, tem ser contínua e lenta.(...) Portanto, a paciência e a persistência são as melhores ar-mas para as mudanças responsáveis e humanamente frutíferas”(COSTA, 2004, p. 87).
Finalizo este texto convidando você, educador(a), a prosseguirsua jornada, fortalecido(a) pela autovalorização relativa à pro-fissão escolhida: a de educador(a). Pode ter certeza de que seusgestos, suas atitudes e seus olhares de acolhida, bem como o seurespeito poderão ser pontes a criar vínculos, a marcar uma pre-sença significativa no interior de uma rede que merecerá o nomeque a acompanha: rede de proteção à criança e ao adolescente.Proteção não como sinônimo de fragilização, pelo contrário, si-nônimo de fortalecimento com vistas ao enfrentamento de tan-tas violências, dentre elas a violência sexual infanto-juvenil!

124
Entre Redes
Referências bibliográficas
ALVES, Rubem. O amor que acendeu a lua. Campinas: Pa-pirus, 2003.
ARROYO, Miguel G. Imagens Quebradas. Trajetórias e tem-pos de alunos e mestres. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
CRITELLI, Dulce. O nosso poder de cada dia. In.: Equilíbrio,Folha de São Paulo, 29 de janeiro de 2004.
_________. Ainda quero a vida cor-de-rosa. In.: Equilíbrio, Fo-lha de São Paulo, 27 de novembro de 2003.
FERNANDES, Cleoni. Confiança. Verbete, In.: STRECK, DaVerbete, In.: STRECK, Da-nilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Di-cionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
FREIRE, Paulo. Carta do direito e do dever de mudar o mun-do. In.: Paulo Freire. Vida e Obra (org.). São Paulo: ExpressãoPopular, 2001.
_____________. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz eTerra, 1996.
JORGE, Liliane dos Santos. Educador e Educando: a dimen-são relacional da educação em experiências positivas na esco-larização de adolescentes. (Tese de Doutorado) Belo Horizonte,FAE/UFMG, 2007.
MOREIRA, Carlos Eduardo. Emancipação. Verbete, In.: ST-Verbete, In.: ST-RECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José(orgs.).Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte:Autên-tica, 2010.
PALUDO, Conceição. Educação Popular. Verbete, In.: ST-Verbete, In.: ST-RECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José(orgs.). Dicionário Paulo Freire. , 2. ed. Belo Horizonte: Au-têntica, 2010.
SARTI, Cynthia A. Família e jovens. No horizonte das ações.Revista Brasileira de Educação, n. 11, 1999, p. 99-109.
TEIXEIRA, Inês Castro. Os professores como sujeitos sócio-

“(Re)ligando os pontos: o papel do educador...”
125
culturais. In.: DAYRELL, Juarez (org.).Múltiplos olhares so-bre a educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
ZITKOSKI, Jaime José. Diálogo/Dialogicidade – Verbete, In:STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, JaimeJosé (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte:Autêntica, 2010.Bibliografia complementar
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação popular 40 anosdepois. In.: BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação popularna escola cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002.
CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos dacultura popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1993.
COSTA, Jurandir Freire. Entrevista concedida a José GeraldoCouto. In.: Quatro autores em busca do Brasil. Rio de Janei-ro: Rocco, 2000.
DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sociocultural. In.:DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cul-tura. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Bra-sileira de Educação. n. 24. São Paulo: Autores Associados,set./dez., 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação. São Paulo: Unesp,2000.
GIOVANETTI, Maria Amélia G. C. A formação de educadoresde EJA: o legado de educação popular In.: SOARES, Leôncioet al (orgs.). Diálogos na Educação de Jovens eAdultos. BeloHorizonte: Autêntica, 2005.
MARTINS, José de Souza. O falso problema da exclusão e oproblema social da inclusão marginal. In.: MARTINS, José deSouza. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo:Paulus, 1997.


Violência na escola e da escola
Eliane Castro Vilassanti
Eliane Castro VilassantiMestre em Filosofia e doutoranda em Educação pela UFMG. Professora de
História, Antropologia e Filosofia do Centro Universitário UNA eprofessora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte (MG).

128
Entre Redes
1. Introdução
Neste capítulo vamos abordar as diferentes manifestações, nosdias de hoje, da(s) violência(s) no ambiente escolar, retoman-do questões contextuais e históricas que contribuíram, e aindacontribuem, para a constituição do quadro atual. Além disso,buscaremos demarcar os limites, as diferenças e as interfacesentre a violência ocorrida no ambiente escolar – violência naescola - e aquela que é gerada por este ambiente – violência daescola, destacando as complexas relações que tornam alunos,educadores, infraestrutura e demais profissionais ora vítimas,ora agressores. Contudo, antes de tratarmos do tema em foco,é necessário delinear algumas definições sobre esta instituiçãosocial que é a escola.
A escola pública é uma instituição social recente, estreitamentevinculada à modernidade. Presente no ideário iluminista, dosséculos XVII e XVIII, ela se torna instituição importante nasocialização1 dos indivíduos, bem como no acesso à cidadaniadas sociedades modernas. A escola passa a ser o meio de acessoa uma construção cultural moderna em torno da ciência e datécnica, que possibilitou novos patamares de apreensão e com-preensão das relações sociais, dos bens culturais e econômicose dos saberes produzidos por uma sociedade culturalmente ca-racterizada pelo uso crescente de recursos letrados. Desde asua criação, a escola é vista como meio de oportunizar acessoa esses bens culturais produzidos pela sociedade, mesmo quetambém exerça papel ideológico frente aos interesses de classesociais, de gênero e de raça/etnia, a partir do qual sempre bus-cou homogeneizar as expressões das subjetividades e as inte-rações entre os sujeitos, especialmente por meio da definiçãode papéis sociais, modos de ser e de condutas esperadas, rit-mos de aprendizagem, etc. As representações sobre infânciajuventude, na modernidade, sempre mantiveram uma estreitarelação com a instituição escolar, pois esta instituição participados ideais da consolidação do Estado, no contexto da constitui-ção de cidadãos integrados ao projeto de sociedade moderna(DUBET,1994; 2000).
Assim, a socialização, na modernidade ocidental, sempre foicaracterizada por forte presença de duas instâncias sociais: afamília e a escola, sendo instâncias potencialmente parceirasna proteção e promoção da infância e da juventude em sua vi-vência como etapas importantes na constituição dos sujeitos
1.Este é um conceitosociológico, cujo sentidogeral pode ser tomadocomo “desenvolvimentoda consciência social edo espírito de solidarie-dade e cooperação nosindivíduos de uma so-ciedade” (Dicionário daLíngua portuguesa La-rousse Cultural, 1992),mas exige aprofunda-mento teórico adequadoe será retomado linhasabaixo.

“Violência na escola e da escola”
129
sociais. O ideário de papéis sociais das instituições (família,escola, sociedade, etc.) e sujeitos (aluno, professor, pais, etc.)está, na contemporaneidade, recebendo novas configurações edefinições. No entanto, à escola cabe, ainda, este papel de edu-cação no sentido amplo: socialização e acesso aos bens cultu-rais e científicos, essencialmente letrado.
Ao longo da história do século XX fomos adquirindo maioracesso da população sobre a escola, tanto no Brasil quanto nomundo. No entanto, a escolarização, enquanto um direito social,significa mais do que a universalização do acesso. É fato que,nos últimos anos, devido ao amplo crescimento da oferta do nú-mero de vagas, sobretudo na educação básica, a sociedade bra-sileira encontra-se muito mais avançada na garantia do acessoà escolarização de crianças e jovens. Mas o direito à educaçãotambém implica a garantia de condições dignas de permanên-cia, com qualidade, na instituição escolar e a participação ativada comunidade escolar nos debates educacionais.
Contudo, transformações sociais recentes vêm revelando, alémdisso, novas expectativas quanto ao papel da escola e uma novarelação dessa instituição com a construção das identidades/sub-jetividades da infância e da juventude. Esse novo papel socialda escola enfrenta, dentre tantos desafios, o difícil deslocamen-to de um olhar sobre os alunos não mais como objetos do fazerpedagógico, mas agora como sujeitos de direitos. Além disso, aescola vem sendo substituída como lugar privilegiado de acessoaos bens culturais, tanto pela mídia quanto pelas diversas ins-tâncias sociais de aprendizagens extra-escolares. Nesse sentido,vale questionar como crianças e os jovens vivenciam, hoje, aescolarização e qual é o papel que a escola vem desempenhan-do na socialização dessas subjetividades em formação. Estamoscumprindo efetivamente esse papel de formação que possibiliteo pleno desenvolvimento do ser humano? O acesso e a qua-lidade da educação escolar são garantidos como um direito atodos?
Apesar dos avanços quanto ao acesso à escolarização, temos vi-venciado, crescentemente, o tema violência na e da escola comoum tema recorrente, seja por manchetes veiculadas pela mídia,seja pelos profissionais da educação, seja ainda pelos agentesda rede de proteção às crianças e jovens, ou mesmo por meio deregistros dos próprios adolescentes e jovens, ou pelos registrosdos agentes de segurança pública. O tema “violência na e da

130
Entre Redes
escola” está relacionado ao modo como os sujeitos da comuni-dade escolar se relacionam.As relações sociais estabelecidas noambiente escolar são um campo complexo, com várias dimen-sões possíveis de análise, sendo que a relação professor-aluno épredominante. Essas relações sociais na escola foram tratadas,ao longo da produção acadêmica e pedagógica, por uma sériede conceitos, tais como disciplina, indisciplina, relação pedagó-gica e, mais recentemente, pelos conceitos de violência escolar,bulling na escola, “zoação”, dentre outros. O uso dessa gamade termos parece revelar não só formas representacionais e his-tóricas de tratamento do tema, mas as várias dimensões dessecampo de pesquisa e intervenção.
Porém, o que é a violência na escola? O que é violência da es-cola? Como distinguir esses campos de conflito com o lugar dasocialização, próprio de processos educativos? Como agir sobreesses limites entre a socialização/formação e os contextos quelevam a relações de violência? Qual o papel da escola na cons-trução de uma cultura de paz e no enfrentamento à violênciainfanto-juvenil?
2. Tratamento conceitual da violência escolar
Aescola, como instituição inserida na sociedade, não está isentade sofrer reflexos da violência, bem como de produzir um tipoespecífico de violência: a violência escolar. Vários autores vêmtratando da complexidade desse fenômeno (DEBARBIEUX,1997; CHARLOT, 1997; CANDAU, 1999; ABRAMOVAY,2002; SPOSITO, 1998; GUIMARÃES, 1998) que deve seranalisado sob vários aspectos: violência da escola, violênciana escola, violência sobre a escola. Neste texto abordaremossomente as duas primeiras dimensões desse conceito. O trata-mento conceitual da violência escolar é uma das primeiras difi-culdades apontadas na literatura acadêmica, pois diz respeito aocaráter subjetivo e, por conseqüência, polissêmico do conceitode violência. Para Debarbieux (1997), por exemplo, a análisedo fenômeno da violência passa por divergências consideráveisentre os pesquisadores, sendo que ele apresenta a seguinte sis-tematização dos atuais modelos teóricos franceses:
Primeiro modelo: a violência era bem maisimportante nas sociedades antigas, o senti-mento de insegurança que acredita-se nas

“Violência na escola e da escola”
131
sociedades contemporâneas melhor pro-tegidas é injustificável, fantasiosa, dito deoutro modo, não há relação direta entresentimento de insegurança e vitimização,temos medo de uma violência que tende adesaparecer. O segundo modelo: houve umcrescimento da violência nas últimas déca-das e é necessário estabelecer uma relaçãodireta entre risco, vitimização e inseguran-ça. O que pode nos ensinar a história nãoé tanto ‘crescimento’ ou ‘desaparecimento’da violência senão a variabilidade de seudefinição através das épocas. Em outrostermos: não está errado termos medo, masnão se trata da mesma violência (DEBAR-BIEUX, 1997, p. 28).
Desse modo, a definição sobre o que é violência envolve nãosó os fatos violentos, quantificáveis pelos pesquisadores, mastambém envolve a percepção da violência, apoiada nos relatosdos sujeitos envolvidos, reveladores tanto do sentimento de (in)segurança, quanto pelo fenômeno da vitimização.Além disso, oautor evidencia que, embora o fenômeno da violência não sejaatual, ele possui caráter específico na contemporaneidade, sen-do que seus contornos conceituais dependem de traços culturaise históricos que envolvem as relações objetivas e simbólicasentre os sujeitos.
O caráter polissêmico do conceito, segundo Debarbieux (1997),resulta, especialmente, da multiplicidade dos modos de percep-ção dos diversos sujeitos envolvidos, pois em um mesmo lugaros sujeitos que confrontam os mesmos fatos podem não inter-pretar da mesma maneira e que não verão o mesmo nível deviolência.
Por outro lado, Sposito (1998), por exemplo, ao tematizar a vio-lência escolar, recorre ao seguinte conceito geral: “violência étodo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso daforça. Nega-se, assim, a possibilidade da relação social que seinstala pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogoe pelo conflito” (SPOSITO, 1998, p.3). Com este conceito, aquestão é focada o âmbito das interações sociais, em sua qua-lidade e forma, sendo que a violência escolar é a anulação dapossibilidade de diálogo como mediação por excelência.Assim,as análises sobre o fenômeno da violência escolar devem tra-tar dessa complexidade que é a interação humana, sendo que

132
Entre Redes
uma separação radical do que é “violência objetiva” frente aos“sentimentos de vitimização e insegurança” parece ser um ca-minho teórico problemático (Debarbieux, 1997). Do mesmomodo, Charlot (1997) se refere à dificuldade em definir vio-lência escolar, não somente porque esta remete aos fenômenosheterogêneos, difíceis de delimitar e de ordenar, mas tambémporque desestrutura “as representações sociais que têm valorfundador: aquela da infância (inocência), a da escola (refúgioda paz) e da própria sociedade (pacificada no regime demo-crático)” (CHARLOT, 1997, p. 1). Portanto, o que parece serdesconcertante é a constatação de que a escola não seria maisrepresentada como lugar seguro de interação social, de sociali-zação e um espaço protegido. Ao contrário, tornou-se ambientede ocorrências violentas, que colocam em xeque a função socialda escola como lugar de conhecimento, de formação humana einstituição, por excelência, do exercício e aprendizagem da éticae da cidadania.
Debarbieux (1997), ao buscar a história da violência escolar naFrança, demonstra que esta inicialmente apresentou-se enquantoviolência dos adultos sobre a infância e juventude através nãosó dos castigos corporais como método de ensino, mas quantoà concepção de infância como uma fase irracional que exigiaprocedimento de controle social forte, visando à conformaçãode um ser humano ideal. Para ele, “a lição essencial da históriapoderia bem ser a do sentido da violência em educação, sendo avariabilidade correlacionada às representações da infância e deeducação” (DEBARBIEUX, 1997, p. 32), de modo que o olharhistórico sobre os fatos em torno do que é violência em meioescolar aponta para a diversidade de apreensão destes fatos apartir das representações neles envolvidos. Para ele, “histórica eculturalmente, a violência é uma noção relativa, dependente doscódigos sociais, jurídicos e políticos de época e lugares onde elatoma sentido” (ibid., p. 35). Além disso, para este autor:
O que definimos por ‘bem’, ‘infância’,‘educação’ e ‘violência’ são representa-ções sociais ancoradas em uma história eum pertencimento social. /.../ Uma repre-sentação social (Jodelet, 1991) depende,entre outras dimensões, da situação dossujeitos que a produz. Denise Jodelet pro-põe diversas dimensões para essa situação,dentre essas as dimensões sociais, coletivase psicológicas (ibid., p. 37).

“Violência na escola e da escola”
133
Assim, a violência escolar não se restringe a um campo concei-tual ou jurídico, mas adquire uma “realidade” a partir da “ex-periência social” (DUBET, 1994) dos sujeitos frente às ocor-rências e fatos, pois “a verdade de um fenômeno social resultado sentido que dão os sujeitos a esses eventos e aos atos” (DE-BARBIEUX, 1997, p. 39). Portanto, conforme esse referencialteórico e metodológico, devemos privilegiar os discursos dosatores sociais sobre o sentido dos fatos e da qualidade das inte-rações no ambiente escolar, deixando de lado conceitos a priorie universais, bem como soluções generalistas.
Porém, quais os fatos, sujeitos e processos podem caracterizarcomo de violência escolar? Como podemos mapear esse fenô-meno para atuar sobre ele? Como distinguir violência na e daescola? Como atuar sobre essas distinções?
3. Concretizando o fenômeno da violência escolar
Comovimos anteriormente, o conceito violência está diretamen-te ligado ao sistema de sentidos e significados de uma pessoa,dos grupos sociais e culturais, ou ainda de uma sociedade, poissão esses sistemas simbólicos que configuram o modo como osfatos são percebidos. No entanto, é possível dar concretude aoque é ou não é violência, bem como definir certa tipologia, apartir do qual podemos identificar as diversas manifestações daviolência: a física, a emocional, sexual, social, etc.
De acordo com Debarbieux (1997), quanto à violência e a inse-gurança em meio escolar,
podemos considerar: 1) os crimes e delitosque dão lugar aos furtos, roubos, assaltos,extorsões, tráfico e consumo de drogas,etc., conforme qualificados pelo códigopenal; 2) as incivilidades2, sobretudo con-forme definidas pelos atores sociais; e 3)sentimento de insegurança, ou sobretudoaqui o que denominamos ‘sentimento deviolência’ resultante dos dois componentesprecedentes, mas também oriundo de umsentimento mais geral nos diversos meiossociais de referência (ibid., p. 42).
Este autor propõe o uso do conceito de “clima social escolar”
2.Incivilidade: quebra dopacto social de relaçõeshumanas e de regras deconvivência (ABRAM-OVAY, 2002), dimensãoque será tratada linhasabaixo.

134
Entre Redes
como conceito mais apropriado para a adequada aproximaçãodesse complexo de elementos que configuram o problema daviolência em meio escolar. Segundo Blaya apud Derbarbieux(2002), este conceito significa a qualidade geral das relações einterações entre os diferentes atores da escola.3Desta forma, es-clarecemos a opção em ancorar nossa reflexão acadêmica4sobreviolência escolar nesse instrumental teórico e metodológico sejustifica no pressuposto de que, em nossa pesquisa, bem comono adequado enfrentamento do tema em foco,
trata-se de saber, na situação de mais vari-áveis possíveis, se os estudantes e adultospercebem a violência, qual o grau de inten-sidade dessa violência percebida, quais sãoos tipos de violência observados. Ao com-parar essas representações e percepçõesdentre um número suficiente de estabeleci-mentos, nós poderemos assim do ponto devista da pesquisa: recolher as definições aviolência relativas aos diferentes terrenos/.../ ou aos diferentes status dos atores (DE-BARBIEUX, 1997, p. 62).
De modo que devemos procurar, conforme esse referencial te-órico e metodológico, compreender o clima social escolar, pormeio destas três dimensões: 1. violência, através dos registrose ocorrências de crimes e delitos praticados no interior e noentorno das escolas, conforme a legislação em vigor; 2. as in-civilidades ou indisciplinas, conforme as normas e regras deconvivência de uma escola e de um sistema de ensino; 3. o sen-timento de (in)segurança, que pode ser apreendido por meio demetodologias diversas: survey, grupos focais, etc.
Os diagnósticos quantitativos sobre as relações entre violênciae escola nas Redes Públicas estão vinculados especialmente aosdados da Polícia Militar e das Guardas Municipais, por meiodos boletins de ocorrências (BO e BI) realizados por programasespecíficos de atendimento às escolas, por exemplo: patrulhaescolar, anjos da escola, guarda municipal na escola, etc. Alémdisso, as pesquisas realizadas por Instituições acadêmicas e ór-gãos governamentais e não-governamentais – como, por exem-plo, o CRISP5 - Centro de Estudos de Criminalidade e Seguran-ça Pública, órgão ligado à UFMG-, têm ampliado os indicadorespara o enfoque da percepção de violência em meio escolar, istoé, a partir de surveys que privilegiem as definições dos atores
3.BLAYA, C. Clima es-colar e Violência nosSistemas de EnsinoSecundário da França eda Inglaterra. In: DER-BARBIEUX, E.; BLAYA, C.(orgs.) Violências nas Es-colas e Políticas Públicas.Brasília: Unesco, 2002,p. 226.
4.Minha pesquisa dedoutorado cujo temaé “Representações daescola pública e a con-figuração do Clima So-cial Escolar”, Faculdadede Educação/ UFMG(2007-2011).
5.Informações di-sponíveis no site doCRISP: <http://www.crisp.ufmg.br>

“Violência na escola e da escola”
135
sociais tanto sobre a incivilidade quanto ao sentimento de (in)segurança. Por meio desses dados e pesquisas poderemos ca-racterizar as principais modalidades que vêm sendo registradasno ambiente escolar: 1. ações contra o patrimônio: pichações,depredações, furtos; 2. ações contra a pessoa: diversas formasde agressão, sobretudo entre os próprios alunos, seja por brigas(via de fatos), por insultos e ameaças, além do estouro de artefa-tos, uso de drogas, porte de arma de fogo, dentre outros.
Sobre a dimensão de incivilidade, temos que esclarecer que esseé um conceito acadêmico que trata, conforme definição de dicio-nário6 da falta de civilidade, indelicadeza, descortesia ou, ainda,por civilidade compreende-se das boas maneiras em socieda-de, como cortesia, urbanidade, polidez. Abramovay (2002), porexemplo, define incivilidade como a quebra do pacto social derelações humanas e de regras de convivência. Então, o que estáem foco, nessa dimensão tematizada por Debarbieux (1997), ésociabilidade, bem como a socialização, além dos instrumentose instituições que garantam um nível adequado de convivênciasocial. As questões em torno da sociabilidade e da socializaçãosão conceitos sociológicos e foram tratados por modos diversosde representações pelas diferentes linhas do pensamento socio-lógico. Tanto a sociabilidade como a socialização são eventospróprios da interação humana, com contornos culturais, histó-ricos e institucionais mutáveis. Além disso, as interações hu-manas são movidas ora pela cooperação, ora pela competição,bem como por relações de poder. As regras, normas e leis sãomodos de garantir o equilíbrio entre os interesses particularese os interesses coletivos, bem como garantir o convívio socialadequado, dentro de um contexto de relações de poder, de ins-tituições sociais e da mediação do Estado. As interações sociaisentre sujeitos, entre grupos e entre sociedades são estruturadasa partir de elementos constituídos e reconstruídos por processoshumanos, possuindo uma historicidade.
A educação escolar é uma instituição socializadora, pois partede suas funções sociais é de integrar os indivíduos a complexosprocessos sociais, culturais, de valores morais, cognitivos, etc.Como vimos na introdução, na modernidade a escola passa a terum papel importante nesse processo de socialização, de cons-tituição dos sujeitos sociais. As regras e normas escolares sãoconstruções históricas e culturais e passam por mutações comoocorre, também, em relação às regras e normas sociais. No en-tanto, no interior da escola estas regras e normas foram organi-
6.Dicionário da Línguaportuguesa LarousseCultural, 1992

136
Entre Redes
zadas, desde o inicio da escola, por meio da disciplina escolar,com forte papel de integração do sujeito ao sistema, conforme asociologia clássica (DUBET, 1994), de modo que o tratamentoda socialização e das relações sociais na escola, historicamente,estiveram vinculadas ao conceito de disciplina escolar, em queos papéis de professor e aluno foram construídos no interior dacultura escolar. Esses papéis sociais, e o contorno dos potenciaisconflitos existentes no ambiente escolar, foram sempre tratadosno Regimento Escolar, que normatizava os diversos aspectos dofuncionamento da escola (SOUZA, 2008). A história da cons-trução e normatização das condutas na escola possuiu, até re-centemente, mais elementos de continuidade do que de ruptura.Nesse contexto, a normatização das condutas esteve inserida nodiscurso de construção da cidadania, entendida como processocivilizatório, dirigido pelo Estado, que tornasse os indivíduosaptos à convivência social, sob os contornos da modernidade(CARVALHO, 1989; LOPES & FARIA FILHO, 2000; NO-GUEIRA, 2006). Na história da educação brasileira, verificaseque, até recentemente, havia um pacto social e cultural para ospequenos e grandes significados das interações sociais entre ossujeitos da escola, regulamentado pelo Estado, através do Re-gimento Escolar (SOUZA, 2008). Parte do que se constitui aviolência da escola está diretamente ligado a esse processo denormatização de condutas, como veremos adiante.
Hoje, a partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Crian-ça e do Adolescente, a escola sofre mudanças significativas naregulação de suas relações sociais, muitas vezes ainda não con-cretizadas na forma de um Novo Regimento Escolar. As inova-ções, quanto a concepções do social, especialmente os avançosligados à noção das crianças e jovens como sujeitos de direi-to e da educação como direito subjetivo, presentes nesses doismarcos regulatórios da sociedade brasileira, não foram incor-porados, em sua totalidade, na vida cotidiana da comunidadeescolar, muito menos em um instrumento regulatório das rela-ções entre os sujeitos da escola que se assemelhasse ao antigoRegimento Escolar.
Para o que nos interessa aqui, quando tratamos de entender oclima social escolar é necessário, também, verificar como essesprocessos regulatórios, formais ou informais, estão sendo efe-tivados no sentido de aplicação da lei, especialmente na com-preensão da natureza do processo de socialização que a escolaestá desenvolvendo, pois esta socialização pode ser ou um fator

“Violência na escola e da escola”
137
de prevenção ou de agravamento das relações entre os sujeitosda escola. Isso significa verificar como está sendo desenvolvi-da a disciplina escolar e como, através da vivência das regrase normas escolares, as crianças e jovens estão desenvolvendosuas experiências de sociabilidade e de socialização e, em últi-ma instância, se estamos desenvolvendo ou a cultura da violên-cia ou a cultura de paz. Além disso, podemos questionar: comoa disciplina escolar favorecer ou dificulta o sentimento de (in)segurança? Que ambiente acadêmico está sendo desenvolvidoem favor dos processos educativos e de aprendizagem cognitivae social?
É necessário, antes de tudo, desenvolver um modo mais com-partilhado de definição dessas regras e normas de convivêncianão só com os familiares, mas também com os próprios alunos.Essa dimensão deve ser pensada tanto pelo sistema de ensinocomo também pela comunidade escolar. Isso porque vários au-tores (ARROYO, 2005; CHARLOT, 2001; DEBARBIEUX,1997) defendem que a escola passe a ser um espaço de reconhe-cimento recíproco, em que ocorra não só o acolhimento, comotambém o diálogo entre adultos e crianças, adolescentes e jo-vens, enquanto sujeitos de direitos, em busca de uma educaçãopública de qualidade e democrática. Talvez seja esse o primeiroelemento do caminho de intervenção e superação de fatos quepodem contribuir para a violência na e da escola.
É possível acompanhar e sistematizar os registros e ocorrênciasrealizadas pela escola, bem como verificar as soluções coletivasconstruídas em favor de uma socialização contra a violência, emespecial contra a violência sofrida por crianças e jovens. Tam-bém é possível desenvolver pesquisas para determinar como es-sas regras e normas estão funcionando e como elas estão ou nãointerferindo no sentimento de (in)segurança de crianças, jovense adultos no ambiente escolar. O modo de monitorar a dimen-são das relações sociais na escola ainda se efetiva através doslivros de ocorrências das coordenações pedagógicas, no entantoé preciso um modelo de monitoramento estratégico, a ser efe-tivado pelos sistemas de ensino, que busque, com esses dados,construir políticas públicas adequadas para essa dimensão dasrelações entre os sujeitos da escola.
O sentimento de (in)segurança está diretamente ligado às duasprimeiras dimensões, pois está na dependência de haver ou nãoum bom clima social escolar. Tal dimensão pode ser medida e

138
Entre Redes
monitorada através de pesquisas de opinião sobre o clima socialescolar, bem como através de grupos focais e entrevistas indivi-duais. É na compreensão do clima social escolar que podemosconstruir intervenções coletivas e pedagógicas para o enfrenta-mento da violência contra crianças e adolescentes em ambienteescolar e fora dele. Essa compreensão exige metodologia ade-quada, superando rótulos e simplificações. Nesse sentido, apre-sentamos uma tipologia própria do ambiente escolar7, a partirdo quadro abaixo:
Violência em ambiente escolar
Sujeitos envolvidos: Tipo de violência: Formas de expressão
Violência entre alunos Física Bater, empurrar, beliscar, cortar,etc.
Violência partindo de alunopara professor
Emocional Insultar, ameaçar, chantagear, gritar,depreciar, etc.
Violência partindo de profes-sor para aluno
Pela omissão Negligenciar,Restringir, ignorar, excluir, negar,etc.
Violência partindo da escolapara a família
Sexual Menosprezar, violar, obrigar, rechaçar, etc.
Violência partindo da famíliapara a escola
Social Discriminar, negar oportunidades,excluir, etc.
Ainda podemos caracterizar o fenômeno da violência escolaratravés das seguintes dimensões: a- O modo como é promovida:de maneira individual (um agressor conta uma ou mais vítima);de maneira grupal (vários agressores contra uma ou mais ví-timas) ou ainda por meio de multivitimização (sentimento deviolência ou violência de fato que atinge múltiplos sujeitos);b- O local da ocorrência: dentro da escola: pátio/ corredores/banheiros/ sala de aula; fora da escola: horário da entrada, da
7.Adaptação de “Carac-terización de la Violen-cia” In: GEM(Grupo deEducación Popular comMujeres). Contra la vio-lencia, eduquemos paraa paz. México: GEM,2003, p. 14.

“Violência na escola e da escola”
139
saída, no trajeto até a residência.
Do ponto de vista de delinear possíveis nexos causais que ex-pliquem a violência escolar, pesquisas revelam que os alunosreconheciam que fatores como a desordem e a ausência decontrole disciplinar exercidos pela escola sobre o seu públicofavorecia eventos violentos. Por outro lado, há pesquisadoresque compartilham da idéia de que a violência e a criminalidadeestão associadas ao fenômeno da urbanização acelerada e da de-sigualdade social, o que acabaria por transformar ambientes po-bres em violentos, sendo a escola um dos lugares de manifesta-ção desta violência socialmente determinada. Outras pesquisas,ainda, procuram verificar, por meio de survey, o nível de medopresente no cotidiano escolar e até que ponto este medo provo-caria queda de rendimento escolar, trazendo conseqüências paraa qualidade do aprendizado. Tais estudos revelam que a violên-cia interfere na sensação de segurança do aluno e, portanto, noseu aprendizado, de acordo com o que podemos afirmar o ca-ráter multicausal da violência escolar, a partir do qual podemosbuscar não só construir uma tipologia dessas causalidades, mastambém, ao diferenciar o que é eminentemente do ambiente es-colar e o que está ligado ao entorno social e cultural da escola,determinar os elementos que compõem o clima social escolare como estes participam dos chamados fatores associados aodesempenho escolar.
Para caracterizar essa multicausalidade podemos apontar os se-guintes grupos de causas da violência escolar: presença de ele-mentos proibidos por lei (armas, drogas, furto, etc.); conflitossem mediação do diálogo entre membros da instituição (alunos,professores, funcionários, pais); ameaças pessoais (extorsão,insultos); regras difusas e punições injustas; falta de respeitoentre os sujeitos; falta de disciplina por parte dos alunos; re-sultados acadêmicos fracos; falta de apoio da rede social sobreo dever implícito dos profissionais da educação em lidar comproblemas sociais e familiares dos alunos; falta de projeto polí-tico-pedagógico voltado às demandas das crianças, jovens e dacomunidade escolar; falta de trabalho coletivo na escola; faltade valorização dos profissionais da escola; falta de formaçãocontinuada e em serviço, dentre outros.
A partir disso, é possível compreender os elementos específicosque estão configurando ambientes escolares seguros e acolhe-dores, ou ainda aqueles elementos que podem configurar am-

140
Entre Redes
bientes escolares propícios para a eclosão de eventos de violên-cia na e da escola.
Entretanto, nesse processo de compreensão visando à inter-venção sobre o problema, como distinguir o que é violênciada escola e o que é violência na escola? Como essa distinçãocontribui para aprofundarmos a compreensão do fenômeno daviolência escolar?
4. Distinguindo violência da escola e na escola
Diversos trabalhos tomam a interação entre os sujeitos da esco-la como um fator explicativo para o fenômeno da violência es-colar (GUIMARÃES, 1996; AQUINO, 1996); LANTERMAN,2000); ABRAMOVAY, 2002), verificandose que a questão deviolência nas escolas passa muito mais pela figura do professorpor meio de sua ação educativa. É possível reconhecer certatipologia de vínculos construídos na relação professor-alunosem cair na classificação dualista entre bons e maus educado-res? Que representações de escola, especialmente de sua funçãosocializadora, orientam a construção desses vínculos diferen-ciados? Abramovay (2002), após pesquisa realizada em diver-sas escolas brasileiras, relaciona um conjunto de habilidades, narelação educativa, que seriam tomadas como fator de proteçãopara ambientes propícios à violência escolar. Segundo ela, fo-ram localizadas como razões pelas quais os alunos estudam emdeterminadas escolas as seguintes:
Habilidades dos profissionais da educa-ção: respeita as diferenças sociais, instigao interesse do aluno em aula, incentiva acontinuidade do estudo, preocupa-se com odesempenho do aluno, dá bons conselhos,sabe dosar os momentos de brincadeiras eos de seriedade, oportuniza o diálogo comos alunos, sabe lidar com adolescentes, dáliberdade para os alunos se expressarem,não se restringe a falar apenas do conteúdodidático, dentre outras. (ABRAMOVAY,2002, p. 175177).
Por outro lado, Lanterman (2000) apresenta, como resultado desua pesquisa realizada em escolas de Florianópolis, a identifi-cação de vínculos pouco saudáveis relacionados à atitude do

“Violência na escola e da escola”
141
profissional da educação:
São aqueles que ‘não sabem conversar’,‘não explicam, vêm logo xingando’, ‘dãomuita importância aos bagunceiros’, ‘as au-las são sempre iguais’, ‘enchem o quadro’ou ‘abrem o livro e ficam lendo’, ‘a gentefaz bagunça e eles não fazem nada, ficam sóolhando’. Alguns alunos consideram aindaque certos professores ‘pegam no pé’, ‘dãobroncas injustas’, interpretando que há cer-ta injustiça na diferença de tratamento quecertos professores fazem entre os alunos(LANTERMAN, 2000, p. 124).
Para além desse modo de analisar o fenômeno da violência es-colar, a partir da interação entre professor e aluno, podemos ar-gumentar que não é novo afirmar o quanto as práticas escolaresestiveram e, em muitas escolas, estão distanciadas da realidadesocial das crianças e jovens. Isso porque, no processo históri-co de invenção da escola, criou-se um modo de funcionamentopeculiar, ligado as suas funções sociais na modernidade, o qualdenominamos “cultura escolar”. Esta cultura escolar tem comotraço fundamental a busca da homogeneização das capacidades,ritmos e processos de aprendizagem, negando as individualida-des em seus modos diversos de serem crianças, jovens e adultos.Nesta homogeneização, a escola buscou regulamentar seu coti-diano: tempos, espaços, currículo e rituais escolares, por meiode uma disciplina normativa, sendo esta de tipo linear, vertical eautocrática. Na origem dessa normatização das condutas na es-cola, a autoridade não era questionada, nem se discutiam as de-cisões tomadas pelos adultos, o que garantia uma reprodução doexercício de poder na forma hierárquica e autoritária, com usode prêmios e castigos.A relação era a de um superior-adulto queensina a um inferior-aluno que aprende mediante a instrução eem clima de forte disciplina, ordem, silêncio, atenção e obedi-ência em relação aos valores vigentes. Nesse contexto de rela-ção verticalizada da autoridade ocorria certa violência de ordemsimbólica e, em certo período da história da Educação, houve,inclusive, o recurso de castigos corporais como estratégia paraa garantia da disciplinarização das condutas. Esse modelo, ins-pirado nas organizações militares e fabris, desenvolveu-se aolongo dos séculos XIX e XX, sendo que os castigos corporaisforam gradativamente eliminados como modo de atuar sobre adisciplinarização dos alunos. Assim, os papéis de professor ealuno foram construídos no interior da cultura escolar através

142
Entre Redes
do Regimento Escolar, que normatizava os diversos aspectosdo funcionamento da escola (SOUZA, 2008). Com essa formade atuação da cultura escolar foram construídas as categoriasque hoje chamamos aluno e professor no âmbito da escola.Conforme Sacristán (2005), a questão está em desnaturalizara categoria aluno e compreender “como o ser que está na salade aula, tal como agora o conhecemos e representamos, é umainvenção tardia que surge com o desenvolvimento dos sistemasescolares” (SACRISTÁN, 2005, p. 125). Ainda conforme Sa-cristán (2005),
ser aluno é ser estudante (aquele que estu-da) ou aprendiz (aquele que aprende; sãocategorias descritivas de uma condição quesupões trazer unidos determinados compor-tamentos, regras, valores e propósitos quedevem ser adquiridos por quem pertence aessa categoria/.../ Ser aluno é uma maneirade se relacionar com o mundo dos adultos,dentro de uma ordem regida por certos pa-drões, por intermédio dos quais eles exer-cem sua autoridade, agora com a legitimi-dade delegada pelas instituições escolares.É uma das formas modernas fundamentaisdo exercício do poder sobre os menores(SACRISTÁN, 2005, p. 125).
Para consolidar a categoria aluno, a cultura escolar bus-cou anular as expressões da infância e da juventude nosindivíduos que a freqüentavam, negando a estes a expres-são das suas subjetividades e diversidade de modos deserem sujeitos sociais. Portanto, a homogeneização, alémde negar o que é, em si, heterogêneo - as individualidades-, negou à infância e à juventude, também, a possibili-dade de expressar suas subjetividades e sua condiçãode sujeitos sociais, tornando-os objetos desse molde dacultura escolar: a categoria aluno. Por outro lado, segun-do Sacristán (2005), a categoria de professor se efetivoucomo
figuras de adultoseducadores, que vão seespecializando em assistência, cuidados,vigilância, ensino e guia de menores, de-

“Violência na escola e da escola”
143
sempenham ‘ofícios’ que começaram a serexercidos no interior de famílias nobrese, mais tarde, na burguesia, sob vigilânciadireta dos pais, se diferenciando destesprogressivamente (SACRISTÁN, 2005, p.129).
Portanto, os elementos centrais que configuram a violência daescola, a homogeneização das subjetividades em categorias es-colares de aluno e professor e a normatização das condutas estãodeterminados por um modo de funcionamento dessa instituiçãona modernidade, não sendo o caso de procurarmos culpados ouinocentes. No entanto, o desafio atual é não só compreenderos processos que institucionalizaram a cultura escolar tradicio-nal, em seu modo homogeneizador e normatizador de condutas,mas principalmente compreender o processo de mutação vivi-da pela escola denominada por “desinstitucionalização” e suasconseqüências para a chamada violência da escola. Isso porquea desinstitucionalização altera as relações entre os sujeitos daescola, em especial nos fenômenos de indisciplina e violênciaescolar, pois, segundo Dubet (2000),
a desinstitucionalização assinala um mo-vimento mais profundo, uma maneira to-talmente distinta de considerar as relaçõesentre normas, valores e indivíduos, isto é,um modo distinto de conceber a socializa-ção. Os valores e normas já não podem serpercebidos como entidades ‘transcenden-tais’, já existentes e acima dos indivíduos.Aparecem como co-produções sociais /.../(DUBET, 2000, p. 201).
Para Dubet (2000), na contemporaneidade, valores e normasnão desaparecem, nem mesmo o caráter integrador das relaçõessociais em ambiente escolar, mas estão inseridos no processo desubjetivação e construção da identidade dos sujeitos, através desuas experiências sociais. Como processo recente, as mutaçõesvividas pela escola possuem traços já delineados por pesqui-sadores, sendo um dos principais a garantia de afirmação dasindividualidades em suas subjetividades singulares. ConformeSacristán (2005):
Se a condição de criança ou de infância nãoexiste como figura homogênea, mas exis-tem formas diferentes de vivê-las, a con-

144
Entre Redesdição de aluno também não é homogênea,pois cada um vive essa situação de maneiradesigual. As formas distintas e desiguais deviver a infância – em virtude de classe oudo gênero, por exemplo – se correspondema modos não-equivalentes de experimen-tar a sociedade. /.../ Essa precaução dianteda heterogeneidade da experiência escolardeve nos levar a um entendimento diversi-ficado sobre o que significa ser aluno comoindivíduo singular e como subconjunto(SACRISTÁN, 2005, p. 129).
Na contemporaneidade, a compreensão do enfrentamento àsquestões em torno da violência da escola passa pela “crença”nos direitos de todos expressarem suas singularidades: crianças,jovens e adultos de uma forma socialmente sustentada em rela-ções dialógicas e democráticas. Além disso, pressupõe entendero comportamento supostamente violento dos alunos como umaforma de manifestação da cultura e da sociabilidade de criançase jovens, por meio de um novo olhar e outra forma de escuta dossentidos e significados dos seus supostos comportamentos vio-lentos no contexto escolar, para além da classificação de casosatravés dos rótulos de indisciplina, de bulling ou de violênciana escola. Isso porque, conforme pesquisas recentes, estes com-portamentos são ora marcados pela violência de seu contextosocial, produzindo uma subjetividade especifica (ARAÚJO,2001), ora pelo fenômeno da “zoação” (ESPIRITO SANTO,2002; NOGUEIRA, 2006), em que agressões e pequenos de-litos, mais do que caracterizados como incivilidade, passam aser entendidos nas significações construídas pela cultura e so-ciabilidade juvenis. Por exemplo, a tese de doutorado de PauloNogueira (2006)
investiga as interações em sala de aula entrealunos e alunas, através do reconhecimentode posições recíprocas estabelecidas face-a-face, criando sentidos à inserção dessessujeitos no espaço escolar. Busca compre-ender as redes que se criam e que expres-sam pertencimentos juvenis dos alunos emsituação de interação. Essas pertenças, in-seridas em regime de cooperação ou com-petição entre indivíduos, conformam a suaidentidade discente em um imbricamentode variáveis favoráveis ou não à manu-tenção do Frame (enquadre) necessário à

“Violência na escola e da escola”
145
continuidade das aulas. O dilema, portanto,da forma escolar é manter-se como coativadas subjetividades através das atribuiçõesde papéis ao discente ou abrir-se a outrasdinâmicas em que ser jovem é zoar em umaperspectiva de quebra no clima propostopela docência (NOGUEIRA, 2006, p. 15).
Na sociabilidade juvenil, estudada pelo pesquisador, ao se efe-tivar no fenômeno da zoação não só desestrutura a categoriatradicional do aluno, como também inviabiliza a manutençãodo clima acadêmico proposto pela lógica da educação escolar,criando condições para a indisciplina e a violência, conformeo olhar do docente. Além disso, outras pesquisas revelam quea violência na escola, atualmente, é produzida nas relaçõesintra-escolares, marcadas por preconceitos dos professores emrelação ao meio social dos alunos (RIBEIRO, 2002; COUTO,2003; COSTA, 2005). Estas pesquisas “mostram, também, quea expectativas negativas dos professores em relação a seus alu-nos tendem aumentar conflitos nas relações, chegando até asatitudes de violência física” (COSTA, 2005, pp. 2728). Assim,podemos afirmar que, atualmente, a violência em meio esco-lar pode tanto ser examinada como decorrência de um conjun-to significativo de práticas escolares inadequadas ao crescenteprocesso de democratização do acesso à escola de um públicoantes excluído, quanto pode ser investigada como um dos as-pectos que caracterizam um tipo específico de sociabilidade decrianças e jovens. Portanto, a violência na escola, recentemente,passa a ser observada nas interações dos grupos de alunos sobângulo micro-sociológico, caracterizando um tipo de sociabili-dade entre os pares ou de jovens com o mundo adulto, amplian-do e tornando mais complexa a própria análise do fenômeno.
5. Aplicação do conteúdo à prática
5.1. Identificação e categorização dos eventos de violência
É necessário qualificar a discussão de violência escolar com aidentificação das formas de manifestação da violência: é físicae/ou simbólica, é verbal e/ou não verbal, é produzida por fato-res internos e/ou por fatores externos. Sendo interno é um pro-blema de gestão e/ou de prática pedagógica. São internos, mascomo reflexo direto de demandas externas: violência domésti-

146
Entre Redes
ca, demandas sociais próprias de contextos em vulnerabilidadesocial. São externos com claras demandas quanto à segurançapública: tráfico de drogas, criminalidade, porte de arma de fogoou outras, etc. Quais tipos de eventos de violência ocorrem naescola e qual o grau de incidência destes: depredação do prédio,brigas entre alunos, entre professor e alunos, furtos, etc.
Vale enfatizar que o diagnóstico deve ter o envolvimento cole-tivo, mobilizando os vários segmentos da comunidade escolar.Além disso, fica claro que as escolas grandes estão mais expos-tas a situações de violência, sendo necessário reforçar o trabalhocoletivo, especialmente através do trabalho dos profissionais daescola e de formação continuada em serviços que possibilitemintervenções adequadas.
5.2. Envolvimento da comunidade escolar e outras parcerias
O caminho é fortalecer a gestão democrática das escolas, es-pecialmente no tocante: a- ao funcionamento regular dos cole-giados; b- ao fortalecimento dos grêmios estudantis ou acolhi-mento dos grupos culturais juvenis existentes; c- a criação deassociação de pais e/ou “escolas de pais”. Mobilizando a comu-nidade escolar, é possível traçar o objetivo de construir novosprocessos regulatórios, formais ou informais, em consonânciaa esses novos marcos legais, que definam os modos de con-vivência e resolução de conflitos, bem como normas e regrasescolares. Além disso, é possível compartilhar os desafios doenfrentamento à violência escolar e à violência contra a infânciae juventude com a comunidade escolar, por meio de parceriase da efetivação do conceito de inter-setorialidade, a partir dasdemandas da educação. O objetivo é tomar os casos concretos eurgentes como ponto de referência para construir procedimen-tos rápidos e efetivos no sentido da inter-setorialidade e par-cerias com entidades não-governamentais e comunitárias, bemcomo com as universidades e centros universitários, integraçãoaos programas de segurança pública em curso (os anjos da es-cola, a guarda municipal) enfatizando: a- o lugar da educaçãoenquanto intervenção preventiva e pedagógica para o enfren-tamento da questão; b- a construção sistemática de atuação doagente policial mais adequada ao ambiente escolar e ao Estatutoda Criança e do Adolescente.

“Violência na escola e da escola”
147
5.3. Reflexão coletiva sobre os contextos de violência escolar
Criar encontros regionais com trocas de experiências e refle-xão sobre a prática pedagógica, tendo como eixo o problemada violência escolar; acompanhamento e avaliação das escolasque vivenciam o problema com mais gravidade; publicaçõessobre a temática, a partir das experiências inovadoras concretas;divulgação das pesquisas já desenvolvidas por pesquisadoresdas universidades e centros universitários sobre o fenômeno da“violência escolar”; formação continuada, visando a desenvol-ver maior repertório de mediação e resolução de conflitos, tantopara educadores quanto para país, líderes juvenis e comunitá-rios.
Considerações finais
Compreender a violência escolar é, como todo fenômeno so-cial, um grande empreendimento intelectual, pois tratar destainstituição chamada escola pública implica o enfrentamento dequestões sociológicas e históricas amplas, especialmente no quese refere não só à compreensão do indivíduo social em sua so-ciabilidade e socialização, suas potencialidades para a coopera-ção, mas também para a competição e relações de poder. Alémdisso, este fenômeno implica um número grande de variáveisempíricas e teorias que sustentam as representações sociais so-bre a infância a educação.
Ademais, as representações sobre infância juventude, aindahoje, mantêm estreita relação com a instituição escolar, nãomais com a predominância do que ocorreu ao longo dos séculosXIX e XX, mas ainda cumprindo papel social na socialização eno acesso à construção cultural contemporânea, com suas exi-gências quanto ao domínio do mundo letrado, científico e tec-nológico.
Como vimos, a história da escola pública foi marcada pela cons-tituição da cultura escolar, cujo traço fundamental é a homoge-neização das capacidades, ritmos e processos de aprendizagem,negando as individualidades em seus modos diversos de seremcrianças, jovens e adultos. A socialização efetivada era centra-da na integração social, com processo de violência simbólica eexclusão daqueles que não se adaptavam aos tempos, espaços,currículos e rituais escolares, por meio de uma disciplina nor-

148
Entre Redes
mativa linear, vertical e autocrática. Na origem dessa normati-zação das condutas, especialmente através da disciplinarizaçãodas crianças e jovens para que se tornassem alunos, foram cria-dos os elementos de violência da escola: dos castigos corporaisaos modos diversos de exclusão: suspensão, expulsão, reprova-ção ainda presentes em nossas memórias e referencias de açãoindividual e coletiva.
A escola pública brasileira, após a Constituição de 1988 e doEstatuto da Criança e do Adolescente, vive novos marcos le-gais sobre a educação – pois esta passa a ser tomada como umdireito subjetivo a ser garantido a todos - e sobre a infância ejuventude – por serem reconhecidos como sujeito de direitos.O clima social escolar exige novos processos regulatórios, for-mais ou informais, em consonância a estes novos marcos legaisque transformam nossas representações de educação e de infân-cia, de lei em práticas escolares.A compreensão da natureza dosnovos processos de socialização que a escola deve desenvol-ver pode nos levar a construir uma socialização escolar comoum fator de prevenção ou de agravamento das relações entreos sujeitos da escola. Isso significa verificar como está sendodesenvolvida a disciplina escolar e como, através da vivênciadas regras e normas escolares, as crianças e jovens estão desen-volvendo suas experiências de sociabilidade e de socialização e,em última instância, se estamos desenvolvendo ou a cultura daviolência ou a cultura de paz.
Desenvolver um modo mais compartilhado de definição das re-gras e normas de convivência, não só com os familiares, comotambém com os próprios alunos passa a ser o caminho de trans-formação da escola em um espaço de reconhecimento recípro-co, em que ocorra não só o acolhimento, mas também o diálogoentre adultos e crianças, adolescentes e jovens, enquanto sujei-tos de direitos, em busca de uma educação pública de qualidadee democrática.

“Violência na escola e da escola”
149
Referências bibliográficas
ABRAMOVAY, M. et alli. Violência nas Escolas. Brasília:Unesco e outros, 2002.
ARAÚJO, C. AViolência Desce para a Escola: suas manifes-tações no ambiente escolar e aconstrução da identidade dos jovens. Belo Horizonte: Autênti-ca, 2002.
ARROYO, M.OOficio de Mestre. Belo Horizonte: Autêntica,2000.
. Imagens quebradas. Petrópolis: Vozes,2004.
AQUINO, J. G. Confrontos na Sala deAula. São Paulo: Sum-mus, 1996.
CHARLOT, B. Violences à l’école: état des savoirs. Paris: Ar-mand Collin, 1997._____________. Os Jovens e o Saber. Perspectivas Mundiais,Porto Alegre: Artmed editora, 2001.
DEBARBIEUX, E. La violence emmilieu scolaire 1 - État deslieux. Paris: PUF, 1997.
DEBARBIEUX, E.; BLAYA, C. (orgs.). Violências nas Esco-las e Políticas Públicas. Brasília: Unesco, 2002.
DUBET, F. Sociologia da experiência. (trad. de Fernando To-maz) Lisboa: Instituto Piaget, 1994._________; MARTUCELLI, D. En la escuela: sociologia de laexperiencia escolar. Buenos Aires: Losada, 1997.
GUIMARÃES, A. A dinâmica da violência escolar: conflitoe ambigüidade. Coleção Autores Associados. São Paulo: Edi-tora Campinas, 1996.
GUIMARÃES, E. Escola, Galeras e Narcotráfico. Rio deJaneiro: UFRJ, 1998.
LANTERMAN, I. Violência e Incivilidade na Escola: nem

150
Entre Redes
vítimas, nem culpados. Florianópolis: Obra Jurídica Ltda.,2000.
MARTUCCELLI, D. Reflexões sobre violência na CondiçãoModerna. Tempo Social: Rev. Sociol. , São Paulo: USP,1997.
NOGUEIRA, P. H. de Q. Identidade Juvenil e identidadediscente: processo de escolarização no terceiro ciclo daescola Plural. (tese de Doutorado pela Faculdade de Educaçãoda UFMG), 2006.
SACRISTAN, J. G.O aluno como Invenção. PortoAlegre:Ar-temed, 2005.
SAVATER, F. O Valor de Educar. São Paulo: Martins Fontes,2000.
SOUZA, R. de C.História das Punições e da Disciplina Esco-lar. Belo Horizonte: Argumentum, 2008.
SPOSITO, M. A Instituição Escolar e a Violência. Cadernosde Pesquisa, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 104,1998.
. Um breve balanço da pesquisa sobre violên-cia escolar no Brasil. Educação e Pesquisa, vol.27, n.1, SãoPaulo Jan./Junho 2001.

“Violência na escola e da escola”
151


Diversidades sexuais, de gênero eétnico-raciais: violências invisíveis
Juliana Batista Diniz Valério
Juliana Batista Diniz ValérioEspecialista em Práticas Educativas Inclusivas com ênfase em Gênero e
Sexualidade. Professora da educação básica e Assessora das Políticas deGênero, Sexualidade e Educação para as Relações Étnico-raciais da
Secretaria Municipal de Educação de Contagem (MG).

154
Entre Redes
1. Introdução
A(s) violência (s) contra crianças e adolescentes, especialmen-te o abuso e a exploração sexual, tem se tornado pauta maispresente nos debates públicos de nossa sociedade. Praticamentetodos os dias, ouvimos, lemos ou comentamos sobre algumasituação de violação de direitos de crianças e adolescentes.
Apesar de ser recente a atenção sobre o tema, o fenômeno nãoo é; pelo contrário, talvez possamos afirmar que seja tão antigoquanto o processo de imposição do modelo “civilizatório” oci-dental vigente em nossos dias. Hoje, o que ocorre é a maior vi-sibilidade desses casos de violência, tendo em vista nosso con-texto social, cultural e político que tenta consolidar a posição decrianças e adolescentes como sujeitos de direitos.
É sobre este modelo “civilizatório” ocidental que este artigocolocará foco, buscando perceber como alguns de seus aspec-tos são atravessados por traços de uma violência não percebida,naturalizada. Debruçar-nos-emos sobre o debate acerca da(s)diversidade(s), com o objetivo de apontar fundamentos do pa-drão cultural ocidental que potencializam e/ou justificam situa-ções de violência contra todos (as) nós, desde a infância.
Para iniciar as reflexões, cabe, aqui, um balizamento do quecompreendemos como diversidade. Tal conceito, tão em voga,corre o risco de um esvaziamento, de uma significação super-ficial, se não delimitarmos bem as fronteiras do que queremosabordar com seu uso.
Em um primeiro momento, o termo diversidade nos remete auma característica básica da natureza. Contemplamos a varie-dade de formas, cores, tamanhos, texturas, cheiros, gostos, há-bitos, jeitos que compõem o cenário múltiplo das comunidadeshumanas e da fauna e flora planetária. Tratando, então, desseponto de vista, por assim dizer, biológico, percebemos que háuma série de seres vivos e ambientes, muito diversos entre si, ose denomina como biodiversidade.
Entretanto, o conceito de diversidade com o qual trabalhare-mos será permeado por uma concepção sociológica e política.Distinguir a biodiversidade da diversidade é compreender queentre as plantas e os animais não há uma construção cultural dadiferença, como ocorre entre os seres humanos. A biodiversi-

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
155
dade se refere à variedade de elementos constitutivos dos seresvivos que independem de significações sociais, já a diversidadeé a diferença socialmente construída e nomeada por mulheres ehomens por meio da linguagem.
Construímos a(s) diferença(s) na vida social, tomando comoreferência um padrão de homem e de organização sociocultu-ral que se apresenta naturalizado, uma vez compulsoriamenteestabelecido. Nesse processo, uma identidade mestra é eleitacomo a norma, o modelo e, assim, as diferenças não são ape-nas desvalorizadas, mas anuladas, sendo colocadas no campoda anormalidade.
Sabemos que o conceito de normalidade ésocial e historicamente constituído. O queé considerado normal em nossa sociedadenão o é, ou nem sempre foi, para outras;o que foi considerado anormal em outrosmomentos passados não o é atualmente, evice-versa. O que é tido como normal numadada região do Brasil, por exemplo, não oé em outras. Parece difícil definir teorica-mente o que significam os termos normale patológico. No entanto, ao mesmo tempoem que nos parece tão difícil definir o que é‘normal’ conceitualmente, nos parece fácilatribuir a palavra ‘normal’ a um conjuntode padrões ideologicamente retratados emuma dada cultura, como se este mesmo pa-drão fosse imutável e inquestionável, outivesse para nós um sentido prático irreto-cável (MAIA, 2009, p. 266).
É possível notar que em nossa cultura, a identidade mestra, àqual atribuímos o status de normalidade, é constituída basica-mente dos seguintes elementos: masculinidade, heterossexuali-dade, padrões sócio-culturais europeus e alto poder de consumo.Nesse modelo, por nós naturalizado, são produzidas e reprodu-zidas variadas situações de desigualdade entre os sujeitos, porsua identidade de gênero, seu pertencimento étnico-racial, suaorientação sexual ou seu posicionamento na estrutura social.
De acordo com o supracitado, no campo da(s) diversidade(s),abarcamos as diferenças construídas socialmente em um pro-cesso que hierarquiza biótipos, crenças, manifestações culturais

156
Entre Redes
e comportamentos. O conceito de diversidade designa, então,aquelas variabilidades que, inseridas nas relações sociais depoder, resultam em situações de preconceito, discriminação ouviolação de direitos.
Os seres humanos, enquanto seres vivos,apresentam diversidade biológica, ou seja,mostram diferenças entre si. No entanto,ao longo do processo histórico e cultural eno contexto das relações de poder estabele-cidas entre os diferentes grupos humanos,algumas dessas variabilidades do gênerohumano receberam leituras estereotipadas epreconceituosas, passaram a ser exploradase tratadas de forma desigual e discriminató-ria (GOMES, 2009, p. 20).
Ao longo do processo de estruturação das sociedades, trans-formamos algumas diferenças em desigualdades. Garantimos,ou não, oportunidades, acesso e direitos fundamentados na in-terpretação subjetiva, inconsciente e cultural que fazemos dasdiferenças. Naturalizamos algumas desigualdades porque nãoconseguimos ter um estranhamento diante de algo que está en-raizado na nossa forma de ver e pensar o mundo.
A problematização acerca da(s) diversidade(s) traz à luz ques-tões inerentes à(s) violência(s) cometidas contra crianças eadolescentes que, geralmente, não são percebidas como tal.Concentraremos nosso debate em torno das questões ligadasàs relações de gênero, a diversidade sexual e ao pertencimentoétnico-racial na expectativa de contribuir para a visibilidade defenômenos de violência já naturalizados, alicerçados no pre-conceito e na discriminação. Todos os dias crianças, ado-lescentes, jovens e adultos são vítimas e/ou atores de ações deviolência que têm como pano de fundo o machismo, o sexis-mo, a homofobia e o racismo. O preconceito contra mulheres,homossexuais e negros(as), no Brasil, consolida situações dediscriminação, marginalização e violação de direitos, apesar deesta situação não ser tão clara aos nossos olhos turvados por umpadrão cultural hegemônico.
O propósito deste artigo é percorrer o caminho da construçãosocial dessas nomeadas diferenças e ofertar subsídios que apu-rem nosso olhar à percepção das situações de desigualdade degênero, de discriminação por orientação sexual e de racismoque se perpetuam na vida social sem serem reconhecidas como

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
157
violências.
Fica aqui uma pergunta a ser refletida ao longo do debate que sesegue: em que medida os recortes de gênero, orientação sexuale raça/etnia são significativos na construção de estratégias deenfrentamento à violência contra crianças e adolescentes?
2. A construção social do gênero
O programa Fantástico, da TV Globo, exibido no dia vinte etrês de maio deste ano, veiculou uma reportagem sobre violên-cia contra crianças e adolescentes. No decorrer da matéria, ajornalista trouxe ao público a seguinte estatística: 63% das ví-timas de violência na infância ou adolescência são meninas e,quando se trata da violência sexual, esse índice sobe para 83%dos casos.
Diante desta triste estatística, nos deparamos com um debateque é urgente em nossa sociedade: as relações desiguais de gê-nero. Não um debate simplista que aponta homens como culpa-dos e mulheres como vítimas no contexto das relações sociaisde poder, mas sim um debate que apreenda e compreenda asdimensões históricas, culturais e subjetivas que perpassam aconstrução dos gêneros e das identidades de gênero.
A origem do conceito gênero remonta aos movimentos feminis-tas e traduz o esforço de se cunhar um termo que expressasseas lutas, as demandas, os projetos de um grupo da sociedadecontestador de toda a ordem vigente alicerçada no patriarcado,no machismo, no sexismo1.
Os primeiros estudos feministas, com a finalidade de explicitaro cenário de opressão imposto às mulheres,
levantaram informações antes inexistentes,produziram estatísticas específicas sobre ascondições de vida de diferentes grupos demulheres, apontaram falhas ou silêncios nosregistros oficiais, denunciaram o sexismo ea opressão vigentes nas relações de trabalhoe nas práticas educativas, estudaram comoesse sexismo se produzia nos materiais e li-vros didáticos e, ainda, levaram para a aca-demia temas então concebidos como temasmenores, quais sejam, o cotidiano, a famí-
1.O sexismo é a discrim-inação ou tratamentoindigno a um determi-nado gênero, ou ainda àdeterminada identidadesexual e orientação sex-ual. Para a Psicologia,o sexismo é um ideárioconstruído social, culturale politicamente, no qualum gênero, orientaçãosexual tenta se sobreporao outro. (Disponível em:<http://www.dicionari-oinformal.com.br/defini-cao.php?palavra=sexismo&id=4123>Acesso em 22/12/09).

158
Entre Redeslia, a sexualidade, o trabalho doméstico, etc(MEYER, 2003, p. 13).
O conceito de gênero construído na efervescência desse mo-vimento político-intelectual diz das representações forjadasculturalmente em torno do “ser mulher” e do “ser homem”, ouseja, o que se distingue, define e espera que seja vivido comomasculinidade e feminilidade, em determinada sociedade, emdeterminado momento histórico.
Fica claro, portanto, que, apesar de sua origem no movimentofeminista, o termo gênero não diz respeito apenas às mulheres.Ele busca abarcar a construção social e cultural do homem e damulher e todos os estereótipos, preconceitos, conflitos e rela-ções de poder que advém desse processo.
O conceito de gênero foi cunhado para nos auxiliar na distinçãoentre o sexo biológico (vagina/fêmea ou pênis/macho) e o quevem a ser a vivência social do feminino e do masculino. Comoseres da natureza, temos um corpo formado por células, órgãos,sistemas, hormônios, no entanto, como humanos da cultura,significamos este corpo por meio da linguagem e elaboramosuma série de normas, padrões, estéticas, comportamentos paraque ele seja compreendido na experiência social, “isto é, maisdo que um dado natural cuja materialidade nos presentifica nomundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidasdiferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturaseconômicas, grupos sociais, étnicos, etc” (GOELLNER, 2003,p. 28).
Senão, vejamos como se passa por esse processo e como eleé reproduzido de uma maneira tão inconsciente, tão arraigadaque chega a nos parecer um caminho natural pré-determinadono corpo biológico. Basta um exame de ultrasonografia de-tectar, ainda na vida intra-uterina, a presença de um pênis nocorpo que logo iniciamos um complexo, mas naturalizado, pro-cesso de significações. Geralmente, escolhemos um nome que,em nossa cultura, é masculino, compramos brinquedos - comobolas e carrinhos -, adotamos a cor azul para o enxoval e nãonos esquecemos do uniforme do time de futebol. Se, em outracircunstância, o exame nos mostra uma vagina, vamos encon-trar um nome feminino, presentear com bonecas e panelinhas eprovidenciar muitos laços, fitas e vestidos corderosa.

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
159
Com esse simples exemplo, é possível notar o que denomina-mos, aqui, como construção do gênero. Por meio da linguagem,dos discursos, os corpos vão tomando forma, cheiro, cor, ad-jetivos. É somente assim que somos apresentados e nos apre-sentamos para o grupo social. A máquina biológica é lida nacultura, a ela são atribuídos significados sociais e culturais e,ao mesmo tempo em que é falado, esse corpo também fala dascontradições, preconceitos, estereótipos e padrões engendradosnessa cultura.
A situação trazida pelo exemplo anterior e vivida por todos(as)nós em algum momento de nossas vidas explicita como a cultu-ra ocidental construiu seu modelo de masculinidade e feminili-dade. A partir dos nomes que escolhemos, dos brinquedos comos quais presenteamos e das expectativas que alimentamos, co-meçamos a ensinar como se tornar um menino (masculino) ouuma menina (feminino) dentro dos padrões de masculinidade efeminilidade dados pela cultura.
O arcabouço cultural do Ocidente engendrou um campo da fe-minilidade constituído pela sensibilidade, o cuidado, a mater-nagem, a emoção, a passividade, a vida privada. Como opo-sição, localizamos na masculinidade a racionalidade, a força,o trabalho, a iniciativa, a vida pública. Reiteramos que existeuma bipolarização, que masculino e feminino não se misturame, também, que há uma unicidade em cada um desses pólos, ouseja, que todas as mulheres/feminino reúnem as mesmas carac-terísticas e que estas se opõem a todos os homens/masculinoque são iguais entre si e ocupam o outro fiel da balança.
A partir da década de 1970, as estudiosas feministas passarama argumentar que
são os modos pelos quais característicasfemininas e masculinas são representadascomomais ou menos valorizadas, as formaspelas quais se re-conhece e se distingue fe-minino de masculino, aquilo que se tornapossível pensar e dizer sobre mulheres ehomens que vai constituir, efetivamente,o que passa a ser definido e vivido comomasculinidade e feminilidade, em umadada cultura, em um determinado momentohistórico (MEYER, 2003, p.14).

160
Entre Redes
Na cultura, criamos uma idéia de essência, de “alma” femininaou masculina e fortalecemos esse discurso cotidianamente pormeio da nossa linguagem e das nossas práticas. Quem de nósnunca ouviu e/ou falou frases do tipo: “Mulher chora demais!”,“Menino é bagunceiro assim mesmo!”, “Ela não é totalmentefeliz porque ainda não é mãe”, “Homens têm dificuldade emexpressar seus sentimentos?”
Quando ouvimos e/ou reproduzimos as frases acima, homoge-neizamos todas as mulheres como emotivas, sensíveis, frágeis ematernas, bem como vislumbramos todos os homens como de-sorganizados, racionais, insensíveis. Construímos a idéia de quehá uma unidade tanto da masculinidade quanto da feminilidadee, assim, perdemos de vista as inúmeras formas que existem desermos mulheres e homens.
Outro ponto importante a ser destacado nesse espaço no qualbuscamos relacionar gênero com violência é a perspectiva dasrelações de gênero como relações de poder. Os seres humanosaprendem a ser homens e mulheres na medida em que com-partilham das representações e símbolos de masculinidade e defeminilidade de sua cultura e de seu tempo histórico. Em umacultura como a nossa, que reforça o lugar de inferioridade e desubmissão do feminino diante do masculino, as relações de gê-nero tornam-se sexistas.
Ensina-se ao menino que, “para ser homem”, é necessário de-monstrar coragem, força e racionalidade. Às meninas passa-sea lição de que, para tornar-se uma “mulher de verdade”, é fun-damental desenvolver a sensibilidade, a paciência, a capacidadede cuidar do outro. Surge, assim, uma oposição e separação en-tre masculinidade e feminilidade, acompanhada de uma desva-lorização das características ditas como femininas.
A lição é apreendida: meninos crescem aprendendo a dominar,subjugar, determinar. Meninas crescem aprendendo que o seulugar é o da subordinação, da tolerância do “abrir mão”, doaceitar.
Diante desse quadro, consolidamos as condições para a per-petuação de relações intersubjetivas e objetivas alicerçadas nadesigualdade, no desrespeito, na violência. Meninos e meninassão vítimas de um padrão de masculinidade e feminilidade queos aprisiona do lado do violentador ou de quem sofre a violên-

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
161
cia. Constitui-se um masculino baseado em padrões que, porvezes, justificam atos violentos e, do outro lado, um femininomodelado como paciente e tolerante diante, até mesmo, da vio-lência do outro.
Também em nossas instituições, leis, códigos, doutrinas, nor-mas, políticas percebemos o atravessamento dessas relações depoder e de gênero.Aproibição do voto feminino, em determina-do período de nossa história, a criminalização do aborto, a regraortográfica que determina a utilização do masculino quando nosreferimos a um coletivo de pessoas, a vigilância sobre as taxasde natalidade, a pequena oferta de preservativos femininos emoposição à facilidade de acesso ao preservativo masculino sãoalguns exemplos de como as questões de gênero determinamestruturas, legislações, políticas públicas, práticas e como elasrevelam jogos de poder ao longo da história.
Vale ressaltar, ainda, que outras marcas do sujeito podem tra-zer uma nova configuração a essas relações de poder. Catego-rias como raça, orientação sexual, nacionalidade e classe socialmuito interferem nos jogos de poder entre homens e mulheres emasculinidades e feminilidades. É possível hipotetizarmos, porexemplo, que em uma relação de uma mulher branca e rica comum homem negro e pobre, o pólo de poder estará nela e nãonele. É interessante pensarmos, também, que as vivências im-postas a uma mulher homossexual são bem distintas daquelascolocadas para uma mulher heterossexual, casada e mãe.
Diante de nossos objetivos nos cabe também uma breve aná-lise das questões de gênero na escola. Quando analisamos aspráticas escolares, na maioria das situações, observamos queelas não somente reiteram os modelos de masculinidade e femi-nilidade consolidados culturalmente, mas que são estruturadaspara reproduzi-lo, para disciplinar os corpos das crianças dentrodesse padrão.
As atividades destinadas a meninos e meninas, as ilustraçõesdos livros didáticos, as questões suscitadas nos problemas dematemática, as expectativas em torno da aprendizagem de de-terminados conteúdos por meninos e meninas, as exigências emrelação ao modo de se comportar, o que se tolera e o que nãose tolera em relação aos jovens e às jovens, tudo isso explicitao esforço da escola em garantir a formação/formatação de ho-mens e mulheres dentro de uma referência de gênero heteronor-

162
Entre Redes
mativa, machista e sexista.
De acordo com o que é esperado de cadasexo, às meninas caberia o papel de ‘boa-zinhas’: mais quietas, organizadas e esfor-çadas. Deveriam ter cadernos impecáveis ejamais voltar sujas ou suadas do recreio. Jáos meninos poderiam se mostrar mais agi-tados e indisciplinados. Espera-se que elesgostem de futebol, e é tolerado que tenhamo caderno menos organizado e o materialincompleto (PEROZIM, 2006, p. 4950).
A escola mobiliza saberes, organiza seus espaços, divide osseus tempos em um movimento contínuo e (in)consciente defortalecimento das relações, estereótipos e padrões de gênerosocialmente construídos, abrindo mão, muitas vezes, do seupapel de fomentar a crítica, de ampliar a visão de mundo, deeliminar preconceitos e de garantir direitos.
Na continuidade deste debate, aprofundaremos na temática daidentidade de gênero e da diversidade sexual, outros dois ele-mentos fundamentais para ampliarmos e apurarmos nossa visãoacerca das violências invisibilizadas que afetam todos(as) nós,cotidianamente, e, sobretudo, reforçam a imposição de padrõese modelos à nossas crianças e adolescentes em processo de for-mação.
3. Identidade de gênero e diversidade sexual
Os padrões de masculinidade e feminilidade impostos cultural-mente no mundo ocidental estão alicerçados na bipolarizaçãoentre os gêneros, na idéia de unicidade da feminilidade e damasculinidade e na heteronormatividade/heterossexismo2.
Nessa perspectiva, acredita-se em uma linearidade entre sexobiológico, identidade de gênero e atração afetivo-sexual queconcebe, apenas, as seguintes combinações:
2.Sistema em que aheterossexualidade éinstitucionalizada comonorma social, política,econômica e jurídica,não importa se de modoexplícito ou implícito(RIOS, 299, p.62).

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
163
Sexo Biológico Identidade degênero
Atração afetivo-sexual
Orientação sexual
Vagina/fêmea Feminino Pelo homem/macho Heterossexual
Pênis/macho Masculino Pela mulher/fêmea Heterossexual
Essa forma de compreender a experiência da sexualidade hu-mana tem história e remonta ao período de consolidação dasociedade burguesa e do capitalismo, especialmente a partirdo século XVII. O discurso moralista, há muito proclamado,principalmente pela Igreja, engendrou uma sexualidade basea-da no sexo reprodutivo que deveria ser garantido pelo matrimô-nio e pela constituição de uma família nuclear composta pelohomem, o patriarca, com sua mulher e filhos(as). A ascensãodo capitalismo também contribuiu para essa repressão sobre osexo, já que tornou necessário disciplinar os corpos para o tra-balho, para a produção em série.
Um rápido crepúsculo se teria seguido àluz meridiana, até as noites monótonas daburguesia vitoriana. A sexualidade é, então,cuidadosamente encerrada. Muda-se paradentro de casa. A família conjugal a confis-ca. E absorve-a, inteiramente, na seriedadeda função de reproduzir. Em torno do sexo,se cala. O casal, legítimo e procriador, ditaa lei. Impõe-se como modelo, faz reinar anorma, detém a verdade, guarda o direito defalar, reservando-se o princípio do segredo”(FOUCAULT, 1988, p. 9).
É possível notar que começaram a se delinear, nesse momentohistórico, as bases de uma cultura heteronormativa/heterosse-xista. O sexo para a reprodução circunscreve a sexualidade noslimites da relação entre homem/macho e mulher/fêmea, bemcomo configura as outras experiências de prazer dos corpos nocampo dos pecados e das anormalidades. Sendo assim, são in-toleráveis, por exemplo, os métodos para se evitar a concepção,as experiências de autoprazer através da masturbação e as rela-ções afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Controla-sea relação dos casais, vigia-se o despertar da sexualidade dascrianças e penitencia-se a homossexualidade.

164
Entre Redes
As vivências da sexualidade que não se enquadram no mode-lo do sexo para a reprodução e para a produção são marcadascomo (a)normalidade, ou seja, a ausência da norma, da regra, domodelo e, assim, paulatinamente, vão se “guetificando”, vão seconstituindo como a margem, primeiramente nos rendez-vousque apareceram como a estratégia capitalista de lucrar com assexualidades proibidas.
O século XIX chega racionalizando essa visão sobre a sexuali-dade, criando categorias científicas para enquadrar as diversasexperiências sexuais no campo da normalidade ou da patologia.Dessa forma, a ciência do sexo, a sexologia, consolidou a na-turalização da heterossexualidade, constituindo a categoria dahomossexualidade que tipificava como patologia a vivência dodesejo afetivo-sexual por pessoas do mesmo sexo/gênero. Até oséculo XIX tínhamos o pecado da sodomia que, como pecado,poderia ser cometido por qualquer pessoa, a partir daí temos ainvenção do(a) homossexual como “um tipo do gênero huma-no” que é doente por desejar sexualmente alguém do mesmosexo/gênero.
Tal tecnologia do sexo, no intuito de controlar, passou a criarcategorizações. No campo dessa ciência foram seguidos os mé-todos de classificar, quantificar, nomear, fazendo surgir, assim,conceitos, categorias e nomenclaturas em torno das vivênciasda sexualidade. O que houve, portanto, foi a invenção científicatanto heterossexualidade quanto da homossexualidade.
Ao que tudo indica, estes dois termos foram cunhados por umescritor austro-húngaro, chamado Karl Kertbeny, por volta de1869. É claro que isso não indica que antes do século XIX mu-lheres e homens não vivenciavam o afeto, o desejo e o sexo compessoas do mesmo sexo/gênero, mas sim que essas vivênciasnão eram nomeadas, tipificadas ou identificadas como práticade um grupo específico de pessoas.
Essa racionalização da sexualidade vivida pela cultura ociden-tal, principalmente a partir do século XIX, fomentou e ainda fo-menta um processo de socialização, formação e formatação doscorpos de meninos e meninas permeado por uma forte violênciasimbólica e física. O corpo deve se despir de suas emoções e de-sejos para se constituir como feminino ou masculino de formainteligível aos padrões de uma cultura heterossexista.

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
165
Ao longo do tempo, na interação sóciocultural, a heteronorma-tividade/heterossexismo se naturalizou e se institucionalizou.Somos socializados(as) aprendendo que a regra, o normal, é aatração entre os opostos. Assimilamos tão bem essa mensagemda cultura, como muitas outras, que a internalizamos, engen-drando, assim, um estado de natureza para a heterossexualida-de. Por outro lado, apreendemos que o desejo entre os iguaisé o desvio da regra, a (a)normalidade e, até mesmo, a doença(o homossexualismo)3 que ameaça a saúde presente no nossoestado “natural”. A heteronormatividade reforça o status de di-ferença da homossexualidade, ao mesmo tempo, a homossexu-alidade reitera uma heterossexualidade compulsória.
Dito de um modo simples: embora a ho-mossexualidade tenha existido em todos ostipos de sociedade, em todos os tempos, etenha sido, sob diversas formas, aceita ourejeitada, como parte dos costumes e doshábitos sociais dessas sociedades, somentea partir do século XIX e nas sociedades in-dustrializadas ocidentais, é que se desenvol-veu uma categoria homossexual distintiva euma identidade a ela associada (WEEKS,2007, p. 65).
Ainda hoje, carregamos no nosso imaginário social as imagensconstruídas, principalmente ao longo dos séculos XIX e XX, emtorno das vivências homossexuais. Persiste, em nossos discur-sos, atitudes, legislações e regras de convivência, a associaçãoda homossexualidade com o diferente, o invertido, o anormal.
Moldados(as) há séculos por um cultura heteronormativa/hete-rossexista, naturalizamos o padrão de sexualidade heterossexu-al e não conseguimos enxergar a diversidade de possibilidadesque existe no que se refere a sexualidade (diversidade sexual),como em todas as outras dimensões da vida social de homense mulheres.
Na eterna tentativa de categorizar as variadas experiências hu-manas, também cunhamos termos que buscam nomear e expli-citar essa diversidade. Em relação à diversidade sexual é impor-tante compreendermos o significado, bem como o modo como éutilizado, do termo orientação sexual e afetiva.
Até bem pouco tempo, ouvíamos falar de opção sexual para
3.Para nos referirmos àorientação sexual usa-mos o termo homossex-ualidade. O sufixo grego-ismo transmite a idéiade doença que até as úl-timas décadas do séculoXX era associada às pes-soas homossexuais.

166
Entre Redes
designar os comportamentos hetero, homo ou bi sexuais. Umareformulação acadêmica substituiu esse conceito pelo de orien-tação sexual para eliminar, principalmente, a idéia de que umapessoa é capaz de escolher racionalmente para quem se direcio-nará o seu desejo, sua atração e o seu afeto.
Considerando a observação supracitada, usamos o conceito deorientação sexual e afetiva. A palavra orientação, aqui, não sig-nifica aconselhamento, do tipo “Vou orientálo a fazer isso...”,mas, sim, direção “Meu desejo sexual aponta para...”. Nessalinha de pensamento, pontuamos o caráter subjetivo do direcio-namento dos nossos desejos pelo outro e encontramos, basica-mente, três tipos de orientação sexual, quais sejam:
- Heterossexualidade: quando se sente atração sexual e afetivapor pessoas do sexo/gênero oposto;- Homossexualidade: quando se sente atração sexual e afetivapor pessoas do mesmo sexo/gênero;- Bissexualidade: quando se sente atração sexual e afetiva porpessoas de ambos os sexos/gêneros.
Essas categorias, assim como todas as clas-sificações, não dão conta da enorme diver-sidade humana. Se pensarmos no campo dodesejo sexual e afetivo, provavelmente umheterossexual é tão diferente de um homos-sexual quanto de outro hetero. Para viajarum pouco mais, podemos então pensar queexistem heterossexualidades, homossexua-lidades, etc. Ou que talvez o desejo huma-no possa ser como um gradiente, que vai dahomossexualidade absoluta à heterossexu-alidade absoluta (com a bissexualidade ab-soluta exatamente no meio). A maioria denós estaria em algum lugar deste degradê(BORTOLINI, 2008, p. 10).
O que é fundamental ressaltarmos nesse debate sobre diversida-de sexual é o quão violento se apresenta o processo de negaçãodas outras possibilidades de vivência da sexualidade que nãoseja a heterossexualidade. Desde muito pequenos(as) somosvigiados(as), policiados(as) e instruídos(as) a assumir compor-tamentos, gestuais, discursos e iniciativas que indiquem para osmembros da sociedade nossa total e inquestionável atração poralguém do sexo/gênero oposto.

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
167
Qualquer atitude de um menino ou de uma menina que não seenquadre nos modelos de masculinidade e feminilidade impos-tos culturalmente já acende a “lâmpada de alerta” do mundoadulto no sentido de que este esteja atento e consiga “conser-tar”, a tempo, qualquer “problema” na orientação sexual dessacriança.
É possível observar uma dificuldade na compreensão acerca dasvivências de atração afetivo-sexual que não seja a heterosse-xual. Nesse contexto, muitas crianças e adolescentes acabamse tornando vítimas da discriminação sexista e homofóbica, atémesmo antes de terem qualquer posicionamento ou consciênciasobre sua orientação sexual.
Outra questão relevante está relacionada à distinção entre iden-tidade de gênero, orientação sexual e identidade sexual. Já te-cemos uma análise básica em torno do complexo processo deconstrução do gênero, dando destaque aos estereótipos de mas-culinidade e feminilidade engendrados por nossa cultura. Essearcabouço cultural naturaliza uma bipolarização entre os gêne-ros (masculino e feminino são opostos) e forja uma homogenei-dade de cada um desses pólos (todas as mulheres são caracteri-zadas de determinada forma e todos os homens caracterizadoscomo iguais entre si).
Além disso, a inserção na heteronormatividade nos faz estabele-cer uma correspondência direta entre padrão normal de gêneroe heterossexualidade. Assim, pensamos que homens e mulheresnormais são aqueles e aquelas heterossexuais e que a garantiadessa heterossexualidade está intimamente ligada às experiên-cias de gênero vivenciadas por essa pessoa.
Nesse ponto, cometemos mais um equívoco. Estabelecemosuma relação direta entre identidade de gênero e orientação se-xual que não é verdadeira. Identificarse com a masculinidadeou a feminilidade desenhada por sua cultura (identidade de gê-nero) nada tem a ver com a direção do desejo sexual (orientaçãosexual). Sendo assim, encontramos mulheres, tanto heterosse-xuais como homossexuais, que assumem a performance de fe-minilidade que vigora em sua cultura, o mesmo ocorrendo comhomens.
Esse nosso equívoco se explicita quando observamos, por

168
Entre Redes
exemplo, o quanto policiamos as brincadeiras, os comporta-mentos, os gestos, as roupas, a linguagem de nossas crianças.Se um menino deseja brincar de boneca e de cozinhar ou umamenina quer soltar pipa e jogar futebol logo nos preocupamos,mas não porque percebemos aí uma contestação aos padrões degênero estabelecidos culturalmente e sim porque acreditamosque essas vivências “invertidas” podem também “inverter” odesejo sexual e afetivo destas crianças.Essa visão linear nos traz, também, muita dificuldade na compreensão da travestilidade e da transexualidade. Como aposta-mos na definição da identidade a partir de um estado de naturezarevelado no sexo biológico, só conseguimos ver como “desvio”as situações nas quais a identidade de gênero se opõe à genitá-lia. É incompreensível do ponto de vista da cultura ocidental afeminilidade se expressar e ser vivida por uma pessoa dotada depênis ou a masculinidade ser assumida por alguém que nasceucom vagina.
É somente rompendo com a linearidade subjacente à heteronor-matividade que conseguimos enxergar outras variadas possibi-lidades de vivência da sexualidade e de construção das identida-des. O esquema a seguir tenta quebrar esta linearidade e mostrarintercruzamentos possíveis entre sexo biológico, orientação se-xual, identidade de gênero e identidade sexual.
Cabe ainda esclarecer que a identidade sexual diz muito maisdo que a orientação sexual ou identidade de gênero: ela revelaum posicionamento político diante das demandas, das lutas edas resistências nesse campo da diversidade sexual. Dessa ma-neira, as identidades sexuais são, sobretudo, políticas porque

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
169
...não tem a ver só com a atração sexual eafetiva, mas, mais do que isso, têm a vercom um jeito de ser, de se sentir, de viven-ciar o seu afeto, com o compartilhamentode uma determinada cultura, música, luga-res de encontro e, até mesmo com uma ati-tude política (BORTOLINI, 2008, p. 11 ).
Nessa perspectiva, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, tra-vestis, mulheres heterossexuais e homens heterossexuais assu-mem suas identidades sexuais de forma ativa diante dos desa-fios, possibilidades, problemas, reivindicações, conflitos e jogosde poder que caracterizam a interação social.
E a escola, como tem se posicionado diante desse debate? Naspalavras de Rogério Diniz Junqueira:
Ao mesmo tempo em que nós, profissionaisda educação, estamos conscientes de quenosso trabalho se relaciona com o quadrodos direitos humanos e pode contribuirpara ampliar seus horizontes, precisamostambém reter que estamos envolvidos natessitura de uma trama em que sexismo, ho-mofobia e racismo produzem efeitos e que,apesar de nossas intenções, terminamosmuitas vezes por promover sua perpetuação(JUNQUEIRA, 2009, p.13).
Pesquisas recentes têm demonstrado que a escola reproduz eproduz homofobia. A pesquisa da UNESCO, intitulada “Perfildos professores brasileiros”, realizada em 2002, traz o seguintedado: de cinco mil professores entrevistados, em todos os esta-dos da federação, da rede pública e privada de ensino, 50,7%acha inadmissível que uma pessoa tenha relações homossexuaise 21,2% afirmam que não gostariam de ter vizinhos homossexu-ais (UNESCO, 2004, pp 144-146)
Em outra pesquisa da UNESCO sobre o mesmo tema, os dadossão assustadores:
47,9% dos professores de Vitória e 30,5% dos professores deBelém afirmaram não saber abordar o tema da homossexualida-de com seus estudantes; Mais de 20% dos professores de Manaus e Fortaleza define a

170
Entre Redes
homossexualidade como doença; Um pouco mais de 42% dos estudantes do Rio de Janeiro nãogostariam de ter colegas de classe homossexuais; Entre 35% e 39% dos pais de estudantes de sexo masculinode São Paulo não gostariam que homossexuais fossem colegasde seus filhos;- Em uma lista de ações violentas, a opção “bater em homos-sexuais” foi o exemplo apontado como menos grave por es-tudantes do sexo masculino (ABRAMOVAY et al., 2004. pp277-304).
Os dados acima são reveladores de uma triste realidade: a es-cola tem sido espaço da violência homofóbica e não apenas porreprodução de um fenômeno da sociedade, mas também comofomentadora desta violência.
Quando um número tão alto de educadores(as) se diz incapazde tratar das questões da homossexualidade, fica claro o silen-ciamento da escola diante da homofobia. Quando é elevado oíndice de estudantes que não percebem a violência física contrahomossexuais como algo grave, verificase que existe muita di-ficuldade para desenvolver uma nova educação para as relaçõesde gênero, o respeito à diversidade sexual e o combate à homo-fobia.
Outra postura muito comum entre educadores(as) é a de afirmarque o trabalho com a temática da homossexualidade na escolanão é necessário porque nela não há estudantes gays ou lésbi-cas. Tal afirmação explicita a invisibilidade e a opressão sofri-da por essas identidades no espaço escolar e pode nos ajudar acompreender porque é tão alto índice de evasão escolar entrejovens homossexuais, travestis e transexuais.
Impera, nesse caso, o princípio da heteros-sexualidade presumida, que faz crer quenão haja homossexuais em um determinadoambiente (ou se houver, deverá ser ‘coisapassageira’, que ‘se resolverá quando ele/ela encontrar a pessoa certa’). A presunçãoda heterossexualidade enseja o silenciamen-to e a invisibilidade das pessoas homosse-xuais e, ao mesmo tempo, dificulta enor-memente a expressão e o reconhecimentodas homossexualidades como maneiras le-gítimas de se viver e se expressar afetiva e

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
171
sexualmente (JUNQUEIRA, 2009, p. 31).
A escola, (re)produzindo a cultura, enfatiza, defende, reforçae se esforça por formar/formatar meninos e meninas, homense mulheres enquadrados(as) no padrão de normalidade forjadopor nossa representação de gênero: meninas, femininas, hete-rossexuais e meninos, masculinos, heterossexuais.
A violência simbólica e, muitas vezes, física resultante desseprocesso não é percebida como tal, já que acaba se justificandodiante do caráter de desvio e anormalidade com o qual identi-ficamos a homossexualidade em nossa cultura. As vítimas tor-nam-se culpadas da violência que sofrem! É urgente um novoolhar sobre essas questões para interrompermos um círculo deviolação de direitos há muito consolidado.
Nosso último passo neste artigo é problematizar em torno dasrelações étnico-raciais na sociedade brasileira e conseguir ex-plicitar como o machismo, o sexismo, a homofobia e o racismose fortalecem nesse cenário cultural de preconceitos, opressõese discriminações.
4. Relações étnico-raciais no Brasil
Tratar das relações étnico-raciais no Brasil exige do(a)pesquisador(a) um olhar atento e apurado capaz de desconstruirestereótipos, naturalizações, “verdades” e mitos, há séculos,consolidados no imaginário social brasileiro.Abordar esse temaé, também, “tocar em uma ferida” da sociedade brasileira quepor muito tempo se furtou desse debate e encobriu a discrimina-ção racial presente no nosso quadro de injustiças sociais.
Para o objetivo desse projeto, o enfrentamento a violência con-tra crianças e adolescentes, torna-se indiscutível a relevânciadas reflexões acerca das relações étnicoraciais, tendo em vistao cenário de abandono, marginalização e violação de direitos aoqual estão submetidos(as) meninos e meninas negros(as).
Nesse nosso percurso, vamos desnaturalizar discursos e buscarperceber como as desigualdades produzidas e reproduzidas nasociedade brasileira trazem também a marca do pertencimentoétnico-racial. Basta um olhar mais atento e crítico para notarmosque, ao longo do processo histórico do nosso país, fez-se uma

172
Entre Redes
opção pelo padrão estético, artístico, político, cultural, econô-mico, religioso e social da matriz européia, deixando à margemos outros grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira.
Cabe ressaltar, nesse momento, que nosso debate, aqui, se con-centrará nas temáticas relacionadas à população negra brasilei-ra. Tal recorte se justifica pela ampla pauta pública, na atualida-de, sobre as políticas voltadas para esse grupo social, pela forçade mobilização do movimento negro e, também, pelo próprioobjeto de pesquisa da autora deste artigo.
Para iniciarmos a discussão sobre essa temática, é importan-te reconstruirmos o processo histórico-cultural de constituiçãodo racismo brasileiro. Muitos afirmam que nosso racismo é umlegado do período colonial escravocrata, afirmação que, semsombra de dúvidas, tem fundamento diante da cruel realidadeimposta a milhões de africanos(as) capturados(as) em suas ter-ras e submetidos(as) ao trabalho compulsório nas lavouras, mi-nas, latifúndios e cidades do Brasil colonial.
Entretanto, fazemos um convite para outras reflexões: o que foifeito ao longo desses 122 anos depois de abolida a escravidãoque nos faz acreditar no racismo como uma herança puramentedo período escravocrata? Como a República brasileira se com-portou diante da questão racial com o fim da escravidão dospovos africanos? Quais discursos, ideologias e doutrinas nor-tearam o debate sobre as relações raciais no país durante esseperíodo?
Estas, e outras perguntas, são chave importante para compre-endermos o racismo em nosso país. Não nos basta constatara origem do preconceito e da discriminação racial no perío-do colonial, quando africanos(as) e seus descendentes eramqualificados(as) como mercadoria, mas, principalmente, expli-citar os mecanismos de reprodução e produção desse racismodurante toda a história republicana brasileira, até os dias atu-ais.
Ao longo do século XIX, a elite branca, mesmo sem criar umracismo institucionalizado, foi eficiente e perspicaz no seu for-talecimento. Reproduzindo estereótipos e preconceitos e enal-tecendo os padrões da cultura européia, a classe dominante foiconsolidando a marginalização da população negra brasileira.

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
173
No século XIX, ainda que a elite colonialbrasileira não tenha organizado um sistemade discriminação legal ou uma ideologiaque justificasse as diferentes posições dosgrupos raciais, esta compartilhava um con-junto de estereótipos negativos em relaçãoao negro que amparava sua visão hierárqui-ca de sociedade. Neste contexto, o elemen-to branco era dotado de uma positividadeque se acentuava quanto mais próximo es-tivesse da cultura européia (SILVA& LUIZ& JACCOUD & SILVA, 2009, p. 19).
O final do século XIX e a entrada nas primeiras décadas doséculo XX encenaram o fortalecimento desse ideário racista,agora amparado por um discurso cientificista típico do perío-do. A tese que defendia a existência de uma hierarquia entreas raças, fundamentada no modelo positivista de fazer ciência,naturalizou os estereótipos em torno da população africana eafrodescendente.
As ciências sociais do século XIX transpuseram a teoria evo-lucionista de Charles Darwin para suas análises em torno daspopulações. O chamado “Darwinismo Social” estabeleceu umaclassificação evolutiva entre os diferentes grupos étnicos, comono campo da biologia se fazia com as plantas e os animais. Des-sa forma, a ciência naturalizou as desigualdades entre brancose negros, contribuindo para o enraizamento do racismo no ima-ginário social.
O Darwinismo Social não considerou, em seu arcabouço teóri-co, a principal dimensão que diferencia os seres humanos dosoutros animais da natureza: a linguagem e, conseqüentemente,a produção de cultura. Sendo assim, não explicitou a existênciade diferentes e variadas culturas, mas sim de uma única culturamodelo, a européia, e de culturas “menores” que teriam queevoluir para chegar ao padrão de civilização.
Dessa forma, a ciência do século XIX disseminou o que de-nominamos etnocentrismo, ou seja, a crença na superioridade,na centralidade de um grupo étnico em detrimento dos outros.Nesse contexto, foi notório o fortalecimento do eurocentrismoque consolidou a estética, a estrutura social, a organização po-lítica, a religião, os costumes, as crenças, o fenótipo, as artes,

174
Entre Redes
o modelo econômico dos povos brancos da Europa Ocidentalcomo o modelo civilizatório hegemônico para a humanidade.No Brasil, foram nítidos os reflexos e a apropriação dessesprincípios teóricos do “racismo científico”. O governo republi-cano, instalado pouco mais de um ano depois da abolição daescravidão, implantou medidas de apoio à imigração européia,principalmente de italianos e alemães, com o claro objetivo deinstaurar um branqueamento da sociedade brasileira, por meioda miscigenação. Os relacionamentos interétnicos eram vistoscomo o caminho para afastar o país de sua origem e herançanegra e aproximá-lo do padrão civilizatório branco e europeu.
Nessa perspectiva, houve uma valorização da figura do(a)mulato(a), já que ele(a) representava essa transição pela qualpassava a população brasileira. O(a) mulato(a) era o(a) “meiobranco(a)” ou o(a) “menos negro(a)”, aquele(a) que, pelo tomde sua pele, provava a possibilidade de se alcançar um Brasilbranco através da miscigenação.
A aceitação da perspectiva de existência deuma hierarquia racial e o reconhecimentodos problemas imanentes a uma sociedademultirracial deram sustentação não apenasàs políticas de promoção da imigração,como também à valorização da miscige-nação. A tese do branqueamento comoprojeto nacional surgiu, no Brasil, comoforma de conciliar a crença na superiori-dade branca com a busca do progressivodesaparecimento do negro, cuja presençaera interpretada como um mal para o país.À diferença do ‘racismo científico’, o ide-al do branqueamento sustentava-se em umotimismo em relação à mestiçagem e aos‘povos mestiços’, reconhecendo a expres-siva presença do grupo identificado comomulato, aceitando a sua relativa mobilidadesocial e sua possibilidade de continuar emuma trajetória em direção ao ideal branco(SILVA & LUIZ & JACCOUD & SILVA,2009, p. 21).
O ideal do branqueamento e da miscigenação que cumpriu aimportante tarefa de camuflar o racismo brasileiro no final doséculo XIX e início do século XX foi, a partir da década de

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
175
1930, sendo substituído pelo “mito da democracia racial”. Asteorias evolucionistas em torno das populações começaram aser questionadas, dificultando a sustentação do racismo sob taisbases científicas. Nesse contexto, as relações raciais no Brasilnão mais seriam analisadas na perspectiva de um branqueamen-to da população, mas sim sob as bases de um ideário que defen-dia a existência de uma situação de igualdade entre os diversosgrupos étnicos do país, resultante da miscigenação.
O mito da democracia racial reforçou a invisibilidade da de-sigualdade racial em nosso país. A partir do momento que, noimaginário social, transitou a idéia de igualdade entre os gru-pos étnicos, o racismo se escondeu e se fortaleceu. A situaçãode marginalização da população negra passou a ser percebidacomo um problema exclusivo dos(a) negros(as) que não alcan-çavam sucesso social por sua incompetência inata. Além dis-so, reforçou-se a tese de que as desigualdades no Brasil são debase puramente econômica, já que em termos de pertencimentoétnico-racial vivemos sob uma democracia.
A democracia racial forneceu nova chaveinterpretativa para a realidade brasileirada época: a recusa do determinismo bio-lógico e a valorização do aspecto cultural,reversível em suas diferenças. O enfraque-cimento do discurso das hierarquias raciaise sua gradual substituição pelo mito da de-mocracia racial permitiram a afirmação e avalorização do ‘povo brasileiro’. Todavia,cabe lembrar que tal análise, ancorada nacultura, não implica a integral negação dainferioridade dos negros. De fato, se por umlado o ideário da democracia racial buscadeslegitimar a hierarquia social fundamen-tada na identificação racial, por outro refor-ça o ideal do branqueamento e promove amestiçagem e seu produto, o mulato. Aomesmo tempo, ao negar a influência do as-pecto racial na conformação da desigualda-de social brasileira, ela representou um obs-táculo no desenvolvimento de instrumentosde combate aos estereótipos e preconceitosraciais que continuavam atuantes na socie-dade, intervindo no processo de competiçãosocial e de acesso às oportunidades (SILVA& LUIZ & JACCOUD & SILVA, 2009, p.22).

176
Entre Redes
O mito da democracia racial possibilitou o surgimento de umtipo de racismo muito característico da sociedade brasileira.Um racismo velado, que “tem vergonha de ser”, ambíguo, mas-carado e, por tudo isso, bastante perverso. Um racismo que nãoestá nas leis, mas que se faz presente, incessantemente, no mer-cado de trabalho, nas piadas, na má distribuição de renda, nosapelidos e em tantas outras dimensões da vida social dos(as)brasileiros(as).
Desde pequenos(as), nós, brasileiros(as), somos educados(as)não para combater o racismo, mas sim para aprender a escondê-lo. Algumas pesquisas apontam que brasileiros(as) quase nuncaafirmam ter preconceito racial, mas citam exemplos de pessoasou situações racistas que conhecem ou presenciaram.
O racismo brasileiro é muito específico. O antropólogo JoãoBaptista Borges Pereira nos traz outras características funda-mentais do racismo no Brasil através de seu texto “Racismo àbrasileira”. Nesse estudo, aponta a ambigüidade como a marcaque fundamenta nossas práticas racistas e destaca quatro paresdialéticos que formatam esta ambigüidade.
O primeiro deles é a diferenciação entre um verdadeiro e umfalso racismo. Nós, brasileiros(as), construímos culturalmentea convicção de que só há racismo quando este é instituciona-lizado em regimes políticos como o Apartheid ou o Nazismo.Dessa forma, invisibilizamos as práticas racistas que circulamnas instituições, tendo como defesa a inexistência, no país, deuma legislação que faça distinção entre os diferentes gruposétnico-raciais.
O segundo par dialético traz a oposição entre nosso discurso enossa prática social. Brasileiros(as) afirmam que há preconceitoracial no país, mas sempre localizam essa atitude de preconcei-to no outro. Além disso, “no jogo das aparências sociais” (PE-REIRA, p.76) nos comportamos de forma cordial com aquele(a)racialmente diferente, apesar de produzimos e reproduzimosuma estrutura social extremamente injusta e perversa com a po-pulação afrodescendente. As recentes pesquisas do IBGE aindarevelam grandes disparidades ente negros e brancos no Brasilno que diz respeito à escolarização, acesso ao mercado de tra-balho e condições de moradia, por exemplo.
O terceiro binarismo apontado por João Baptista é o formado

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
177
pelo grupo social e sua cultura. Concomitante ao cerceamentodos direitos e da ascensão social da população negra, há umavalorização da cultura de matriz africana como símbolo da iden-tidade nacional pluri-étnica. Então, no Brasil, somos capazes defazer do samba e da capoeira representantes internacionais denossa cultura, não obstante isso não signifique uma real valo-rização e emancipação dos grupos negros que compõem nossasociedade.
O último par dialético tratado pelo sociólogo é o que traz os ele-mentos da raça e da classe social. No Brasil tendemos a acredi-tar que não há influência racial na perpetuação da desigualdadesocial. Apreendemos que, se resolvermos a questão de classes,conseqüentemente eliminamos problemas que assolam a popu-lação negra.
Com todo esse histórico de construção e fortalecimento do ra-cismo, um dos grandes desafios que se apresenta, sobretudopara a escola, é a positivação de uma identidade negra entremeninos e meninas. Como temos um racismo baseado no fe-nótipo, a constituição de uma identidade negra desde a infânciaé um processo marcado por contradições, recusas, dor, baixaautoestima. Afinal, qual criança quer se identificar com traçosfísicos associados ao feio e com manifestações culturais vistascomo primitivas e, até mesmo, atrasadas. Quantos(as) de nósjá não ouviu e/ou reproduziu frases do tipo: “aquele menino decabelo ruim”, “a preta de nariz chato”, “o menino preto igualcarvão”, “aquela mulher macumbeira”?
Produzir conhecimento para desconstruir tais estereótipos e, as-sim, possibilitar a construção de uma identidade negra positiva éa grande tarefa que temos hoje por meio de uma nova educaçãopara as relações étnico-raciais. Para além da obrigação legal deimplementação da lei 10.639/2003 nas redes de ensino, temoso compromisso ético e moral de consolidar uma nova base paraas relações raciais no Brasil, fundamentada da democracia, navalorização da diversidade e no reconhecimento das matrizesétnicas que compõem o povo brasileiro.
É com esse espírito que surgem no Brasil, a partir de 2001, asprimeiras ações afirmativas na perspectiva de promoção daigualdade racial. A percepção de que políticas públicas univer-sais não eliminariam a distância social entre brancos e negrosimpulsionou a elaboração de ações emergenciais e temporárias

178
Entre Redes
que tem como objetivo estabelecer uma real equiparação e con-dição de igualdade entre os sujeitos.
Reconhecemos a necessidade de se adota-remmedidas especiais oumedidas positivasem favor das vítimas de racismo, discrimi-nação racial, xenofobia e intolerância cor-relata com o intuito de promover sua plenaintegração na sociedade. As medidas parauma ação efetiva, inclusive as medidas so-ciais, devem visar corrigir as condições queimpedem o gozo dos direitos e a introduçãode medidas especiais para incentivar a par-ticipação igualitária de todos os grupos ra-ciais, culturais, lingüísticos e religiosos emtodos os setores da sociedade, colocandotodos em igualdade de condições (DECLA-RAÇÃO DE DURBAN, art. 108).
O Movimento Negro, através de sua luta e resistência, vemapontando debates para a política pública nacional e, gradativa-mente, alcançando conquistas irreversíveis. O Brasil, país compopulação majoritariamente negra e a segunda nação em popu-lação negra no mundo (a primeira é a Nigéria), gradativamentese liberta do mito da democracia racial e assume a tarefa deincluir efetivamente, como cidadãos e cidadãs, os negros e asnegras que aqui vivem, trabalham, recolhem impostos, consti-tuem suas famílias, vivem sua nacionalidade brasileira.
Nesse contexto, a educação para as relações étnico-raciaisaparece como um grande desafio a ser vencido, não só pelasescolas, mas por toda a sociedade brasileira. Precisamos nosreeducar para não mais ver os(as) negros(as) com os óculos dosestereótipos e dos preconceitos que, muitas vezes, justificaramas efetivas ações de discriminação racial.
5. Aplicação do conteúdo à prática
Os conhecimentos e conceitos construídos ao longo deste de-bate sobre as diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciaisterão maior significado para nossas ações no enfrentamento àviolência contra crianças e adolescentes quando nos atentarmospara sua aplicabilidade nas práticas cotidianas.

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
179
Acompreensão do processo de construção social das diferençascertamente nos oferece subsídios para elaborarmos políticas pú-blicas que rompam com o paradigma de uma cultura excluden-te, autoritária e paternalista para, assim, efetivamente, conso-lidarmos estratégias que atendam às demandas e necessidadesespecíficas dos grupos historicamente marginalizados, dandovoz e vez a esses sujeitos.
Uma primeira aplicação prática a ser defendida, aqui, é a in-clusão dos recortes de gênero, orientação sexual e pertenci-mento étnico-racial em questionários e pesquisas que visam adiagnosticar problemas ou monitorar ações implementadas emdeterminada localidade. A tabulação de dados discriminandotais elementos pode ser reveladora da eficácia ou ineficácia depolíticas públicas universais em relação às mulheres, à popula-ção negra ou LGBT1, bem como da necessidade de estratégiasdiferenciadas para cada um desses grupos e da persistência dedificuldades setorizadas.
Outra aplicabilidade do conteúdo aqui discutido diz respeitoaos momentos de formação dos(as) agentes que compõem arede social de proteção à criança e ao adolescente. Esses encon-tros precisam trazer à tona os estereótipos, mitos e naturaliza-ções que cada um de nós carrega e, conseqüentemente, trans-fere para suas ações. As reflexões podem ser potencializadaspor uma gama de estratégias, mas queremos deixar, aqui, umcardápio de filmes que possibilitam o trabalho com a temáticada(s) diversidade(s):
“Vista minha pele”: direção de Joel Zito Araújo;- “Minha vida em cor-de-rosa”: direção de Alain Berliner;- “Transamérica”: direção de Duncan Tucker; “A Negação do Brasil”: direção de Joel Zito Araújo;- “Delicada relação”: direção de Eytan Fox;- “O Atlântico negro – na rota dos orixás”: direção de RenatoBarbieri;- “Besouro”: direção de João Daniel Tikhomiroff; “Filhas do vento”: direção de Joel Zito Araújo;- “Preciosa – uma história de esperança”: direção de Lee Da-niels;- “Uma onda no ar”: direção de Helvécio Ratton.
O trabalho para uma nova educação das relações étnico-raciais,de gênero e de reconhecimento da diversidade sexual também
1.LGBT é a sigla maiscomumente utilizadapelo movimento socialpara referenciar a popu-lação de lésbicas, gays,bissexuais, travestis etransexuais.

180
Entre Redes
pode ser desenvolvido com crianças e adolescentes por meio deoficinas, debates, filmes e dinâmicas que estimulem a exposiçãode idéias e concepções que meninos e meninas estão construin-do ao longo da sua formação.Uma oficina muito simples, para um público de adolescentes, érelatada a seguir passo a passo:
1º passo: divida os(as) adolescentes em quatro grupos hetero-gêneos e distribua para cada grupo uma folha de papel kraft epincéis atômicos.2º passo: peça que cada grupo escolha um tema abaixo e que re-presente no contorno de um corpo humano, desenhado no papelkraft, o que foi discutido.
Características de uma mulher ideal na visão dasa)mulheres;Características de uma mulher ideal na visão dosb)homens;Características de um homem ideal na visão das mu-c)lheres;Características de um homem ideal na visão dos ho-d)mens.
3º passo: a partir das apresentações de cada grupo, dialoguemsobre as representações e estereótipos de gênero abordados nes-te artigo, buscando desconstruir imagens naturalizadas e essen-cialistas acerca da masculinidade e da feminilidade.
A partir dos breves exemplos supracitados, fica claro comoexistem muitas possibilidades de inserção da temática da(s)diversidade(s) na nossa prática cotidiana. Na escola, nos centrosde saúde, nos atendimentos da Assistência Social, nas ONG’s,ou seja, em todos os lugares e equipamentos da rede social deproteção à crianças e adolescentes é possível ampliarmos o de-bate sobre as relações de gênero, a diversidade sexual e étnico-racial.
O que não podemos é nos calar e fazer calar diante de questõestão pertinentes para a consolidação de estratégias e de políticaspúblicas de enfrentamento à violência. O diálogo é o caminho

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
181
mais seguro para a mudança de paradigmas e para a efetivaconstrução de uma cultura de paz. Se, ao longo de nossa vida,aprendemos a discriminar, odiar e excluir, também somos capa-zes de aprender a respeitar, amar, valorizar e incluir!
Considerações finais
O enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes nãopode prescindir de reflexões acerca do que nomeamos comodiversidade(s), tendo em vista que as redes sociais potencializa-das para garantir a proteção à infância e à adolescência tambémpodem, de maneira (in)consciente, (re)produzir padrões de pre-conceito e discriminação há muito arraigados no nosso modo depensar, agir e ver o mundo.
As instituições, as leis, as práxis, as organizações possuem suahistoricidade e, sendo assim, não estão blindadas às represen-tações, significações e leituras culturais de seu período. Muitasvezes, constituímos ações de amparo e proteção a grupos mar-ginalizados que acabam por reproduzir visões essencialistas,naturalizadas, estereotipadas em relação a essas populações eque em nada contribuem para o empoderamento e construçãoda autonomia dos sujeitos.
Compreender o processo de construção social da diferença éfundamental para valorizarmos a diversidade em todas as di-mensões que ela se apresenta na experiência social e daí nãocorrermos o risco de criar estratégias para “salvar o outro”,enquadrando-o em um modelo pré-estabelecido como a norma-lidade.
O debate acerca das relações de gênero, da diversidade sexual edas relações étnico-raciais dá visibilidade a elementos que per-passam situações cotidianas de violências, mas que geralmentenão são percebidos como tal.As questões relacionadas ao gênero, à orientação sexual e aopertencimento étnico-racial, muitas vezes, estão na base de con-flitos intrafamiliares, de atos violentos cometidos nos espaçospúblicos, da evasão escolar, das disputas ente “gangues”, mas onosso olhar, viciado por padrões culturais, não consegue enxer-gar o quanto esses elementos potencializam atos de violência.
São filhos e filhas expulsos de suas famílias por assumirem a

182
Entre Redes
homossexualidade, são meninos e meninas negros(as) que nãotêm a afetividade de seus/suas professores(as), são travestis etransexuais vítimas de assassinatos homofóbicos diários emnossas ruas, são mulheres e meninas com seus corpos marcadospelo machismo e pela violência sexual.
As redes sociais de enfrentamento à violência contra crianças eadolescentes precisam ser militantes ativas no combate ao se-xismo, ao machismo, a homofobia e ao racismo. Todas essasformas de preconceito e discriminação estão vinculadas a ummodelo de humanidade excludente e, por isso, têm que ser com-batidas em bloco. Quem alimenta o machismo, por exemplo,também alimenta a homofobia e o racismo, já que a discrimina-ção de gênero se apóia no modelo de homem, branco, heteros-sexual e com alto poder de consumo que resume o padrão civi-lizatório e de normalidade engendrado pela cultura ocidental.
A valorização da diversidade certamente contribuirá para a ga-rantia da eqüidade no que diz respeito ao acesso às políticaspúblicas. Não devemos reforçar a idéia de que “todos somosiguais”, ao contrário, é urgente reforçarmos que “somos dife-rentes”, mas, ao mesmo tempo, iguais em nossa humanidade.Assim, trazemos para o campo das políticas públicas a dimen-são do sujeito com todas as contradições e conflitos que atraves-sam as relações de poder estabelecidas na vivência social.
Jogando com as palavras e algumas das reflexões de Boaven-tura de Sousa Santos, precisamos ser apenas mulher quando amasculinidade nos anula, ser somente negro(a) quando a bran-quitude nos oprime, ser sobretudo gay e lésbica quando a he-teronormatividade nos violenta, ser principalmente transexualquando o sexismo nos invibiliza, mas ser,também, humano,igual a todos os outros, na luta pela igualdade de oportunidades,pela justiça social e pela garantia de direitos.
Dar visibilidade aos sujeitos, esta é a questão central quandotratamos de políticas, ações e estratégias que consideram a di-versidade. É preciso ter escuta para as demandas específicas degrupos historicamente marginalizados em nossa sociedade, noentanto, é necessário dar voz a quem, durante séculos, foi im-posto o silenciamento.
O reconhecimento de que as discriminações por gênero, pelaorientação sexual ou pelo pertencimento étnico-racial perpas-

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
183
sam muitos fenômenos de violência presentes na sociedade bra-sileira pode nos dar subsídios para construir estratégias maiseficazes no enfrentamento a essas violências.
Nessa perspectiva, o diálogo com os movimentos sociais é fer-ramenta indispensável para a consolidação de ações de enfren-tamento à violência, especialmente contra crianças e adolescen-tes, já que nos coloca em contato com quem vive a opressãoe a resistência, com as mulheres e homens que efetivamentedenunciam a violação de direitos e pautam a política pública.
Não alcançaremos a paz com passeatas e pombas brancas! Oque se faz urgente é a construção de uma cultura de paz. Paraisso, necessitamos de uma nova educação para nossas relaçõesde gênero, para nosso trato com a diversidade sexual e paranossa convivência em uma sociedade pluri-étnica. Uma culturade paz pressupõe o rompimento com os paradigmas da culturaocidental que ainda nos aprisiona nas amarras do sexismo, dahomofobia, do machismo e do racismo. Uma cultura de paz éaquela que reconhece como iguais todos os sujeitos, na maisplena e ampla vivência da(s) diversidade(s).

184
Entre Redes
Referências bibliográficas
BORTOLINI, Alexandre. Diversidade sexual na escola. 2. ed.Rio de janeiro: Pró-Reitoria de Extensão/UFRJ, 2008.
BRASIL. Ministério da Educação / Secretaria de educaçãoContinuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e açõespara a educação das relações étnico-raciais. Brasília: Secad,2006.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subver-são da identidade. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
CONFERÊNCIA MUNDIAL CONTRA O RACISMO, DIS-CRIMINAÇÃO RACIAL XENOFOBIA E INTOLERÂNCIACORRELATA. Declaração de Durban e plano de ação. Bra-sília: FCP / Ministério da Cultura, 2001.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade desaber. 17. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.
JACCOUD, Luciana (org.). A construção de uma política depromoção da igualdade racial: uma análise dos últimos 20anos. Brasília: Ipea, 2009.
GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: diversida-de e currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria deeducação Básica, 2008.
__________________. Alguns termos e conceitos presentes nodebate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão.In.: Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federalnº 10.639/2003 / Secretaria de Educação Continuada, Alfabeti-zação e Diversidade. Brasília: Ministério da Educação, Secre-taria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade,2005.
GONÇALVES, LuizAlberto Oliveira; GONÇALVES e SILVA,Petronilha Beatriz.O jogo das diferenças: o multiculturalismoe seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade.(trad. de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro) 7. ed..

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
185
Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade sexual naeducação: problematizações sobre a homofobia nas escolas.Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Con-tinuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009.
LOURO, Guacira Lopes (org.). O corpo educado: pedago-gias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora,2007.
________________ et al (orgs.).Corpo, gênero e sexualida-de: um debate contemporâneoi na educação. 2 ed. Petrópolis:Vozes, 2003.
MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na escola.Brasília: Ministério da Educação, 1999.
PARKER, Richard. Cultura, economia política e construção so-cial da sexualidade. In:O corpo educado: pedagogias da sexu-alidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007.
PEREIRA, João Baptista Borges. Racismo à brasileira. In: MU-NANGA, Kabengele (org.). Estratégias e políticas de comba-te à discriminação racial. São Paulo: Edusp, xxxx
PEROZIM, Lívia. Masculino e feminino: plural. Revista Edu-cação, maio/ 2003.
SILVA& LUIZ; JACCOUD& SILVA. Entre o racismo e a desi-gualdade: da Constituição à promoção de uma política de igual-dade racial (1988-2008). In.: JACCOUD, Luciana. A constru-ção de uma política de promoção da igualdade racial: umaanálise dos últimos 20 anos. Brasília: Ipea, 2009.
THEODORO, Mario et al (orgs.). As políticas públicas e adesigualdade racial no Brasil: 120 anos após a abolição. Bra-sília: Ipea, 2008.
WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: O corpo educa-do: pedagogias da sexualidade. 2. ed.. Belo Horizonte: Autên-tica Editora, 2007.

186
Entre Redes
Bibliografia complementar
BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitudeno Brasil. In.: IRAY, Carone; BENTO, Maria Aparecida Silva(orgs.). Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitu-de e branqueamento no Brasil, Petrópolis: Vozes, 2002.
BRASIL. Lei nº 9.394.LDB – Lei de Diretrizes e Bases daeducação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. D.O.U de 23de dezembro de 1996.
_______. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. D.O.U de 10de janeiro de 2003.
_______. Ministério da Saúde. Programa Brasil som Homo-fobia. Brasília, 2004.
_______. Presidência da República – Secretaria Especial dedireitos Humanos. Plano Nacional de Cidadania e DireitosHumanos LGBT. Brasília, 2009.
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.Declaração de Salamanca. Espanha, 1994.DAYRELL, Juarez (org.).Múltiplos olhares sobre educação ecultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.
DINIZ, Margareth. De que sofrem as mulheres professoras? In.:LOPES, Eliane Marta Teixeira. A psicanálise escuta a educa-ção. , Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
DINIZ, Margareth; VASCONCELOS, Renata Nunes (orgs.).Pluralidade cultural e inclusão na formação de professorase professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial,educação indígena, educação de jovens e adultos. Belo Hori-zonte: Formato Editorial, Série educador em formação, 2004.
JESUS, Beto de et al (orgs.). Diversidade sexual na escola:uma metodologia de trabalho com adolescentes e jovens. SãoPaulo: Fundação para o desenvolvimento da educação, 2008.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 24. ed, , Petrópolis: Vo-zes, 2001.MUNANGA, Kabengele. Construção da identidade negra no

“Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...”
187
contexto da globalização. In.: OLIVEIRA, Iolanda de (org.).Relações raciais e educação: temas contemporâneos. Niterói:EdUFF, 2002.
DINIZ, Margareth; VASCONCELOS, Renata Nunes (orgs.).Pluralidade cultural e inclusão na formação de professorase professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial,educação indígena, educação de jovens e adultos. Belo Hori-zonte: Formato Editorial, 2004.
PRADO & MACHADO. Preconceito contra homossexuali-dades: a hierarquia da invisibilidade. 1. ed. São Paulo: Cortez,2008.
Revista Estudos Feministas. vol. 9, nº2. Florianópolis, 2001.


O processo mobilizador de proteção àscrianças e aos adolescentes:
desafios à comunicação
Márcio Simeone Henriques
Márcio Simeone HenriquesMestre em Educação pela UFRJ e doutor em Comunicação pela UFMG.
Professor do Departamento de Comunicação Social e docente permanentedo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG.Coordenador do Laboratório de Relações Públicas Plínio Carneiro.

190
Entre Redes
1. Introdução
As questões de respeito aos direitos humanos são fundamentaispara a consolidação do estado de direito e das práticas políticasdemocráticas. O desafio de garantir a efetividade desses direi-tos exige um processo de mobilização social intenso no qual aresponsabilidade pela formulação, execução e acompanhamen-to das políticas públicas seja compartilhada entre estado e so-ciedade civil. Em especial, a causa do combate à violência temexigido, cada vez mais, a geração de uma co-responsabilidadeentre diversos atores institucionais e destes com os cidadãos,organizados ou não. Em primeiro lugar, porque as diversas for-mas de violência possuemmúltiplas causas e precisam ser enca-radas em sua complexidade. Em segundo lugar, porque a apostafundamental no estado de direito é de gerar formas de preven-ção e de combate à violência que se atenham aos limites dorespeito aos direitos humanos, funcionem dentro de princípiosde controle público e ainda envolvam o conjunto dos cidadãosna promoção de formas pacíficas de convivência, respeitandosua diversidade.
A geração de condições de proteção a crianças e adolescentestem representado, no Brasil, um gigantesco desafio. Em que pe-sem os avanços no marco legal e nas experiências com a efeti-vação de políticas públicas, o país se depara ainda com gravessituações que demandam atenção do poder público e da socie-dade civil. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pos-sui diretrizes claras para a política de atendimento em relaçãodireta com a mobilização social: uma integração operacional deórgãos do poder público, a criação de instâncias participativas(na forma de conselhos) e ainda “mobilização da opinião pú-blica para a indispensável participação dos diversos segmentosda sociedade.” 1
Considerada essa demanda, a mobilização social precisa ser en-carada como um processo permanente, e não como uma açãoeventual e pontual. Mais do que uma tática, é um princípio basi-lar de ação política e institucional para a garantia de efetivaçãodo Estatuto. Mas como se constitui tal processo mobilizador?Quais são as suas perspectivas e seus principais dilemas? Nestecapítulo queremos abordar esse processo como sendo essencial-mente um processo comunicativo. Sustentamos que o processode comunicação para mobilização social se dá em três níveisdistintos e complementares, que se espelham nas demandas ex-
1. Item VII, art. 88 da Lei8.069, de 13 de julho de1990, com modificaçõesdadas pela Lei 12.010,de 2009

“O processo mobilizador...”
191
pressas no ECA, apontadas acima.
2. Amobilização social como processo comunicativo
Em vários estudos temos procurado lançar luz sobre os pro-cessos de mobilização social, entendidos como processos derelações públicas, portanto, de relações comunicativas que seestabelecem publicamente entre os cidadãos. Partimos da idéiade que esse processo não se dá sem a composição e execuçãode estratégias comunicativas para promover o envolvimentodos públicos com as diversas causas sociais que demandam aatenção dos cidadãos. Entendemos a mobilização social como“uma reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilhamsentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a trans-formação de uma dada realidade, movidos por um acordo emrelação à determinada causa de interesse público” (BRAGA;HENRIQUES; MAFRA, 2004, p. 36).
Isso significa que os diversos atores sociais buscam sempre po-sicionar causas como sendo de interesse público mais amplo,buscando, ao fim, uma responsabilidade compartilhada (ou coresponsabilidade) de um grupo maior de pessoas e de institui-ções em relação a essa causa. Esse posicionamento depende,essencialmente, da visibilidade pública que se dá aos problemasque se quer resolver e às formas de luta que estes atores propõempara alcançar seus objetivos de transformação. É evidente que avisibilidade é um recurso importante para que os públicos sejamalcançados, motivo pelo qual as causas mobilizadoras precisamser amplamente divulgadas. No entanto, a difusão não garanteque tais audiências realmente considerem tais causas merece-doras de atenção e de reconhecimento (como causas legítimase realmente relevantes), menos ainda assegura que tais sujeitosrealmente se envolvam a ponto de estabelecer um vínculo coma causa (a adesão), partindo para a ação coletiva.
A construção de vínculos com os públicos é, portanto, um desa-fio que todo grupo mobilizado precisa vencer. O que se observaem qualquer atitude de mobilização social é que existe sempreuma expectativa em relação à estabilidade e à duração dessesvínculos, ou seja, uma relação mais solidamente estabelecidacom estes públicos que se deseja mobilizar. Por isso mesmo,cada grupo mobilizado esforça-se por atingir um vínculo ideal,em que os sujeitos e instituições tenham um maior compromis-

192
Entre Redes
so com a defesa da causa e tendam a manter este compromisso,mesmo diante dos altos e baixos por que passa o processo. Aeste vínculo ideal damos o nome de co-responsabilidade (HEN-RIQUES et al, 2004). A geração deste tipo de vínculo exige,por si só, esforços de comunicação, para gerar e manter a re-lação desejada. Toro e Werneck (2004) apontam a importânciado compartilhamento de discursos, visões e informações, bemcomo da geração das condições efetivas de participação dos su-jeitos no processo, o que exige ações de comunicação em seusentido mais amplo.
Esse processo comunicativo não se esgota, contudo, numa in-tercomunicação que precisa ocorrer entre pessoas e grupos quese integram a ele, mas também no âmbito de uma comunicaçãopública e aberta à sociedade. A condição de publicidade (comampla visibilidade) é essencial para a manutenção do caráter so-cial da mobilização. Isso significa inserir e posicionar as causas,todo o tempo, nas esferas públicas de discussão e debate, emque competem pela atenção dos cidadãos e passam todo o tem-po pelo julgamento dos públicos. Assim, todo projeto mobiliza-dor, todo grupo mobilizado, em alguma medida, precisa estaratento às suas próprias condições para dar publicidade às suascausas, às suas propostas de ação e aos resultados que alcança,ao mesmo tempo em que precisa acompanhar a evolução dosdebates. Nas modernas sociedades complexas, esse processo émediatizado, ou seja, ocorre com a intermediação de diversosdispositivos de comunicação (um conjunto de meios e instru-mentos que chamamos genericamente de mídia) que põem emcirculação as mais diversas informações, tornando-as públicas.
3. Amobilização social em três níveis
Examinado em seus aspectos políticos, enquadrado no cená-rio de uma sociedade democrática participativa, o processo demobilização social de proteção a crianças e adolescentes buscase efetivar em três níveis distintos, porém complementares: (a)intragovernamental, (b) interinstitucional e (c) intersubjetiva. Élugar-comum a idéia de que esse tipo de ação social deve se darem rede, ou seja, configurando conexões entre diversos atoresque são necessários para sustentar ações de proteção. Implicauma noção de cooperação e coordenação de ações, definida apartir de propósitos e valores comuns, por um lado, mas tam-bém por uma diferenciação de papeis institucionais e subjeti-

“O processo mobilizador...”
193
vos, por outro.Programas governamentais mobilizadores têm, em princípio,uma característica intrínseca de articulação interinstitucional,da qual depende o sucesso de suas ações e a própria mobiliza-ção da sociedade civil. Assim, no nível intragovernamental, ademanda por mobilização é essencialmente de promover açõescoordenadas entre os próprios órgãos e agências do poder públi-co que possuem relação direta com os propósitos do programa.Aqui pode ser captada uma primeira contradição fundamental:a abordagem requerida como solução para os problemas rela-cionados à violência, em geral, é necessariamente multidiscipli-nar, o que contrasta com a fragmentação institucional e setorialdo próprio poder público. Por esse motivo, a integração opera-cional à qual o ECA se refere é, em si, desafiadora e precisa serencarada em três dimensões diferentes. Uma primeira dimensãodiz respeito às responsabilidades que devem ser compartilhadasentre as três grandes esferas governamentais - federal, estaduale municipal. A segunda abrange integração das esferas de poder- Executivo, Legislativo e Judiciário. A terceira se refere aos di-versos setores do Poder Executivo encarregados da consecuçãodas políticas públicas (saúde, educação, segurança etc.).
Assim, são muito evidentes os problemas de comunicação queprecisam ser enfrentados. De maneira mais geral, os diversosagentes públicos reclamam dos entraves burocráticos que pre-judicam a intercomunicação, ágil, entre os órgãos, agências esetores de modo e de que as barreiras à tomada de decisões noâmbito de cada setor dificultam as tomadas de decisão coleti-vas. Mas os problemas não se restringem às questões operacio-nais e a uma comunicação instrumental que precisa aconteceratravés da manutenção de canais de interlocução que conectemde maneira mais eficiente os setores diversos. É característicadesse nível uma permanente negociação que ocorre no âmbitopolítico, em todos os níveis e esferas. Sob uma perspectiva de-mocrática, a realização dos programas mobilizadores dependede entendimentos políticos que devem ocorrer sob o princípioda publicidade das decisões e das ações, ou seja, baseados nosprincípios de accountability (de uma prestação pública de con-tas) do poder público. Para que isso aconteça, os órgãos go-vernamentais têm percebido cada vez mais a demanda de umplanejamento de comunicação que não apenas garanta o esta-belecimento dos vínculos internos ao poder público, como tam-bém possa garantir o suprimento da demanda por accountabi-lity, provendo os públicos (os cidadãos) de informações sobre

194
Entre Redes
suas decisões e ações.Quando nos referimos ao nível interinstitucional, reconhecemosque programas de ação governamental complexos requeremuma participação da sociedade civil organizada na sua realiza-ção, articulando as ações do primeiro com o segundo e terceirosetores. Essa parceria intersetorial se baseia não só no princípioda insuficiência de qualquer um dos três setores para resolvercertos problemas, mas também na idéia de que somente coma participação e cooperação dos cidadãos é possível alcançarresultados consistentes e garantir que a execução das ações emconformidade com as políticas públicas. Sob essa perspectiva,a mobilização pressupõe a geração de vínculos que garantam oscompromissos de cada instituição no processo.
A ampliação dos compromissos e das responsabilidades paraalém do poder público implica em dificuldades de outra natu-reza. Uma delas está na forma de envolver as lideranças do ter-ceiro setor, reconhecendo a enorme diversidade de formas orga-nizacionais e de atuação das associações civis. Outra é a formade envolvimento das organizações empresariais. Aqui tambémpodemos distinguir comunicação instrumental - que se orientapelo cumprimento de objetivos e metas comuns eficazmente in-formadas e compartilhadas entre todos os que se articulam - deuma comunicação de caráter essencialmente político - orientadapara o entendimento comum da causa a que se refere o progra-ma de ação e quanto às formas de resolução dos problemas.
Uma questão muito comum que emerge dos programas mobi-lizadores de iniciativa governamental é o da abertura à partici-pação ampla. No nível interinstitucional, os programas buscamgarantir a participação de instituições que sejam legítimas in-terlocutoras e legítimos agentes. No caso das instituições as-sociativas da sociedade civil, isso significa que seu ingresso noprocesso mobilizador deve se dar a partir do reconhecimento deseus interesses e de sua forma de ação como legítimos e tam-bém como representativas de segmentos de públicos ligados,direta ou indiretamente, às causas propostas.
Tanto no nível intragovernamental quanto no nível interinstitu-cional percebemos a necessidade de articulações formais, quese expressam sob a forma de protocolos, convênios, contratos,como modo de assegurar a vinculação dos vários agentes. Taisformalidades são importantes para garantir certa estabilidadeaos compromissos e continuidade dos programas. Entretan-

“O processo mobilizador...”
195
to, ao considerarmos a mobilização social como um processobem mais amplo, que necessariamente implica a participaçãodos sujeitos - como cidadãos reunidos em função de causas deinteresse público –, temos que observar que este processo nãopode se esgotar no âmbito da participação institucional. Depen-de, portanto, de um envolvimento dos cidadãos como públicosdestes programas. Daí porque reconhecemos a existência de umterceiro nível, ao qual denominamos intersubjetivo.
No nível intersubjetivo pensamos no cidadão comum, que exer-ce a prerrogativa de participar dos negócios públicos – sejacontribuindo com a formulação das políticas públicas, sejaexercendo controle sobre a execução destas políticas ou ainda,numa dimensão operacional, cooperando para a realização deobjetivos de programas públicos. No entanto, sob a perspecti-va conceitual que adotamos para compreender a mobilizaçãosocial, consideramos que a participação do público pode se darde várias formas, sob vários tipos de vínculos. Quando nos re-ferimos aos cidadãos comuns, precisamos prever que o proces-so mobilizador os alcance de alguma forma, direta ou indireta.E não podemos desconsiderar que, no nível institucional, cadaum de nós, como cidadãos, não agimos apenas individualmente,mas também através das nossas intrincadas redes de vincula-ções coletivas (nossas redes de solidariedade), mais ou menosinstitucionalizadas.
Quando falamos de enfrentamento às situações de violência, te-mos várias expectativas relativas à participação e à mobilizaçãodos cidadãos, e não apenas das instituições, que vão além departicipação nas discussões nos fóruns permanentes ou eventu-ais abertos para o debate da questão. Podemos citar pelo menosduas que são muito importantes no contexto dos programas mo-bilizadores:
- Controle social: existe uma expectativa de que os sujeitos,uma vez mobilizados, possam exercer influências uns sobre osoutros em suas localidades ou nas suas esferas de ação, de talforma que exerçam certo controle social difuso sobre os com-portamentos dos demais sujeitos. Isso pressupõe um nível desolidariedade de relações próximas entre estes sujeitos. Para oenfrentamento às situações de violência, é fundamental que es-sas interações sejam fortes o suficiente para inibilas.
- Mudança de comportamentos: os sujeitos devem ser encora-

196
Entre Redes
jados a mudar suas atitudes de convívio social, especialmentebuscando a resolução de seus conflitos de forma mais pacífica.Nos casos específicos de violência doméstica e abusos contracrianças e adolescentes, os cidadãos precisam ser informados eestimulados a mudar formas de comportamento já culturalmen-te arraigadas no costume comum de certos grupos ou mesmogeneralizados na sociedade. Nesse ponto, espera-se que cadaação individual de cada sujeito, no sentido da transformação deatitudes esperada, deve se conectar a um comportamento cole-tivo mais amplo.
Por isso, alcançar o cotidiano do cidadão comum é uma tarefaessencial desses programas mobilizadores. É por meio do en-raizamento nas redes de sociabilidade e de solidariedade coti-diana que se busca obter, em última análise, o vínculo ideal daco-responsabilidade, construindo um sentido coletivo e públicopara a transformação almejada. Mas ainda há um fator impor-tante que deve ser buscado nesse nível intersubjetivo, o da “mo-bilização da opinião pública”, como prevê a diretriz do ECA.A menção ao termo “opinião pública” é bastante genérica, masdenota uma preocupação em obter dos públicos aprovação elegitimação para a causa e para o programa, de tal forma quecrie as bases de sustentação das ações. Isso se dá porque, paraque qualquer causa social se sustente, é indispensável criar ascondições para que sejam compreendidas como uma questãoque se encontra no domínio coletivo de resposta dos cidadãose, ainda mais importante, que se posicione como questões deinteresse público. Na mobilização social, damos o nome a esteprocesso de coletivização (HENRIQUES, 2010).
4. O processo de coletivização como base para amobilização
O que chamamos de coletivização é o processo de posicionarum problema de tal maneira que transcenda o âmbito das bio-grafias individuais dos sujeitos, para alcançarem uma aborda-gem coletiva. Partimos do princípio de que não pode haver umvínculo de co-responsabilidade sem que os sujeitos se achemdireta ou indiretamente implicados no problema apontado etambém comprometidos de alguma maneira com a sua solução.A primeira questão que emerge é: como implicar os sujeitosem alguma questão no plano coletivo? Problemas que afetamdiretamente muitas pessoas têm, em princípio, uma chance de

“O processo mobilizador...”
197
gerarem um compartilhamento de sentimentos em relação àforma como são afetadas. Questões às quais as pessoas estãoefetivamente concernidas podem gerar, entre elas, uma insatis-fação e um propósito de transformar, juntas, sua realidade, casopercebam que não darão conta de resolver individualmente osproblemas.
Se isso pode ser o germe para fazer brotar um processo mobili-zador, não é, no entanto, condição suficiente. A geração de umsentimento – e de um vínculo – de co-responsabilidade é umprocesso mais complexo, que depende de inúmeras condiçõespara ser efetivamente alcançado2. Vamos nos deter, aqui, a al-gumas condições de coletivização que configuram a base para aexistência de uma causa social, para examinarmos quais são osdesafios que precisam ser encarados em programas de combateà violência contra crianças e adolescentes.
A primeira destas condições é a concretude. Nenhuma causasocial se sustenta sem que se possa afirmar a existência concretade um problema que se constata e que, de alguma forma, afetaas pessoas. É evidentemente mais fácil convencer as pessoas di-retamente afetadas que o problema realmente existe e demandasoluções. No entanto, é sempre um grande desafio convenceros sujeitos que não são diretamente afetados, porque, para quese sintam implicados, devemos apelar para informações com-probatórias, para uma visão mais ampla e abstrata do problemae, principalmente, para a solidariedade. Isso só pode acontecerpor meio de informações sobre a questão e de argumentos queforneçam um sentido a ela. Pessoas que não sofrem diretamenteum ato de violência podem não perceber isso como um proble-ma.
Porém, somente a concretude não é suficiente para que um pro-blema seja coletivizado, tornando-se uma causa social. É pre-ciso que, dentre os sentidos construídos, se possa reconhecero sentido público da questão. Em primeiro lugar, os públicosprecisam compreender que o problema que afeta diretamentealgumas pessoas não se restringe às suas individualidades, ouseja, não se restringem aos âmbitos privados dos sujeitos. Paraisso, é necessária uma compreensão de que o problema poten-cialmente prejudica toda a sociedade. Atos violentos podem seratos praticados no âmbito privado (um bom exemplo são os atosde violência doméstica). No entanto, a garantia de integridade edignidade de cada cidadão, alçada ao plano coletivo, toma uma
2.Em BRAGA, HEN-RIQUES e MAFRA (2004)examinamos em maioresdetalhes o processo degeração de vínculos e abusca pelo vínculo da co-responsabilidade.

198
Entre Redes
dimensão que precisa ser publicamente tratada. Aqui interes-sa, sobretudo, posicionar a questão como algo que, embora nãoafete a uma pessoa em particular, no seu âmbito privado, contri-bui para uma vida coletiva violenta, o que não é desejável.
Podemos afirmar que essa condição, de fornecer um sentidopúblico, é a mais importante para a constituição dos públicosno processo de mobilização. Isso porque a formação e o po-sicionamento de uma causa como sendo de interesse público(que, como já vimos no conceito de mobilização adotado, é umrequisito central) depende, antes de qualquer coisa, do própriojulgamento dos públicos. Eles (que formam, de modo abstrato,a chamada “opinião pública”) definem, no fim das contas, o queé uma causa legítima e, portanto, passível de vinculação pormeio de uma responsabilidade compartilhada. Toro e Werneck(2004) assim definem a geração do interesse público: “enten-demos [...] a construção do público como a construção do queconvém a todos, como resultado de uma racionalidade genui-namente coletiva” (TORO; WERNECK, 2004, p. 32). A cons-trução deste sentido só é possível por uma intensa oferta públicade argumentos e de apelos aos próprios interesses mais gerais ecoletivos. Uma vez cumpridas as duas condições, podemos, defato, considerar a existência de uma causa mobilizadora. Con-tudo, na proposição pública de uma causa social, duas outrascondições são complementares. É necessário, ainda, fornecerelementos para que os públicos acreditem na possibilidade dastransformações desejadas e construir apelos a valores mais am-plos.
No primeiro caso, vencer a inércia e convencer os sujeitos e ins-tituições a agirem efetivamente em prol da causa e participaremde um programa de mobilização depende de sustentar, todo otempo, a crença nos resultados, apesar de toda dificuldade quea causa possa apresentar. Por vezes, é preciso vencer um senti-mento de impotência, que pode ser uma enorme barreira para aparticipação e para a cooperação. As situações de violência po-dem ser, de algum modo, inibidoras da ação - seja por medo oupela própria percepção da complexidade no seu enfrentamento.O importante é que os programas mobilizadores consigam ofe-recer apelos consistentes e realmente motivadores. Não bastamargumentos vagos e genéricos sobre a importância da mobili-zação. É de suma importância que se ofereçam dados objetivossobre as possibilidades de enfrentamento, fazendo circular in-formações sobre o sucesso de ações semelhantes e os próprios

“O processo mobilizador...”
199
resultados já obtidos pelo programa.
No segundo caso, o apelo a valores mais amplos é fundamentalpara situar o programa de mobilização dentro de um quadro dereferências que possa ser mais facilmente compartilhado entreos sujeitos. Assim, por exemplo, apelos aos valores da paz eda justiça não só podem constituir uma motivação para o re-conhecimento da causa, como também para as ações coletivas.Como observam Toro e Werneck (2004), estes apelos definemum horizonte ético para a mobilização, além de auxiliarem naconstrução simbólica de um “imaginário convocante”.
O processo de coletivização nada mais é do que a inserção dacausa mobilizadora no espaço de debate público, o que se dá,portanto, através das estratégias discursivas dos vários atores,ou seja, é um processo essencialmente comunicativo. É no pró-prio embate que se dá na arena pública que vão se definir oscontornos de cada causa social, a cada momento histórico, deacordo com as flutuações dos julgamentos dos públicos (da opi-nião pública). Sendo este processo - base para a mobilização- inerentemente instável, consideramos que todo processo demobilização social é, portanto, instável e indeterminado. Porisso, é importante compreender a mobilização social, antes detudo, como uma movimentação dos públicos na sociedade.
5. Aplicação do conteúdo à prática
É possível compreender os principais problemas que se colo-cam para a mobilização de uma localidade em torno do enfren-tamento às situações de violência contra crianças e adolescentesa partir de um simples diagnóstico sobre o processo de coleti-vização dessa causa e as estratégias utilizadas pelo programamobilizador. Para isso, sugerimos que sejam respondidas as se-guintes questões:
1. Sobre a proposição da causa:1.1. Quem a propõe?1.2. Quais são as condições de aceitação e legitimidade do(s)propositor(es)?1.3. Quais as condições de sustentação da causa: ela é percebidacomo concreta pelos seus públicos? É reconhecida como umacausa de interesse público? Avalie os principais obstáculos en-contrados para essa coletivização.

200
Entre Redes
2. Sobre as estratégias de comunicação utilizadas pelo progra-ma:2.1. Quais são os apelos dirigidos aos públicos quanto à suaviabilidade?2.2. Quais são os apelos dirigidos aos públicos quanto aos valo-res que sustentam a causa (horizonte ético)?2.3. Quais são as ações de visibilidade da causa e do programamobilizador através da mídia (são utilizados os veículos de im-prensa escrita, radiodifusão, etc.)?2.4. Que ações de comunicação são dirigidas a públicos especí-ficos? São suficientes para estimular a participação?2.5. São utilizados recursos das redes sociais digitais (na inter-net)?2.6. Que informações qualificadas são colocadas disponíveispara os públicos? Elas são suficientes para permitir o engaja-mento e a participação efetiva?
Considerações finais: os desafios para a comunicação
Compreendendo a mobilização social como um processo comu-nicativo, surgem algumas questões importantes que precisamser consideradas:
- Os programas de mobilização social precisam recorrer à visi-bilidade. Entretanto, a visibilidade na sociedade contemporâneaé cada vez mais mediada por dispositivos de comunicação (cha-mada, por isso mesmo, de visibilidade midiática). Lidar com amídia, no entanto, implica conhecer a sua lógica especializadade operação, saber o modus operandi de seus veículos e agen-tes. Em razão disso, cada vez mais as ações de relacionamentocom a mídia (incluindo a imprensa) demandam maior atenção etambém algum conhecimento especializado.- Um aspecto importante das estratégias comunicativas necessá-rias à mobilização é a prestação de informações qualificadas aospúblicos. Entendemos as informações qualificadas como sendoaquelas que permitem a atuação destes públicos no programamobilizador: como fazer para integrar o programa? Quem já in-tegra os esforços de mobilização? Que tipo de contribuições sãoesperadas de cada pessoa ou instituição? Quais são as formasde atuação desejáveis e/ou mais eficazes? Existem informaçõestécnicas suficientes sobre as ações a serem empreendidas? Exis-te uma partilha do conhecimento especializado sobre a causa esuas formas de enfrentamento?

“O processo mobilizador...”
201
- Quando falamos de publicidade, não podemos restringir a vi-sibilidade a uma difusão de informações em massa. Se é im-portante, em alguns momentos, lidar com uma divulgação demaior alcance, a promoção de ações de comunicação dirigidaa públicos específicos é cada vez mais importante para garantira geração e manutenção de vínculos com os diversos públicos.Essas ações de comunicação devem estar voltadas para gerar,de um lado, elementos capazes de dar coesão ao grupo que semobiliza (garantindo suas conexões na forma de uma rede deatores) e, de outro, fatores de identificação dos atores com acausa e com o programa mobilizador. É num enquadramentosimbólico forte, no qual os sujeitos possam se reconhecer comopertencentes a uma causa comum, que se viabilizam as inte-rações necessárias à efetiva geração da co-responsabilidade. Asociedade contemporânea dispõe de extraordinários recursos deintercomunicação através da internet. As chamadas redes so-ciais digitais são, hoje, um poderoso suporte para a manutençãodesses vínculos.
Dessa forma, entendemos que a constituição de redes de prote-ção, redes mobilizadoras capazes de assegurar o enfrentamentoà violência contra crianças e adolescentes, demanda um olharsobre a “opinião pública” que vai além do propósito de estimu-lar a participação dos vários segmentos sociais, como prevê oECA. Requer uma atenção a todas as ações comunicativas quegeram e sustentam a própria rede, composta de nós e de cone-xões de públicos em constante movimento.
Referências bibliográficas
BRAGA, Clara S.;HENRIQUES, Márcio S.; MAFRA,RennanL. M. O planejamento da comunciação para a mobilização so-cial: em busca da corresponsabilidade. In.: HENRIQUES, Már-cio S. (org.). Comunicação e estratégias de mobilização so-cial. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004.
HENRIQUES, Márcio S. Comunicação e mobilização socialna prática de polícia comunitária. Belo Horizonte: Autêntica,2010.
TORO, Jose Bernardo; WERNECK, Nísia Maria Duarte. Mo-bilização Social: Um modo de construir a democracia e a par-ticipação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.


Da Alienação Parental à AlienaçãoJudiciária
José Raimundo da Silva Lippi
José Raimundo da Silva LippiEspecialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela UFMG e doutor em Saúde da Criança e da
Mulher pela FIOCRUZ. Professor convidado das Faculdades de Medicina da UFMG e USP. Presidente daAssociação Brasileira de Prevenção e Tratamento das Ofensas Sexuais – ABTOS (USP).

204
Entre Redes
1. Introdução
O título deste artigo aponta para um fato marcante e que preocu-pa aqueles profissionais experientes e que conhecem a históriada especialidade. Como sou um dos introdutores da PsiquiatriaInfantil no nosso país, tenho o privilégio de saber algumas coi-sas a mais do que os mais jovens. Fui presidente da AssociaçãoBrasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil (ABENEPI) porduas gestões: décadas de 70 e 80. Como um dos especialistasque mais se interessou pelo estudo dos abusos contra a crian-ça, tomei conhecimento do que ocorria nessa área nos EUA.No exercício desses cargos, muito se pôde fazer e se conhecero movimento mundial sobre a defesa dos direitos da criança.Em setembro de 1988, tive o privilégio de presidir o “VII In-ternational Congress on Child Abuse and Neglect” (VII Con-gresso Internacional sobre Abuso e Negligência na Infância).Esse evento, considerado um divisor de águas para o estudoda matéria no Brasil, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.Nessa época, eu era presidente da ALACMI (Associação Lati-no-Americana contra o Maltrato Infantil) e Vice-Presidente daISPCAN1 (Sociedade Internacional de Prevenção do Abuso eNegligência na Infância).
Um país e seus cidadãos, sem história, não existem. É dentrodessa perspectiva que irei demonstrar que sempre estive a pardesse movimento e acompanhei um pouco da história de Ri-chard Alan Gardner, que se tornou o mais conhecido persona-gem do tema que ora discuto. O termoAlienação Parental (AP)é conhecido da psiquiatria desde a década de 1940 e foi utili-zado por este psiquiatra na década 1980, que o adaptou para asrelações familiares litigiosas. Com isso, ele conseguiu a adesãode alguns operadores da área da justiça e saúde, em algumascortes americanas do norte. Existe, na realidade, o fenômenoque ele descreveu. Gardner usou a terminologia já conhecida,mas distorceu-a de tal maneira que conseguiu alienar parte daJustiça americana, como tentarei provar. Sendo um psiquiatrainteligente, foi aprendendo com as perícias - tendo feito, segun-do ele, cerca de quatrocentas -, e criou um pensamento que foiplantando na cabeça dos incautos, como algumas mães faziamcom seus filhos. A partir daí, tentou implantar uma “síndrome”,a daAlienação Parental - SAP -, implantação jamais conseguidapor ele, nem pelos seus seguidores. No entanto, foi aprovada noBrasil, em agosto de 2010, uma lei para punir pais alienantes.
1.International Societyfor Prevention on ChildAbuse and Neglect (ISP-CAN).

“Da alienação parental à alienação judiciária”
205
Corre-se o mesmo risco de essa distorção se repetir aqui.
Por aqui, muitos incautos não conhecedores da verdade sobre avida de Gardner, que é venerado por Associações de Pais, estãoplantando as idéias deste psiquiatra na cabeça dos operadoresda área da Justiça, defendendo a existência desta síndrome. Jápodemos perceber quantos maus tratos são cometidos no mauuso de um bom termo.
Neste artigo, pretendo traçar pequeno histórico desse movi-mento que vem tomando enormes dimensões. Sabemos comoabsolutamente imprescindível a interlocução entre a Saúde e aJustiça. Temos, no Brasil, alguns psiquiatras da infância bempreparados para esse trabalho compartilhado. Existe uma apro-ximação saudável, em nosso meio, resultante desse esforço.Belo Horizonte se tornou, naquela década, o centro de grandesatividades da área, com realização de vários cursos e eventos:no ano de 1988, inauguramos o primeiro SOS criança no Bra-sil, chamado Disque-Criança e, em 1990, antes do Estatuto daCriança e do Adolescente (ECA), publicamos outro livro sobrea matéria (Lippi, 1990)2, que visava a essa interlocução. Naque-la época, já estávamos a par daAP. Essa forma de violência quedá o titulo ao artigo continua muito polêmica e atual. A alie-nação parental exige, para o seu claro entendimento, reflexõesprofundas sobre a origem dos termos e dos fenômenos. O quepreocupa no projeto de lei da Câmara (PLC 20/10) que definee pune a síndrome da alienação Parental3 e a lei aprovada -Lei nº 12.318 de 27 de agosto de 2010 - é a possibilidade deocorrer, aqui, o que ocorreu naquele país desenvolvido. Lá, aJustiça americana absorveu idéias que hoje, nesses mais de 20anos, vem revelando aspectos negativos por causa do seu mauuso. Existiam, e existem, pais que plantam memórias na cabeçade seus filhos. Por outro lado, existe, também, um grande nú-mero de pais que são ofensores sexuais. Sabemos da existênciadaqueles, em grande número as mães, que usavam e usam deacusações falsas de abuso sexual visando a ganhos financeirosna justiça. Sabemos, também, ser muito complicado o esclareci-mento destes. Um processo sobre denúncia de abuso sexual temlevado, no Brasil, em média cinco anos para a decisão judiciáriafinal e, muitas vezes, de forma desastrada. Como resolver essassituações? Dependendo de alguns advogados, muitas denúnciasreais foram consideradas falsas, com enorme prejuízo para acriança e todo o núcleo familiar. Não existia, naquela época,nos EUA, e não existe hoje, no Brasil, número adequado de
LIPPI, J.R.S.. Abuso eNegligência na In-fância: Prevenção eDireitos. Rio de Janeiro:Editora Científica Nacio-nal, 1990, 219 p.
3.Grifo e negrito feitospor mim.

206
Entre Redes
profissionais capacitados a avaliar os abusos sexuais praticadoscontra as crianças por pais incestuosos e por pedófilos. A utili-zação dos ensinamentos de Gardner era o meio que facilitavao trabalho da justiça. Com isso, houve o avanço de suas idéias,que foram plantadas em terreno fértil.
2.Histórico
O psiquiatra Richard Gardner teve a intuição da gravidade doproblema, buscou o termo “Alienação Parental” e o introduziupara apontar conflitos nas relações familiares. Ele era reconhe-cido como um hábil perito na área de divórcio, quando envolvialitígio. Com sua capacidade e inteligência, conseguiu seduziroperadores da área da Justiça, pois os convencia de que suasteorias eram corretas. Suas perícias eram muito valorizadas.Para tanto, ele necessitava de argumentos convincentes para ojulgamento das causas que defendia. E ele sabia o significadodos abusos contra as crianças. Um dos grandes estudiosos doassunto afirma:
A Violência contra a Criança deixa MAR-CAS para o resto da vida.O efeito do abu-so infantil pode manifestar-se de váriasformas, em qualquer idade. Internamente,pode aparecer como depressão, ansieda-de, pensamentos suicidas ou estresse pós-traumático; pode também se expressar ex-ternamente como agressão, impulsividade,delinqüência, hiperatividade ou abuso desubstâncias. Uma condição psiquiátrica for-temente associada a maus tratos na infânciaé o Chamado Transtorno de personalidadelimítrofe (borderline personality disorder)(TEICHER, 2000, p. 84)4.
Vivendo num país altamente capitalista, Gardner idealizou de-monstrar a existência de interesses financeiros de uma das par-tes envolvidas no litígio. Ao sugerir o uso do termo, SAP, eleintroduziu uma variável importante para a compreensão dessefenômeno. Com esse raciocínio inicial, conseguiu provar a exis-tência de pessoas que plantam idéias namente de seus filhos, porinteresses financeiros. Algumas destas pessoas, principalmenteas mães, acusavam os pais de abuso sexual. Gardner encontrou,aí, uma mina de ouro. Com seus instrumentos, passou a ge-neralizar, conseguindo provar que denúncias reais eram falsas.Mães sérias se tornaram “alienadoras”. Aquele que aliena pode

“Da alienação parental à alienação judiciária”
207
ser enquadrado em duas hipóteses: a) Alienador que é, segundoAulete (1964), propriedade “daquele que aliena” (AULETE,1964, p. 178). De acordo com esta concepção, o interesse fi-nanceiro e material é o que permeia o litígio, tanto por parte damãe desonesta que acusa falsamente o pai da criança, quanto doexaminador que, para ganhar uma causa, promove uma avalia-ção falsa. b) Alienante que, para o mesmo autor, é “pessoa quealiena, o que transfere o domínio” (AULETE, 1964, p. 178).
Aqui já se prenuncia a realidade do aspecto psicológico. Umamãe alienante tem realmente um transtorno e merece receberpunição pelas conseqüências causadas por seu ato, assim comoa Justiça deveria se precaver contra profissionais não idôneosque falseiam provas para condenar gente inocente. Estes, tam-bém, merecem ser condenados. Certos profissionais podemaproveitar instrumentos duvidosos e alienar autoridades, plan-tando falsas provas na mente de operadores da Justiça. Não de-vemos confundir, contudo, o alienador e o alienante, emborapossam ser considerados sinônimos. Repito que não foi em vãoque Gardner aproveitou este termo e tentou transformá-lo emsíndrome, o que nunca conseguiu e, segundo as noticias maisrecentes, jamais será alcançado. O DSM55 será lançado em2013 e não consta a existência da SAP. Este psiquiatra revelouter uma intuição excepcional, aproveitando um termo de formainteligente e perspicaz e o usou de forma generalizada, alcan-çando vantagens extraordinárias. Ele iniciou suas atividades naJustiça mesmo não sendo Psiquiatra Forense, o que ocorre coma maior freqüência no Brasil. Com isso, foi aprendendo na prá-tica – o que não é defeito – e a usava visando, particularmente,a seus interesses pessoais. Na medida em que eram generali-zados os casos periciados por ele e pelos seus seguidores, bemcomo na medida em que se aproveitava do desconhecimentode muitos operadores da Justiça e da Saúde, Gardner se tornou,dentro da lei, uma dos maiores defensores de pais incestuosose pedófilos.
Alguns de seus livros apontam para isso, como demonstrarei.A partir daí, muitos pais abusadores passaram à condição devítimas e os pais (principalmente as mães) passaram a ser mãesalienantes e perderam a guarda de seus filhos. Atualmente, aJustiça americana está confrontando muitos processos nos quaisos pedidos de indenização se avolumam por causa dessa inter-pretação errônea. Pais ofensores considerados inocentes estãosendo acionados pela repetição dos abusos quando conseguiram
4.TEICHER, M.H.. Feri-das que não cicatrizam:a neurobiologia doabuso infantil. ScientificAmerican. Brasil,2002 (1), pp. 83-89.
5.www.dsm5.org

208
Entre Redes
a guarda na justiça. A imprensa brasileira tem dado destaque acasos dessa natureza. E muitos advogados sabem que a SAP éo sonho de um advogado de defesa, disse Richard Ducote,de New Orleans, Louisiana, advogado que passou uma décadalutando contra Gardner e os seus apoiadores no tribunal.
O prof. Richard Ducote conseguiu um raro registro de suces-sos da defesa das crianças, nos seus mais de 30 (trinta) anosde advocacia. Ele é advogado, além de atuar como professorassistente de Psiquiatria na Louisiana State University MedicalCenter. Sempre consciente da importância da relação entre oServiço Social e a profissão de advogado, apenas seis mesesapós sua admissão na Ordem dosAdvogados de Louisiana, con-cebeu, em coautoria, uma proposta de financiamento apresen-tada ao Centro Nacional deAbuso e Negligência na Infância, naqual propunha um projeto para melhorar o tratamento judicialdado à criança na cidade de Jefferson, Louisiana. Lá ele haviasido Oficial de Justiça no Juizado de Menores. A partir dessacontribuição, foi criada a Tulane University School of JuvenileLaw Clinic. Ducote, a convite de autoridades nacionais, treinou,enfocando na guarde de filhos em complexas situações – queenvolvia, em vários estados, vários tipos de abusos -, juízes,advogados e administradores do tribunal. Seu prestígio eraenorme nas cortes sérias. Um exemplo: em março de 1999, eledefendeu, com sucesso, na Pensilvânia, uma mulher acusada dealienante, porque seqüestrou sua criança que era abusada sexu-almente pelo pai. Nessa ocasião, o juiz tomou uma decisão inco-mum de dizer ao júri que tinha testemunhado o melhor exemplode julgamento de advocacia e, como nunca tinha visto exemplotão significativo, sugeriu que as Escolas de Direito dessem, deforma sensata, uma semana de folga para os alunos aprenderemlendo o processo. Ducote já havia desmascarado muitos casosde falsas acusações de alienação parental, em outros estados.Ele é dos membros do Conselho de Liderança (CL) sobre oabuso e violência interpessoal, a respeito do qual demonstrareimais à frente a importância e seriedade.
3. Alienação
É muito importante tentar entender este termo, pois a sociedadefoi incorporando significados da população leiga, jurídica, atéchegar à área médica.Assim, o encontramos naMirador (1976)6bem explanado historicamente. Extraio alguns detalhes:
6.ENCICLOPEDIA MIRA-DOR INTERNACIONAL.Rio de Janeiro: Encyclo-pedia Britannica do BrasilPublicações Ltda. Vol.II.11, 1976. 565p.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
209
Assim, em geral, “alienação” é a transmis-são, por uma pessoa, de um direito ou deuma propriedade a título gratuito (doação,legado) ou oneroso (venda, cessão). No sec.XVI fala-se em “alienação de espírito”, eno sec. XIX em “alienação mental”. O ter-mo por fim conota “loucura”, “demência”ou, como dizem os dicionários “perturba-ção mental”, passageira ou permanente,que torna o sujeito estranho a si próprio eà sociedade, sendo incapaz de conduzir-se“normalmente” no seio desta. O que se nota,na alteração semântica, é que, na acepçãogeral, a alienação parece estar vinculadaapenas a um gesto de transferência exterior,enquanto no segundo caso algo interior (arazão) se transfere não se sabe para onde.No primeiro caso há um receptor, mas nosegundo há uma perda pura e simples. Don-de o seu caráter de anormalidade, que, en-tretanto, não aparece na acepção geral dotermo (ENCICLOPÉDIA MIRADOR IN-TERNACIONAL, 1976, pp. 398-400).
Devo enfatizar que, embora Gardner não tenha criado o termo –a falsa história afirma –, ele o aproveitou naquilo que chamavaa atenção para o interesse financeiro. Haveria, portanto, de umlado, um receptor da maldade, que seria passivo e vítima e, deoutro lado, um alienador. Ao buscar este termo, ele desejavaencontrar algo que justificasse seus pensamentos: alguém podetomar posse de bens de outro e uma boa forma de enfrentá-loé provar que o que ele fez foi provocar uma doença mental nooutro! Este termo, já existente, foi um achado para ele.
O termo alienação pode assim ser compreendido do ponto devista filosófico, segundo Pierre Janet, grande psiquiatra do pas-sado, em Le medications Psychologiques, I, 112, citado em La-lande (1954)7.
Alienação ou Alienação Mental é o termomais geral para designar os transtornosprofundos do espírito. Os limites do quese designa assim estão muito mal fixadose alguns alienistas contemporâneos evitamusá-lo. “Alienado não é um termo da línguamédica, nem sequer da língua científica, éum termo da linguagem popular, ou melhor,da língua da polícia: um alienado é um in-divíduo perigoso para os demais ou para si
7.LALANDE,A.Vocabu-lário Técnico y Criticode La Filosofia. Bue-nos Aires: El Ateneo,1954. 1.502p.

210
Entre Redesmesmo sem ser legalmente responsável doperigo que cria...O perigo criado por umenfermo depende muito das circunstânciassociais em que vive que da natureza de seustranstornos psicológicos (LALANDE,1954, p. 47).
Os escritos de Gardner, como veremos, contemplam essas im-pressões. Ele atribui maior responsabilidade à criança e à socie-dade que ao alienado, pai incestuoso ou o pedófilo. Daí ele terse tornado um dos maiores defensores desses indivíduos da suaépoca: Vejamos alguns exemplos tirados de seu livro (Gardner,1992)8, citando páginas:
1.“O abuso sexual não é necessariamente traumático. O quedetermina que o abuso sexual seja traumático para a criança,é a atitude social em relação a esses encontros” (GARDNER,1992, pp. 670-671).2. “É porque a nossa sociedade REACIONA a ela [pedofilia]que as crianças sofrem” (GARDNER, 1992, pp. 594595).3. “A pedofilia tem sido considerada normal pela maioria dosindivíduos na história do mundo” (GARDNER, 1992, pp. 592593).
Por isso, compreendê-lo é importante. A enciclopédia citadacontinua:
A perda da “normalidade” parece determi-nar alguns usos subseqüentes de alienação.No sec. XVI, aversão, hostilidade coletivacom relação a alguém, opinião hostil. Emais tarde: desvirtuamento, enlevo, arre-batamento, êxtase. A história do mundoocidental, ante a loucura, pode esclareceras novas conotações: ora o louco é hosti-lizado pela coletividade, porque torna pre-sente a possibilidade do desvirtuamento ouda “perda” da razão; ora é marginalizadopela coletividade, como figura iluminada (eanormal) que não pode conviver com os de-mais homens (normais) (ENCICLOPÉDIAMIRADOR INTERNACIONAL, 1976, p.54).
Ou seja, ele buscou demonstrar que, numa família em que exis-tia hostilidade, alguém transferia responsabilidades e acusava“falsamente”, fazendo reinar a “loucura”. Ele, como psiquiatra,
8.GARDNER, R.A. Trueand False Accusa-tions of Child SexAbuse. Cresskill, NJ:Creative Therapeutics,1992.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
211
tinha argumentos para tentar provar essa hipótese. E explicavaà família disfuncional de uma forma a encontrar possíveis alie-nadores e alienantes. A Psicanálise conceitua desta maneira aalienação (Rycroft, 1975)9:
O estado de ser, ou o processo de tornar-se, alheio, seja (a) si mesmo ou a partes desi mesmo, ou (b) aos outros. A psicanálisefreudiana tende a interessar-se por (a); oEXISTENCIALISMO e o marxismo, por(b). Contudo, de uma vez que a auto-alie-nação limita a capacidade de relacionar-secom os outros e a alienação aos outros limi-ta a capacidade de descobrir-se a si mesmo,(a) e (b) são interdependentes (RYCROFT,1975, p. 35).
Portanto, o estudo de uma situação familiar exige profissionaismuito bem preparados para analisar o relacionamento e saúdemental de todo o grupo, que se reúne nestas circunstâncias.
4. Alienação Mental
A transcrição abaixo, retirada do Manual de Perícias Médicasdo Distrito Federal, ensina:10
Considera-se alienação mental o estadomental conseqüente a uma doença psíquicaem que ocorre uma deterioração dos pro-cessos cognitivos, de caráter transitório oupermanente, de tal forma que o indivíduoacometido torna-se incapaz de gerir suavida social. Assim, um indivíduo alienadomental é incapaz de responder legalmentepor seus atos na vida social, mostrando-seinteiramente dependente de terceiros no quetange às diversas responsabilidades exigi-das pelo convívio em sociedade. O aliena-do mental pode representar riscos para si epara terceiros, sendo impedido por isso dequalquer atividade funcional, devendo serobrigatoriamente interditado judicialmente.Em alguns casos, torna-se necessária a suainternação em hospitais especializados vi-sando, com o tratamento, a sua proteção ea da sociedade.
Em Houaiss, (2000)11 encontramos:
9.RYCROFT, C. Di-cionário Crítico dePsicanálise. Rio deJaneiro: Imago, 1975.262 p.
10.periciamedicadf.com.br (2010). Doenças en-quadradas no parágrafo1º do artigo 186 dalei nº 8.112 / 90:Alienação Mental.
11.HOUAISS, A. Di-cionário Houaiss daLíngua Portuguesa.Rio de Janeiro: Objetiva,2000. 2.992p.

212
Entre Redes1 PSIC perturbação do sentimento de iden-tidade sob o peso de coerções culturais so-bre o indivíduo 2 PSICOP loucura, perda darazão em virtude de perturbações psíquicasque tornam uma pessoa inapta para vidasocial 3 PSIQ sintoma clínico no decorrerdo qual situações ou pessoas conhecidasperdem seu caráter familiar e tornam-se es-tranhas (HOUAISS, 2000, p. 157).
Foi através dessa última concepção de alienação mental que foicunhada a expressão alienação parental. Como na maioria dosvocábulos populares, existe a tendência de ganhar seu lugar nalinguagem oficial. O termo Alienação Parental foi introduzidopor especialistas através dessa passagem.
5. Alienação Parental
Quando a alienação se dá entre os pais, portanto, usa-se o ter-mo alienação parental (AP). Este tema é dos mais polêmicosque ocorrem na esfera da Justiça e da Saúde. Isso porque, des-de a década de 80, se trava verdadeira batalha nos EUA entrefamiliares, juristas e profissionais habilitados sobre a aceita-ção do termo Síndrome da Alienação Parental (SAP). Para oscientistas ligados às universidades e às faculdades da área daSaúde Mental e que detêm cargos de entidades científicas sé-rias, esta síndrome jamais existiu. O conceito de um dos paistentar separar a criança do outro progenitor como um castigopor um divórcio tem sido descrito pelo menos desde a décadade 1940 (WARSHAK, 2001)12, mas Gardner foi o primeiro atentar definir uma síndrome específica. Não vamos estudálo,mas pretende-se mostrar os seus efeitos deletérios para a saú-de, justiça e a ciência. Em um artigo de 1985, ele definiu aSAP como um distúrbio que surge principalmente no contextode disputas de custódia da criança. Sua manifestação primáriaé a campanha do filho para denedrir progenitor, uma campanhasem justificativa.
Mais à frente, demonstra a existência de uma desordem queresulta da combinação da doutrinação pelo progenitor alienan-te e da própria contribuição da criança para o aviltamento doprogenitor alienado (GARDNER, 2001)13. Nesse trabalho, as-sume os erros cometidos em anos anteriores e que induziramà alienação, ou seja, plantar mentiras na mente dos seus se-guidores e naqueles que trabalhavam na justiça. Os cientistas
12.WARSHAK, RA(2001). “Current contro-versies regarding parentalalienation syndrome”.American Journal ofForensic Psychology19, 2001. Pp. 29–59.
13.GARDNER, RA(2001). “Parental Alien-ation Syndrome (PAS):Sixteen Years Later”.Academy Forum 45 (1),2001, pp. 10–12.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
213
sérios apontavam a distorção de só acusar a mãe de alienante eos operadores da Justiça começaram a perceber essa falha. Porisso, seis anos mais tarde, ele admitiu a participação dos filhos,de forma consciente, nesse fenômeno psicológico. Sabemosque, para se afirmar a existência de AP, é necessário levar emconta, sempre, a idade da criança e a do adolescente. É óbvioque não se aceita impunemente a “impantação de falsas idéias”na mente desses seres considerados em desenvolvimento físico,emocional e mental. A etapa do desenvolvimento cognitivo écrucial para saber como esta “implantação” pode se dar. Acusarsomente a mãe, como ele fazia, revelava um grande preconcei-to contra a mulher. Muitos dos filhos agiam conscientemente,pois partilhavam das idéias daquele considerado “alienante”,pois convivam com os dois! E isso é fundamental numa avalia-ção! Como considerar alienante a mãe de um adolescente, semlevar em conta a posição do filho? Isso foi verificado em mui-tos processos dos quais Gardner participou. Do mesmo modo,alguns profissionais da área da Justiça e da Saúde, por não se-rem inertes, começaram a se despertar do estado alienado emque foram colocados. Ele levou muito tempo para afirmar quetambém a doutrinação pode ser deliberada ou inconsciente porparte do progenitor alienante (BAKER, 2007)14. Essa revelaçãopermitia pensar que ele já admitia que muitos pais não tinhamconsciência do mal que estavam fazendo para os filhos e que,na maioria das vezes, a conduta de um cônjuge tem a ver coma relação estabelecida entre o casal. Assim, também, era a con-vivência com alguns operadores da Justiça. Aceitar o que eleensinava, consciente ou incoscientemente, tinha consequências.Para provar o seu preconceito contra as mulheres, ele defen-dia, abertamente, a figura paterna. E isso fica claro quando sepercebia que muitos dos envolvidos eram filhos de pais poseram filhos de pais pos-sivelmente incestuosos. Sua conduta foi sendo observada nassuas manifestações de defesa para os considerados alienadospedófilos. A doutrinação, por parte de Gardner, dos operadoresda Justiça e da Saúde – conscientes ou inconscientes – ofere-cia a chance de se descobrir o mal que faziam para aquelas fa-mílias. Não existe doutrinador sem doutrinado e dependerá damaturidade a assimilação do plantado. Ou seja, nenhum filho/filha é tão inerte que aceite puramente a “implantaçao de me-mórias falsas”. Isso dependerá do desenvolvimento cognitivodos filhos – assim como, dos operadores da área da justiça porserem tão imaturos – ou por seus interesses secundários – paraaceitarem a implantação de matérias pagas.
14.BAKER, A.J.L.“Knowledge and AttitudesAbout the Parental Alien-ation Syndrome:A Surveyof Custody Evaluators”.American Journal ofFamily Therapy 35,2007, pp. 1–19.

214
Entre Redes
Como a teoria SAP de Gardner está baseada em suas observa-ções clínicas – e em dados não científicos deve ser entendidano contexto de suas opiniões extremas sobre as mulheres, pe-dofilia e abuso sexual. Em três dos seus livros mais vendidos,ofertados ao público leigo por sua própria editora, e que causa-va repercussão negativa no âmbito da universidade, ele revela-va claramente suas idéias sobre o porquê de defender pedófilos.De um livro publicado em 199115, foram selecionadas algumasfrases que revelam o modo de pensar deste autor, citando, paraclareza, as páginas do texto, continuando a numeração de cita-ções dele:
4. “A grande maioria (provavelmente mais de 95%) de todasas acusações de abuso sexual é válida” (GARDNER,1991, p.7 e 140).5. “Do mesmo modo, a pedofilia intra-familiar (isto é, o inces-to) é generalizada e ... é provavelmente uma antiga tradição”.(GARDNER, 1991, p. 119).6. “Há um pouco de pedofilia em cada um de nós” (GARD-NER, 1991, p. 118).
Como vemos, ele admitia que a maoria das suspeitas de abusoeram reais mas, mesmo assim, defendia os abusadores. Gardnerconfundia os pais incestuosos, que são aqueles que “abusamsexualmente” de filhos de qualquer idade, com aqueles que sãopedófilos e que apresentam um Transtorno de Preferência Se-xual e, por isso, só se satisfazem sexualmente através de crian-ças. No seu texto, afirma que existe um pouco de pedofilia emcada um de nós. Talvez ele não soubesse, ou negasse esse sa-ber por causa de seus interesses, da existência de um “desejoincestuoso universal”. A proibição do incesto, representadaatravés dos mitos, religiões e códigos é uma regra universal.Lévi-Strauss16(1980, pp. 7-28) esclarece que a proibição do ca-samento entre parentes próximos pode ter um campo de aplica-ção variável, de acordo com a definição de parentesco, mas aproibição ou a limitação das relações sexuais está presente emqualquer grupo. Desta forma, a proibição do incesto situa-se nolimiar entre a natureza e a cultura.
Entendemos que, por detrás da necessidade de tamanha proibi-ção, só pode existir um desejo universal equivalente. Fica claraa sua omissão de esclarecer ao público esse fenômeno. Se nãosabia, foi ignorância e, se sabia, um ato irresponsável que atin-
15.GARDNER, R.A. SexAbuseHysteria: SalemWitch Trials Revisited.Cresskill, NJ: CreativeTherapeutics, 1991.
16.LÉVI-STRAUSS, C.;GOUGH, K., SPIRO, M.(1980). A Família:Origem e Evolução.Porto Alegre: Editorial VilaMarta. 107 p.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
215
giu muita gente. Além disso, com sua inteligência, desconhecerFreud como psiquiatra é imperdoável.
Freud17, em 1920 escreve da p.169 à 209 sobre o Ego e o Idcolocando a proibição do incesto como um estruturador men-tal, pois é através da repressão dos desejos incestuosos que seestrutura o aparelho mental em suas três instâncias: id, ego esuperego. O superego é a instância formada pela internalizaçãoda lei, sendo o ego responsável pela intermediação entre as leisinternas e as leis externas.
Um pedófilo se apresenta como um pai sedutor, pela figura deautoridade que representa e as muitas ameaças que faz. Nãocompreender isso, ou negá-lo, é imperdoável para quem se dizia“psiquiatra infantil”. Pode-se depreender que este “perito” cau-sou um grande mal para muitas famílias, para a Justiça e paraa Ciência. À proporção que defendia essas idéias, um grupo deinteressados ia se aproximando e ele começou a formar uma“Escola”. Estive nos EUA, após co-publicar o primeiro livrobrasileiro da área (Krynski, Célia, Lippi)18, fruto de um congres-so em Belo Horizonte, e conversei com colegas sobre o assunto.As opiniões controversas de Gardner causavam enorme confu-são nas áreas da Saúde Mental e da Justiça. Ele era um grandecomunicador e tinha uma estrutura própria, montada para fazerchegar à imprensa suas idéias. A sua editora privada ainda exis-te e nela foram publicados muitos de seus livros, cassetes e fitasde vídeo19. Seus escritos causavam impacto nas associações depais que o apoiavam. Tais associações acreditavam, e acreditamaté hoje, nas suas teorias e não tinham como avaliar esses pen-samentos. Continuemos na tentativa de compreender os pen-samentos com que Gardner (1992)20 referenda seus modos deimplantar idéias. Importa ressaltar que muita gente da Justiçaaceitou e está aceitando essa implantação:
7. “A Pedofilia pode aumentar a sobrevivência da espécie hu-mana, servindo a “fins de procriação” (GARDNER, 1992, pp.2425).
8. Os tipos diferentes de comportamentosexual humano, incluindo pedofilia, sadis-mo sexual, necrofilia (o sexo com cadáve-res), zoofilia (sexo com animais), coprofilía(sexo envolvendo defecação), pode ser vis-to como tendo valor para a sobrevivência
17.FREUD, S. O ego eo id. VI Rio de Janeiro:Delta, 1958.
18.KRYNSKI, S.; CÉ-LIA, S.; LIPPI, J.R.S. ACriança Maltratada.São Paulo: Almed, 1985.137p.
19.Cresskill, (cidade);New Jersy, (estado).Creative Therapeutics(Editora).
20.GARDNER, R.A.(1992). True and FalseAccusations of ChildSex Abuse. Cresskill,NJ: Creative Therapeu-tics.

216
Entre Redesdas espécies e, portanto, não merecem serexcluídas da lista das chamadas formas na-turais de comportamento sexual humano(GARDNER, 1992, pp. 18-32).
9. “Algumas crianças experimentam Sen-sação Sexual elevada na primeira infância.Há boas razões para acreditar que a maioria,senão todas as crianças têm a capacidade deatingir o orgasmo no momento em que nas-cemos” (GARDNER, 1992, p. 15).
Freud, em seus pioneiros estudos sobre sexualidade, escreveusobre uma “perversidade polimórfica”. Vejamos em Rycroft(1975)21, contemporâneo de Gardner, que recorre à teoria freu-diana:
Segundo a teoria clássica, o bebê é poli-morficamente perverso, isto é, seus desejossexuais INFANTIS não são canalizados emnenhuma direção determinada e ele con-sidera as diversas ZONAS ERÓGENAScomo intercambiáveis. Segundo certas ver-sões, desse conceito, existe uma fase poli-morficamente perversa específica de DE-SENVOLVIMENTO LIBIDINAL, emboranão esteja claro onde essa fase deve ser lo-calizada na cronologia do desenvolvimentoinfantil (RYCROFT, 1975, p. 179).
Traduzir isso como orgasmo torna-se agressão à inteligênciadaqueles que estudam, bem como contribui para a disseminaçãode idéias préconcebidas, com finalidade de confundir os lei-gos. A SAP foi originalmente desenvolvida como uma explica-A SAP foi originalmente desenvolvida como uma explica-ção para o aumento do número de relatos de abuso infantil nosanos 1980 (JAFFE, 2002)22. Embora Gardner, o “plantador deidéias” tenha, de início, descrito que a mãe era o alienante em90% dos casos, mais tarde, declarou que ambos os pais tinham amesma probabilidade de alienar (GARDNER, 2002)23. Ele tam-bém afirmou que, segundo sua experiência, na grande maioriados casos de SAP não estavam presentes acusações de abuso24.Como se pode observar, com o passar do tempo, este autor foimudando de posição quanto às suas assertivas. A reação de par-te dos operadores da área da Justiça e da grande maioria dosprofissionais da área da Saúde Mental o forçaram a voltar atrás
21.RYCROFT, C. Di-cionário Crítico dePsicanálise. Rio deJaneiro:Imago, 1975.262
22.JAFFE, P. G. ChildCustody & Domestic Vio-lence. SAGE Publica-tions, 2002. p. 52–54.
23.GARDNER, R. A.“Denial of the ParentalAlienation Syndrome AlsoHarms Women”. Amer-ican Journal of Fam-ily Therapy 30 (3),2002. pp. 191–202.
24.DALLAM, S. J. Ex-pose: The failure offamily courts to protectchildren from abuse incustody disputes. OurChildren Charitable Foun-dation, 1999.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
217
em muitas afirmações. Nessa época, ele já perdia suas causasem muitos tribunais e estes estavam recebendo enorme pressãodos especialistas sérios. Alguns membros do Judiciário come-çavam a perceber os perigos daquelas teorias da “escola” destepsiquiatra:
Nos USA a “síndrome de alienação” paren-tal já foi citada como parte do processo dedeterminação de custódia. Baseadas da ava-liação com os instrumentos da SAP, côrtesnorte-americanas determinaram a guardatotal a alguns pais e tem sido um desafioavaliar se a aceitação da condição pela co-munidade científica permite que a SAP sejatratada como evidência científica. Apesarde Gardner afirmar que a SAP era em geralaceita por estudiosos da área e já havia setornado admissível como prova científicaem dois estados, uma análise feita em 2006dos casos envolvendo SAP citados porGardner concluiu que essas decisões nãoabriam precedente legal, que a SAP é vistacom maus olhos pela maioria dos estudio-sos do direito e que os trabalhos de Gard-ner não fundamentam a existência da SAP.Gardner listou 50 casos em seu websiteque, segundo ele, abriram precedente paratornar a SAP admissível, mas nenhum delesde fato o fez: 46 dos casos não abriram pre-cedente e não discutiram a admissibilidadeda condição e os outros 4 casos eram pro-blemáticos. (HOULT, 2006, p. 26)25.
“No Reino Unido, a admissibilidade da avaliação de SAP foi re-jeitada tanto em uma revisão por peritos (Sturge, 2000:615)26,quanto em uma Côrte de Apelação” (FORTIN, 2003, p. 263)27
No Canadá, inicialmente, de alguns casosforam aceitas opiniões de peritos sobre aSAP, usando o termo “síndrome” e con-cordando com a teoria de Gardner de quesomente um dos pais era inteiramente res-ponsável pela SAP. Gardner testemunhouem um caso (Fortin v. Major, 1996), masa côrte não aceitou sua opinião, concluindoque a criança não estava alienada com basena avaliação de um perito indicado pelacôrte que, diferentemente de Gardner, haviase encontrado com os membros da família.(BALA et al, , 2007, pp. 79-138)28
25.HOULT, J. A. “TheEvidentiary Admissibil-ity of Parental AlienationSyndrome: Science, Law,and Policy”. Children’sLegal Rights Journal26 (1), 2006.
26.STURGE,C.;GLASER,D. “Contact and domesticviolence – the experts’court report”. FamilyLaw, 615, 2000.
27.FORTIN, J.. Chil-dren’s Rights andthe Developing Law.Cambridge UniversityPress, 2003. p. 263.
28.BALA, N. et al. “Alien-ated Children and Pa-rental Separation: LegalResponses in Canada’sFamily Courts”. Queen’sLaw Journal 38, 2007.pp. 79–138.

218
Entre Redes
Ou seja, Gardner e os seus seguidores iniciaram com o poder,pela falsa teoria, de diagnosticar e sugerir sentenças sem avaliara família como um todo. Era seguir seus pressuspostos (oitoitens de uma lista) e uma criança estava diagnosticada comoSAP e a mãe era condenada.
A não aceitação das proposições de Gardner foram sendo fun-damentadas pela sua conduta e pelo que havia deixado escritona sua trajetória. Em um de seus livros polêmicos, publicadoem 198630, quando iniciava a tentativa de oficializar a SAP, oque ele escreveu revela seus pensamentos em defesa dos abu-sadores. Vejam a responsabilidade que ele coloca nas crianças.Havia - e há - aceitação de um grupo de associações para essasidéias!
10. “A Pedofilia é uma prática generalizada e aceita literal-mente por bilhões de pessoas” (GARDNER, 1986, p. 93).11. “As crianças são naturalmente sexuais e pode dar início aencontros sexuais por ‘seduzir’ o adulto” (GARDNER, 1986,p. 93)12. Se a relação sexual é descoberta, “a criança provavelmentevai fabricar uma forma de dizer que o adulto foi culpado desdeo início” (GARDNER, 1986, p. 93).
Ampliemos suas idéias do livro de 1992, que enfatiza suas te-orias31:
13. “Especial cuidado deve ser tomado para não alienar acriança do pai molestador. A remoção de um pai pedófilo dacasa “só deve ser seriamente considerada após todas as tenta-tivas de tratamento da pedofilia e da aproximação com a famí-lia forem inúteis” (GARDNER, 1992, p. 537).14. “À criança deve ser dito que não há tal coisa como um paiperfeito. A exploração sexual tem que ser colocada na lista ne-gativa, mas deve ser apreciada no seu lado positivo” (GARD-NER, 1992, p. 572).15. “As crianças mais velhas podem ser ajudadas a perceberque os encontros sexuais entre um adulto e uma criança não sãouniversalmente consideradas como atos condenáveis. À crian-ça pode ser dito que em outras sociedades tal comportamentoera e é considerado normal” (GARDNER, 1992, p. 572).16. “A criança pode ser ajudada a apreciar a sabedoria doHamlet de Shakespeare, que disse: “Nada é bom ou ruim, mas
30.GARDNER, R. .A.Child Custody Litiga-tion: A Guide for Parentsand Mental Health Profes-sionals. Cresskill, NJ: Cre-ative Therapeutics, 1986.
31.GARDNER, R. A...True and False Accu-sations of Child SexAbuse. Cresskill, NJ:Creative Therapeutics,1992.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
219
faz pensar assim” (GARDNER, 1992, p. 549).17. “Em discussões de como a criança tem que ser ajudadaa compreender as questões sobre os encontros sexuais entre acriança e o adulto é que temos em nossa sociedade uma atitudeexageradamente punitiva e moralista” (GARDNER, 1992, p.572).
Esses exemplos merecem debates que não cabem neste arti-go, mas revelam uma forma de pensar voltada para defenderos abusadores, utilizando-se de uma estratégia médico-jurídicafalsa. Mesmo assim, com tão evidentes provas, muitos opera-dores da Justiça ainda acatam a tal síndrome. Em casos mais re-Em casos mais re-centes, ainda que seja aceito o conceito de alienação, a ausênciade reconhecimento pelo DSM-IV32 , da Associação PsiquiátricaAmericana, foi notada e a terminologia “síndrome” foi evitada,enfatizando que mudanças de custódia são estressantes para acriança e só devem ocorrer nos casos mais graves. Uma pesqui-sa de 2006, do Departamento de Justiça do Canadá, descreveu aSAP como “empiricamente não fundamentada” e favoreceu ummodelo diferente, com mais embasamento científico, para lidarcom as questões de alienação (JAFFE, 2006)33. O prestígio deGardner era colocado sucessivamente em xeque. Talvez estejaaí um dos motivos do seu auto-extermínio. O suicídio de Gard-ner, ocorrido de forma dramática em 2003, deixou vir à tona afragilidade de seus argumentos. Com sua inteligência e poderde comunicação, ele conseguiu seduzir as associações que oapoiavam, alguns especialistas e juristas, afirmando que estariasofrendo perseguição dos colegas. Entretanto, o que aconteciaera que a SAP não tinha fundamentos para ser incluida no DSM(APA)34 e na CID (OMS)35. Assim, alguns de seus adeptos pas-saram a reconhecer a inconsistência de suas teorias, bem comoreconheceram que colegas sérios condenavam o seu comporta-mento ético e científico. Podese pensar que, pressionado e nãosuportando a realidade, tomou uma dose excessiva de psicotró-picos à noite. Como era um homem fisicamente forte, acordoutenso e dopado no outro dia. Entretanto, finalizou, desesperado,o seu último gesto, lesionando-se com uma faca de açouguei-ro36. As associações de pais que o apoiavam publicaram queele dormiu tranquilamente e se despediu em paz pela obra quetinha feito. Seu filho, no New Times, desmentiu essas notícias,mostrando a realidade de seu final. Uma pergunta frequente é:quais as razões, além da financeira, o levaram a defender comveemência os pedófilos? Seu suicídio encobre alguma verdadeque me lembra o famoso conto O alienista, de Machado de As-
32.Diagnostic and Sta-tistical Manual of MentalDisorders (DSM).
33.JAFFE, PG. (2006).Making Appropriate Par-enting Arrangements inFamily Violence Cases:Applying the Literatureto Identify PromisingPractices. Department ofJustice.
35.Classificação Interna-cional de Doenças.
34.Diagnostic and Sta-tistical Manual of MentalDisorders.
36.Detalhes da autópsiapodem ser vistos emCounty of Bergen, De-partment of Public Safety,Medical Examiner. NewJersey.

220
Entre Redes
sis, no qual, com ironia corrosiva, o escritor relata o caso de umpsiquiatra (Simão Bacamarte), responsável por um manicômio,que, incapaz de distinguir claramente entre loucura e normali-dade, acaba por libertar todos os pacientes e se internar no lugardeles.
Gardner “libertou” muitos abusadores sexuais de seus crimes,transformouos em vítimas e deulhes os filhos de volta, paraque continuassem com os abusos. Em contrapartida, se “apri-sionou” no próprio “manicômio”. Este deveria ser o lugar dosabusadores que já não podem mais ser ajudados. Decisões so-bre possível alienação parental (AP), no Canadá, são conside-radas decisões legais, a serem determinadas por um juiz, combase nos fatos do caso, ao invés do diagnóstico realizado porum profissional de Saúde Mental. Há reconhecimento de que arejeição de um progenitor é uma questão complexa, e que umadistinção deve ser feita entre alienação patológica e o estranha-mento razoável. A nossa experência revela que só uma equipeinterdisciplinar preparada, com cursos específicos – e estes jáexistem no Brasil – poderão, com idoneidade, colaborar comoperadores da Justiça, emitindo paraceres claros e justificadospara as autoridades judiciárias tomarem suas decisões. Umexemplo é o NUFOR37, do Instituto de Psiquiatria do Hospitaldas Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e que funcionahá mais de dez anos. As instituições e os autores sérios, repito,afirmam que a SAP não é reconhecida como uma desordem pe-las comunidades médica e jurídica e a teoria de Gardner, assimcomo pesquisas relacionadas à ela, têm sido amplamente criti-cadas por estudiosos de Saúde Mental e de Direito, que alegamfalta de validade científica e fiabilidade. O trabalho de Bernet(2008)38 permite esclarecer este assunto. Paramaiores consultaspesquisar em http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_aliena%C3%A7%C3%A3o_parental..
Devo chamar a atenção que o conceito distinto, porém relacio-nado, de alienação parental (AP), isto é, o estranhamento deuma criança por um dos pais, é reconhecido como uma dinâmi-ca em algumas famílias durante o divórcio (Bernet, 2008; Ro-hrbaugh, 2008)39. Portanto, esse fenômeno (AP) existe, real-mente, e é observado pelos peritos experientes. Entretanto, nãopode ser generalizado como Gardner fez. Qualquer cidadão emdisputa poderá utilizar os meios alienantes já citados para feriralguém e alcançar a simpatia do outro. Nas famílias, é verdade,ocorre o fenômeno que pode ficar evidente quando há um divór-
37.Núcleo de Estudos ePesquisas em PsiquiatriaForense e Psicologia Ju-rídica - NUFOR - IPq,
38.BERNET,W. “ParentalAlienation Disorder andDSM-V”. The AmericanJournal of Family Therapy36 (5), 2008. p. 34
39.ROHRBAUGH, J. B.A comprehensiveguide to child custo-dy evaluations: mentalhealth and legal perspec-tives. Berlin: Springer,2008. pp. 399–438.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
221
cio litigioso, mas não alcança a condição de síndrome, como oDr. Gardner e seus seguidores desejavam. Seu fim melancólicodeve significar um alerta para os seus defensores no Brasil.
6. Conselho de Liderança
O Conselho de Liderança (CL) sobre o abuso e violência in-terpessoal (anteriormente o Conselho de Liderança em SaúdeMental, Justiça e Comunicação Social) foi fundado em 1998,por profissionais envolvidos com o tratamento das vítimas detrauma, tanto nos círculos profissionais e como pelo sistema le-gal. Esta instituição é presidida por um dos mais renomadospsiquiatras americanos, Paul Fink40. A web do CL pode seracessada em http://www.leadershipcouncil.org.
Esta é uma organização científica, independente, sem fins lu-crativos, composta por cientistas respeitados, médicos, edu-cadores, juristas e analistas de política pública. A missão delaé promover a aplicação da ética da ciência psicológica para obem-estar humano. A organização está empenhada em ofere-cer ao público informações precisas, baseadas na investigaçãosobre uma variedade de problemas de saúde mental e para apreservação do compromisso, com a sociedade, de proteger osseus membros mais vulneráveis. É desta organização que voucontinuar tirando informações idôneas e claras para a compre-ensão do problema.
A teoria de Gardner sobre a SAP teve um efeito profundo naforma como os sistemas judiciais dos EUA passaram a lidarcom acusações de abuso sexual, especialmente durante o divór-cio. Gardner é autor de mais de 250 livros e artigos com conse-lhos dirigidos aos profissionais de Saúde Mental, à comunidadejurídica, aos adultos se divorciando e a seus filhos. Mas, mesmoassim, a SAP foi uma teoria contestada. Um dos contestadoresfoi Sherman (1993)41, que buscou informações disponíveis nosite de Gardner para mostrar que o próprio tenha sido certifica-do a depor como perito penal e civil, em mais de 25 estados. Otrabalho de Gardner continua a servir como base para decisõesque estão afetando o bem-estar das crianças em salas de audi-ência em todo o país. Ele é considerado a maior autoridade emtribunais de família e tem, ainda, sido descrito como o “guru”das avaliações da custódia da criança (GARDNER, CV)42. Po-demos verificar, portanto, que o Dr. Gardner vislumbrou e fez
40. Paul J. Fink ,MD – Professor dePsiquiatria na Faculdadede Medicina da Univer-sidade Temple; Presi-dente da Comissão deTrabalho sobre aspectospsiquiátricos da violênciada Associação Psiquiátri-ca Americana; ex-Pres-idente da AssociaçãoPsiquiátrica Americana edo Colégio Americano dePsiquiatras.
41.SHERMAN, R. Gard-ner Lei: “Um psiquiatrapolêmico e influentetestemunha conduz areação contra a Histeriado Abuso Sexual Infantil.O Jornal Nacional deDireito, 1993.
42.Veja Gardner CV emseu site (disponível emhttp://www.rgardner.com/pages/cvqual.html).Veja, também, Pessoasv. Fortin, 706 N.Y.S.2d611, 612 ( Crim. Ct.2000). Fortin Foi umcaso de abuso sexualcriminoso em que o Dr.Gardner se ofereceu paratestemunhar em nomedo acusado molestadore sobre a credibilidadedo seu testemunho. Otribunal recusou-se apermitir o seu testemu-nho, por causa de umfracasso em estabelecera aceitação geral da SAPno seio da comunidadeprofissional.

222
Entre Redes
um excelente negócio sem a formação devida. O seu pensamen-to a respeito dos ofensores sexuais - deformado, como vimos-, oferecia a ele excepcional oportunidade de trabalho. Erammilhares de divórcios que ocorriam nos EUA, o que se repeteaqui, país cópia. É lógico pensar nos milhares de divórcios queocorrerão no Brasil. O que acontecerá com essa lei, que poderáser usada por advogados inidôneos e desonestos? E o enormenúmero de falsos peritos que trabalham em nosso país, muitosindicados por juízes despreparados para suas funções? É enor-me a preocupação. Estes divórcios têm causas e muitas delas seembasam na violência contra as crianças. Quantos seriam? E ospais abusivos, sendo contemplados indevidamente com a guar-da? O relato de Silberg (2010)43, PhD, que é Vice-PresidenteExecutiva do Conselho de Liderança (CL), pretende respondera esta inquietante pergunta.
6.1. Quantas crianças estão judicialmente em contato nãosupervisionado com um pai abusivo após o divórcio?
De acordo com uma estimativa conservadora feita por especia-listas do Conselho de Liderança (CL) sobre o abuso e violênciainterpessoal, a cada ano mais de 58.000 crianças abusadas físi-ca e/ou sexualmente são levadas a manter contato não supervi-sionado, ordenado pela Justiça, com seus abusadores. Elas sãovítimas dos pais do divórcio nos Estados Unidos e da JustiçaAmericana. Isso é mais do dobro da taxa anual de casos novosde câncer infantil.
Especialistas da CL consideram que a crise nos tribunais defamília tem produzido uma crise de saúde pública. Uma vezcolocadas com um pai abusivo, ou forçadas para visitá-los, ascrianças continuarão a ser expostas à violência e abuso parentalaté atingirem 18 anos. Assim, estimase que 500 mil criançasserão afetadas nos EUA a cada ano. Muitas destas crianças so-frem danos físicos e psicológicos que podem levar uma vidainteira para curar.
6.2. Como o CL obteve esta estimativa
Ninguém sabe o número exato de crianças que são deixadasdesprotegidas na custódia de um pai abusivo, após o divórcio.O Conselho de Liderança tem estudado o problema e, através
43.Tel:(410) 938-4974

“Da alienação parental à alienação judiciária”
223
da melhor pesquisa disponível, tentou esclarecer o fenômenocom uma estimativa conservadora do problema. A pesquisa quefoi utilizada para a obtenção desses dados é explicada com maisprofundidade no quadro abaixo.
Número de crianças afetadas pelo divórcio a cada ano 1000000
Número de famílias com alegações de abuso infantil e / ou violên-cia doméstica severa (13%)
x.13
= 130.000 casosQuando investigados, o percentual de casos considerados váli-dos ou com suspeita de serem válidos (A pesquisa sugere queo número está entre 43 e 73%, com a maioria dos dados quemostram que a taxa já chega a 70 %. Para ser conservador, oCL utilizou 60%).
X 0,60
= 78000Percentual de crianças desprotegidas (A pesquisa sugere que onúmero está entre 56-90 %, com mais dados que comprovem,a taxa é próxima a 90%. Uma estimativa conservadora é de 75%).
X 0,75
Estimativa de crianças que são deixadas desprotegidas aos cuida-dos de um abusador após o divórcio de seus pais nos EUA.
= 58500
Aproximadamente um em cada dois casamentos nos EstadosUnidos termina em divórcio, afetando cerca de um milhão decrianças por ano. Cerca de 10% desses divórcios envolvemlitígios de custódia. Algumas crianças são ou tornam-se emo-cionalmente distantes de um ou ambos os pais durante esseprocesso. A causa desse afastamento não pode ser determinadasem uma compreensão aprofundada da história e da dinâmicafamiliar. A pesquisa mostrou que as questões subjacentes aoapego dos pais ou à alienação são complexas e não se prestam arespostas fáceis. No entanto, para alguns avaliadores, a custódiada criança deve confiar na ciência da sucata simplista: teoriaspara explicar o comportamento da criança e recomendar “onesize fits all” um tipo de solução que usa a força para que a crian-ça divida seu amor entre os pais 50%50%. Muitos operadoresda Justiça americana, no afã de encontrar uma solução para osgraves conflitos causados por um divórcio litigioso, encontrouna SAP uma resposta simplista e rápida. A maioria deles, pro-vavelmente, não conhecia sua obra e, particularmente, um deseus livros onde revelou sua inclinação de defensor dos pedófi-los. Ele considerava que os pedófilos estavam sendo persegui-dos pela sociedade e comparou-os às bruxas. Bruxas de Salémrefere-se ao episódio gerado pela superstição e pela credulidade

224
Entre Redes
que levaram, naAmérica do Norte, aos últimos julgamentos porbruxaria na pequena povoação de Salém, Massachusetts, numanoite de outubro de 1692. O medo da bruxaria começou quandouma escrava negra chamada Tituba contou algumas históriasvudus (religião tradicional da África Ocidental) a amigas, que,por esse fato, tiveram pesadelos. Um médico que foi chama-do para examiná-las declarou que deveriam estar embruxadas.Os julgamentos de Tituba e de outros foram efetuados ante ojuiz Samuel Sewall. Cotton Mather, um pregador colonial queacreditava em bruxaria, encarregou-se da acusação. O medo dabruxaria durou cerca de um ano, durante o qual vinte pessoas,na sua maior parte mulheres, foram declaradas culpadas e exe-cutadas. Um dos homens, Giles Corey, morreu de acordo como bárbaro costume medieval de ser comprimido por rochas emuma tábua sobre seu corpo, levando, no total, três dias. Forampresas cerca de cento e cinquenta pessoas. Mais tarde, o juizSewall confessou que pensava que as suas sentenças haviamsido um erro.
No livro, Gardner (1991)44 envolve as religiões e o judiciário.Atacou os princípios judaico-cristãos. É de interesse que, detodos os povos antigos, pode muito bem ser que os judeus fo-ram os únicos punitivos para os pedófilos. “Nossa reação aoapresentar a pedofilia representa um exagero dos princípiosjudaico-cristãos e é um eficiente fator significativo na atipici-dade da sociedade ocidental em relação a essas atividades”(GARDNER, 1991, pp. 46-47).
Colocou a culpa nas que chamou de “Mães Sexualmente inibi-das”: “a mãe foca psicologicamente gratificada [suas própriasnecessidades sexualmente inibidas] com o imaginário visualque a acusação de abuso sexual fornece” (GARDNER, 1991,pp. 36-37).
Em defesa dos “pedófilos”, Gardner generaliza para o judiciáriosuas elaborações sobre a sexualidade dos seus membros.
No sistema jurídico - incluindo juízes:
Não há dúvida de que os casos de abusosão “turn ons “para a grande variedade depessoas envolvidas nos mesmos, o acusa-dor (s), os procuradores, os advogados, osjuízes, Os avaliadores, os psicólogos, os re-pórteres, os leitores dos jornais, e todos os
44.GARDNER, R.A. Ahisteria de abusosexual: O Julgamentodas Bruxas de SalemRevisitado. Cresskill, NJ:Creative Therapeutics,1991.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
225
outros envolvidos - exceto para o falsamen-te acusado e vítima inocente. Todo mundoestá começando a sua “projeção” (GARD-NER, 1991, p. 31).
E acrescenta:
Os Juízes também podem ter impulsos re-primidos pedofílicos em que há repressão,a repressão e a culpa. Inquérito sobre os de-talhes do caso fornece gratificações voyeu-rista e indiretos. Encarcerar o presumívelautor poderá servir para destruir psicolo-gicamente os próprios projetados impulsospedofílicos do juiz (GARDNER, 1991, p.107).
Não deixa de causar admiração que estas idéias tenham sidoaceitas por parte de uma comunidade que lida com o direito. Anão confrontação revela a alienação Judiciária.
Acaba de ser publicado um livro muito atual, intitulado Vio-lência Doméstica, Abuso e guarda dos filhos: Estratégias ju-rídicas e Questões políticas, editado por Mo Therese Hannah,Ph.D. e Barry Goldstein, J.D. (2010)45, que reúne informaçõesimportantíssimas sobre esse polêmico tema e ajuda a esclarecera confusão deixada por Gardner. Em síntese, este livro mostraque, em função de uma tendência que começou na década de1980, desde então, cada vez mais, os juízes dos tribunais defamília dos EUA têm ordenado milhares e milhares de criançaspara visitação inadequada de pais biológicos abusivos. Emmui-tos casos, às mães tem sido negada qualquer forma de guarda,sendo que algumas perdem todo o contato com seus filhos. Nosúltimos anos, os advogados e defensores de serviço social sereuniram para abordar essa questão nas Conferências Anuaissobre Mães Maltratadas pela Lei de Custódia. Assim, o livroreúne a experiência e a perspectiva de mais de trinta colabo-radores para BMCC - Battered Mothers Custody Conference -em um recurso abrangente para que os defensores usem formasmais adequadas de pensar e mais eficazes estratégias jurídicasna batalha para proteger as mães e as famílias de um sistemaque, muitas vezes, não consegue lidar com o abuso e, por ve-zes, em verdade, agrava o problema. Os abusos cometidos pelaJustiça americana contra as famílias, quando favoreciam paisincestuosos e violentos, proporcionaram a necessidade da cria-ção de uma entidade para estudar e alertar as autoridades. Porser um dos criadores e o Diretor Presidente da ABTOS46, que
45.HANNAH, M. T.;GOLDSTEIN, B. DomesticViolence, Child Abuse andCustody. Kingston: CivicResearch Institute (CRI),2010. 710p.
46.Associação Brasile-ira de Prevenção eTratamento das OfensasSexuais.

226
Entre Redes
tem sede na Faculdade de Medicina da USP, arrazoei esses fun-damentos, visando a manifestar a posição de um grupo de pen-sadores dessa área.
7. Considerações finais
7.1 O fenômenoAlienação Parental é descrito desde 1940 e valecomo prova documental.7.2 A Síndrome de Alienação Parental (SAP) não é aceita namaioria dos países.7.3 Nenhuma associação profissional reconheceu a SAP comouma síndrome médica ou como um transtorno mental, e ela nãoestá listada no DSM da Associação Americana de Psiquiatria,ou na CID da Organização Mundial de Saúde.7.4 O DSM5 deverá sair em 2013. As últimas notícias de seusresponsáveis negam a incorporação do tema como síndrome.7.5 A lei aprovada no Brasil exige urgente formação para osoperadores da Justiça.7.6 É imprescindível a interlocução entre a Saúde e a Justiça.7.7 Lutar para que a Justiça Brasileira entenda o que é Aliena-ção Parental e não se deixar alienar pelas idéias de um defensorde pedófilos e da pedofilia.
Referências bibliográficas
AULETE, C. Dicionário Contemporâneo da Língua Portu-guesa. Rio de Janeiro: Delta, 1964.
BAKER, A. J. L. Knowledge and Attitudes About the ParentalAlienation Syndrome:ASurvey of Custody Evaluators.Ameri-can Journal of Family Therapy 35, 2007, pp. 1–19.
BALA, N. et al Alienated Children and Parental Separation:Legal Responses in Canada’s Family Courts. Queen’s LawJournal 38, 2007, pp. 79–138.
BERNET,W. (2008). ParentalAlienation Disorder and DSM-V.The American Journal of Family Therapy 36 (5), 2008, p.34.
DALLAM, S. J. Expose: The failure of family courts to protectchildren from abuse in custody disputes. Our Children Charita-ble Foundation, 1999.

“Da alienação parental à alienação judiciária”
227
ENCICLOPEDIAMIRADOR INTERNACIONAL. Rio de Ja-neiro: Encyclopedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. vol.II, 1976. 11.565p.
FREUD, S. O ego e o id. In: FREUD, S. Obras Completas.vol. 6. Rio de Janeiro: Imago, 1958
FORTIN, J. Children’s Rights and the Developing Law. Cam-bridge University Press, 2003. p. 263.
GARDNER, R. A. Child Custody Litigation:AGuide for Pa-rents and Mental Health Professionals. Cresskill, NJ: CreativeTherapeutics, 1986.
_________________Sex Abuse Hysteria: Salem Witch TrialsRevisited. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1991.
_________________True and False Accusations of ChildSex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1992.
_________________ParentalAlienation Syndrome (PAS): Six-teen Years Later. Academy Forum 45 (1), 2001. pp. 10–12.
_________________Denial of the Parental Alienation Syndro-meAlso HarmsWomen. American Journal of Family Thera-py 30 (3), 2002, pp. 191–202.
HANNAH, M. T.;GOLDSTEIN, B. Domestic Violence, ChildAbuse and Custody. Kingston: Civic Research Institute (CRI),2010. 710p.
HOULT, J. A. The Evidentiary Admissibility of Parental Alie-nation Syndrome: Science, Law, and Policy. Children’s LegalRights Journal 26 (1), 2006.
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 2.992p.
JAFFE, P. G. Child Custody & Domestic Violence. SAGE Pu-blications, 2002. pp. 52–54.
____________ Making Appropriate Parenting Arrange-ments in Family Violence Cases: Applying the Literature toIdentify Promising Practices. Department of Justice, 2006.

228
Entre Redes
KRYNSKI, S.; CÉLIA, S.; LIPPI, J. R. S. A Criança Maltra-tada. São Paulo: Almed, 1985. 137p.
LALANDE,A.Vocabulario Técnico y Critico de la Filosofía.Buenos Aires: El Ateneo, 1954. 1.502p
LÉVI-STRAUSS, C. Le strutture elementari della parentela.Milano: Feltrinelli, 1969.
LIPPI, J. R. S. Abuso e Negligência na Infância: Prevençãoe Direitos. Rio de Janeiro: Editora Científica Nacional, 1990.219p.
ROHRBAUGH, J. B. A comprehensive guide to child cus-tody evaluations: mental health and legal perspectives. Ber-lin: Springer, 2008. pp. 399–438.
RYCROFT, C. Dicionário Crítico de Psicanálise. Rio de Ja-neiro: Imago, 1975. 262p.
TEICHER, M. H. Feridas que não cicatrizam: a neurobiologiado abuso infantil. ScientificAmerican Brasil (1), 2002. pp. 83-89.
SHERMAN, R. Gardner Lei: Um psiquiatra polêmico e in-fluente testemunha conduz a reação contra a Histeria do AbusoSexual Infantil. O Jornal Nacional de Direito, 1993.
STURGE, C; GLASER, D. Contact and domestic violence –the experts court report. Family Law, 615, 2000.
WARSHAK, R. A. Current controversies regarding parentalalienation syndrome. American Journal of Forensic Psycho-logy 19, 2001. pp. 29–59.



Este material é resultado do Convênio/Termo de Cooperação 17/2009 firmado entre esta Instituição deEnsino Superior e o Ministério da Educação. As opiniões expressas neste livro são de responsabilidade deseus autores e não representam necessariamente a posição oficial do Ministério da Educação ou doGoverno Federal.

A presente edição foi impressa pela Gráfica O Lutador emsistema offset, papel reciclato linha d`água 90g (miolo) ecartão supremo 250g (capa), em agosto de 2011.