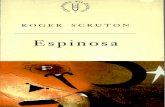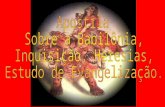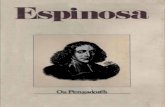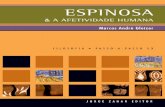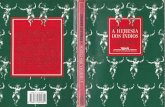Marcos Gleizer - A Heresia de Espinosa
Click here to load reader
-
Upload
vicfiori402 -
Category
Documents
-
view
77 -
download
4
Transcript of Marcos Gleizer - A Heresia de Espinosa
-
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
56
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal1
Marcos Andr Gleizer
UERJ/CNPq RESUMO: O artigo pretende expor, em suas grandes linhas, os principais elementos que permitem mostrar que Espinosa rompe radicalmente com as teses fundamentais da doutrina tradicional da imortalidade pessoal, substituindo-a por uma teoria original da eternidade individual da mente. PALAVRAS-CHAVE: Espinosa eternidade imortalidade indivduo pessoa essncia singular ABSTRACT: This paper aims to render explicit the main elements that show that and how Spinoza breaks radically with the fundamental tenets of the traditional doctrine of personal immortality, and replaces that doctrine with an original theory concerning the eternity of the individual mind. KEY-WORDS: Spinoza eternity immortality individual person singular essence
Uma das questes que mais fascinam e intrigam at hoje os estudiosos da vida e da obra
de Baruch Espinosa diz respeito ao episdio de sua excomunho (herem, em hebraico), aos 24
anos, da comunidade judaica portuguesa de Amsterd. Como se sabe, o herem era um
instrumento disciplinar usado com freqncia para reforar a conduta social, tica e religiosa de
uma comunidade marcada por tenses e conflitos decorrentes em grande parte da origem
marrana da maioria de seus membros. O herem de Espinosa no foi, portanto, um caso isolado.
No entanto, seu caso se destaca no apenas em virtude da importncia crucial que sua filosofia
veio a adquirir na histria do pensamento ocidental, mas tambm pela extrema dureza e violncia
da linguagem contida em seu decreto de expulso. Curiosamente, as acusaes formuladas neste
decreto so to vagas quanto virulentas. Elas se referem s ms opinies e obras, heresias
abominveis e monstruosas aes de Espinosa, sem que absolutamente nenhuma opinio ou
ao especfica sejam mencionadas. No h tampouco documentos oficiais explicitando as
opinies do jovem Espinosa. Para quem conhece suas obras de maturidade, o Tratado teolgico-
1 O presente artigo baseado em uma conferncia proferida no III Colquio de Filosofia da Religio: Transcendncia e Imanncia, ocorrido em outubro de 2008 no IFCS/UFRJ.
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
57
poltico e a tica, no difcil identificar o carter profundamente hertico das idias que elas
expressam em relao a princpios fundamentais do judasmo, tais como a crena na existncia de
um Deus bom, justo e providencial, que teria criado livremente o mundo, revelado a Lei a Moiss
e eleito o povo judeu. Embora no tenha sobrevivido nenhum texto da poca do herem em que
Espinosa defenda estas idias2, e embora os dados documentais sobre o episdio sejam muito
escassos, h relatos de que ele j sustentava que Deus existe apenas filosoficamente, que a Lei
no verdadeira e que a alma no imortal. altamente provvel que estas idias constituam
as heresias abominveis a que o decreto se refere e que explicariam em parte a expulso de
Espinosa. O que explicaria, no entanto, a particular violncia deste episdio?
Em um livro dedicado a este tema, Steven Nadler procura defender a hiptese de que a
negao da imortalidade da alma teria sido a principal causa dessa violncia.3 Essa hiptese
surpreende inicialmente, pois o prprio Nadler procura mostrar, a partir de uma exposio do
tema da imortalidade nas diversas correntes da histria do judasmo (bblico, apocalptico,
helenista, rabnico e filosfico), que no h nenhum dogma especfico que um judeu seja
obrigado pela Lei (halachh) a acreditar acerca da natureza da alma e do seu destino post mortem.
Apesar da corrente dominante do judasmo rabnico adotar a tese da sobrevivncia de uma alma
pessoal que ser recompensada ou castigada na vida futura em virtude das aes realizadas na
vida presente, Nadler mostra que a tradio judaica contempla uma grande flexibilidade nesta
questo, a ponto de filsofos da magnitude de Maimnides e Gersnides defenderem uma
concepo puramente intelectual da imortalidade dificilmente compatvel com a preservao de
alguma forma de identidade pessoal.
Apesar dessa flexibilidade ao longo da histria do judasmo, Nadler evidencia como a
questo da imortalidade da alma, compreendida em conformidade com a corrente rabnica
dominante, era uma questo extremamente delicada para a comunidade judaica de Amsterd. Em
torno desta questo surgiu na dcada de 1630 uma intensa controvrsia acerca do destino dos
parentes e amigos dos membros da comunidade que viveram ou ainda viviam como conversos na
pennsula ibrica. Com efeito, estes judeus cometeram pecados gravssimos na medida em que
no apenas renunciaram publicamente ao judasmo, mas praticaram a idolatria ao participarem da
missa catlica. Assim, a controvrsia girava em torno do destino post mortem desses parentes e
amigos. Ser que eles seriam eternamente castigados por seus pecados?
2 Sabemos que Espinosa escreveu um texto nesta poca, intitulado Apologia para justificar sua sada da sinagoga. Alguns estudiosos acreditam que este texto teria servido de base para a elaborao posterior do Tratado Teolgico-Poltico. No entanto, este texto se perdeu, de modo que a hiptese no pode ser verificada. 3 Nadler, S. Spinozas Heresy: Immortality and the Jewish Mind; Oxford University Press, 2001.
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
58
A discusso teolgica suscitada por esta questo se concentrou sobre a interpretao de
uma passagem do Talmud que afirma que todo israelita ter uma poro no mundo vindouro.4
Um grupo, liderado pelo rabino Aboab da Fonseca, argumentava em favor da tese de que todo
israelita designava qualquer descendente da nao de Israel, independentemente de sua conduta
nesta vida, de modo que o destino futuro dos conversos estava garantido. Outro grupo, liderado
pelo rabino Saul Levi Morteira, defendia que todo israelita designava apenas os judeus
piedosos, praticantes e retos. Este conflito, que s pde ser resolvido por um apelo comunidade
judaica de Veneza, foi o mais srio desafio unidade vivido at ento pela jovem comunidade de
Amsterd.
Alm da importncia interna que a questo da imortalidade da alma possua para a
comunidade, o desafio que ela colocava para a sua preservao tambm tinha um aspecto
externo. Nadler salienta o quanto o tema da imortalidade desempenha uma funo teolgica,
escatolgica e moral importante para o cristianismo dominante na sociedade reformista
holandesa. Assim, os lderes da comunidade judaica certamente temiam que os desvios de seus
membros pudessem causar srios conflitos com as autoridades holandesas e gerar a desconfiana
de que a comunidade seria um antro de herticos. Assim, por razes de ordem religiosa,
histrica e poltica, Nadler defende que, ao questionar a tese da imortalidade da alma, Espinosa
teria atacado um tpico particularmente sensvel na Amsterd de 1650, desencadeando uma
resposta violenta por parte dos lderes da comunidade.
A hiptese de Nadler engenhosa, embora difcil de ser historicamente comprovada. No
entanto, meu intuito aqui no avaliar seus pontos histricos fortes ou fracos, mas tom-la como
convite para examinarmos a posio filosfica de Espinosa acerca da imortalidade pessoal. Afinal,
o que Espinosa tem a nos dizer acerca da questo da vida eterna?
***
O primeiro fato que cabe salientar a importncia central que Espinosa concede a essa
questo ao longo de todo o seu percurso filosfico. Com efeito, a referncia eternidade est
presente tanto na formulao inicial de seu projeto filosfico, apresentada no prlogo do Tratado
da reforma do entendimento, quanto no ponto culminante de seu sistema, a teoria da beatitude
desenvolvida na quinta parte de sua tica demonstrada maneira dos gemetras. No Tratado, Espinosa
lana o projeto de buscar um bem soberano pelo qual a mente seja afetada de uma alegria eterna,
4 Sanedrim 11:1
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
59
contnua e suprema.5 Este bem supremo, cuja posse seria a fonte de uma alegria eterna,
caracterizado nesta mesma obra como o conhecimento da unio da mente com a Natureza
inteira.6 A tica, por sua vez, realiza este projeto ao nos mostrar o caminho que conduz a aquele
conhecimento, demonstrando que ele consiste no conhecimento intuitivo de nossa eternidade em
Deus e como ele engendra um contentamento interior e um amor intelectual eternos. Ora, se
podemos conhecer as coisas como eternas, e se podemos experimentar uma alegria e um amor
igualmente eternos, porque algo em ns eterno. Como afirma Espinosa: Sentimos e
experimentamos que somos eternos.7 Toda a parte final da tica dedicada elaborao da
teoria da eternidade que explica a natureza e a possibilidade dessa experincia.
Embora essa teoria tenha sido amadurecida ao longo de todo o percurso reflexivo de
Espinosa, sua extrema dificuldade reconhecida pelos principais estudiosos de sua obra e causa
de mltiplas disputas interpretativas.8 Essas disputas se referem particularmente s relaes
existentes entre os conceitos de eternidade e imortalidade, e ao carter pessoal ou no pessoal do
que Espinosa chama de parte eterna da mente.9 No pretendemos examinar aqui de forma
detalhada todos os conceitos e argumentos envolvidos nessa complexa discusso. Nosso objetivo
neste trabalho preliminar muito mais modesto. Trata-se apenas de apresentar, em suas grandes
linhas, os principais elementos que permitem mostrar que Espinosa rompe radicalmente com a
doutrina tradicional da imortalidade pessoal e a substitui por uma teoria original da eternidade
individual da mente. Uma vez apreendido o sentido geral desta ruptura poderemos nos dedicar,
em trabalhos posteriores, elucidao detalhada das dificuldades contidas na formulao e defesa
da teoria da eternidade da mente.
Para podermos avaliar o sentido e o alcance da ruptura promovida por Espinosa, cabe
apresentarmos inicialmente as principais teses sobre as quais repousa o que estamos chamando
aqui de doutrina tradicional: (1) o postulado da substancialidade e simplicidade da alma
5 Cf. T.R.E. 1: resolvi, enfim, indagar se existia algo que fosse o bem verdadeiro, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo o mais, o nimo fosse afetado; mais ainda, se existia algo que, achado e adquirido, me desse pela eternidade [in aeternum] o gozo de uma alegria contnua e suprema. 6 Cf. T.R.E. 13. 7 Cf. EVP23S. As citaes da tica so extradas da traduo de Tomaz Tadeu (Ed. Autntica, Belo Horizonte: 2008) e adotaro o seguinte padro: sigla da obra (E), seguida da parte em algarismos romanos e da indicao da definio (Def.), axioma (Ax.), proposio (P), corolrio (C) ou esclio (S) em algarismos arbicos. 8 Uma declarao de Edwin Curley, tradutor das obras completas de Espinosa para o ingls e um de seus principais comentadores norte-americanos, exemplifica bem a manifestao explcita e franca que muitas vezes o reconhecimento desta dificuldade recebe: in spite of many years of study, I still do not feel that I understand this part of the Ethics at all adequately. I feel the freedom to confess that, of course, because I also believe that no one else understands it adequately either (Behind the Geometrical Method: A reading of Spinoza's Ethics; Princeton University Press, New Jersey, 1988, p.84). 9 Cf. EVP40S: a parte eternal da mente (pelas proposies 23 e 29) o intelecto, por meio do qual, exclusivamente, dizemos que agimos (pela proposio 3 da Parte III).
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
60
espiritual, por oposio composio e divisibilidade do corpo; (2) a concepo da eternidade
como uma forma de continuao da existncia na durao, de modo que a alma j existia quando
o corpo ainda no existia e continuar a existir quando ele cessar de durar; (3) a afirmao de que
a alma de uma pessoa dotada de uma memria intelectual que a torna capaz de lembrar-se de
sua histria mesmo quando o corpo no mais existe; (4) a tese da impossibilidade de uma
experincia direta da imortalidade enquanto o corpo existe na durao. S a revelao pode nos
ensinar que a alma sobrevive ao corpo e quais so as formas desta sobrevida. 10
Veremos em seguida que Espinosa rompe com cada uma dessas teses. Antes, porm,
preciso mencionar algumas caractersticas fundamentais de seu pensamento que orientam sua
postura crtica diante da tradio.
O pensamento de Espinosa se destaca na histria da filosofia por seu racionalismo
absoluto, ou seja, por sua defesa rigorosa da inteligibilidade integral do real. Nada
incompreensvel. Tudo passvel de explicao, pois tudo tem uma causa ou razo.11 Desta
caracterstica decorre sua recusa em aceitar a existncia de mistrios insondveis diante dos quais
a razo deveria se inclinar. O racionalismo absoluto remete, por sua vez, a um determinismo
radical em conformidade com o qual toda a estrutura da realidade e todos os objetos e
acontecimentos que nela ocorrem so regidos por leis necessrias. Toda contingncia, portanto,
uma iluso que decorre apenas de nossa ignorncia das causas.12 Este determinismo radical exclui
a idia de milagre e acarreta, por um lado, a supresso de qualquer explicao dos acontecimentos
em termos de causas finais e, por outro, a recusa da compreenso tradicional da liberdade como
livre-arbtrio. Finalismo e livre-arbtrio no passam de iluses naturais da imaginao.13 A
verdadeira liberdade se compreende no como um suposto poder absoluto de sim e de no,
mas como uma forma de determinao interna, isto , como autodeterminao racional.
Racionalismo e determinismo, por sua vez, esto a servio da intuio filosfica primordial da
unidade da Natureza. A Natureza a nica realidade substancial, uma totalidade auto-suficiente
da qual tudo o que existe parte e na qual tudo se articula sistematicamente. Este naturalismo
10 Essas teses foram claramente destacadas por Gilles Deleuze no captulo XIX de seu livro Spinoza et le problme de lexpression; Les ditions de Minuit, Paris: 1968. 11 Cf. EIP11, demonstrao alternativa: Para cada coisa deve-se indicar a causa ou razo pela qual ela existe ou no existe. 12 Cf. EIP29: Nada existe, na natureza das coisas, que seja contingente; em vez disso, tudo determinado, pela necessidade da natureza divina, a existir e a operar de uma maneira certa. 13 Cf. EI Apndice: Todos os preconceitos que aqui me proponho a expor dependem de um nico, a saber: os homens pressupem, em geral, que todas as coisas naturais agem, tal como eles prprios, em funo de um fim, chegando at mesmo a dar por assentado que o prprio Deus dirige todas as coisas tendo em vista um fim preciso, pois dizem que Deus fez todas as coisas em funo do homem, e que fez o homem, por sua vez, para que este lhe prestasse culto. [...] por estarem conscientes de suas volies e dos seus apetites, os homens se crem livres, mas nem em sonhos pensam nas causas que os dispem a terem estas vontades e apetites, porque as ignoram.
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
61
integral recusa o sobrenatural e se funda metafisicamente em uma filosofia da imanncia segundo
a qual Deus e a Natureza constituem uma s e mesma realidade. Com isso, a noo
antropomrfica de Deus como um ser transcendente, pessoal, criador, legislador moral e juiz
supremo que recusada.
Este conjunto de caractersticas, e as crticas que elas envolvem, leva Espinosa a combater
vigorosamente os postulados metafsicos da tradio judaico-crist que veiculam uma viso da
realidade marcada por rgidas dicotomias (Deus/mundo, alma/corpo, liberdade/necessidade, esta
vida/ outra vida futura) e fundam uma concepo da vida moral centrada nas noes de dever,
castigo, recompensa e responsabilidade culpabilizante. Neste horizonte metafsico-moral, as
paixes tristes proliferam, a religio degenera facilmente em mera superstio e a ao virtuosa
concebida e vivida como um fardo que o homem s suporta nesta vida em nome de uma
recompensa em uma vida futura. Como afirma Espinosa:
So muitos os homens que parecem acreditar que so livres apenas medida que lhes permitido entregarem-se licenciosidade e que renunciam a seus direitos se so obrigados a viver conforme os preceitos da lei divina. Acreditam, assim, que a piedade e a religiosidade e, em geral, tudo o que est referido firmeza do nimo, so fardos de que eles esperam livrar-se depois da morte, para, ento, receber o preo de sua servido, ou seja, da piedade e da religiosidade. E no apenas por essa esperana, mas tambm, e sobretudo, pelo medo de serem punidos, depois da morte, por cruis suplcios, que eles so levados a viver, tanto quanto o permitem sua fraqueza e seu nimo impotente, conforme os preceitos da lei divina.14
A tica de Espinosa rejeita esta viso tradicional da moralidade e a funo que a doutrina
da imortalidade nela exerce. Como uma tica fundada nos laos que unem intrinsecamente
desejo, conhecimento e alegria, seu objetivo mostrar como o conhecimento verdadeiro das
causas naturais da existncia humana nos liberta dos preconceitos e temores que nos aprisionam e
nos impedem de cultivar uma vida marcada pelo contentamento interior. Longe de manifestar-se
atravs de uma obedincia aos preceitos divinos motivada pelo temor e pelo interesse, nossa
verdadeira virtude, isto , nossa fora interior, se manifesta no exerccio ativo de nossa potncia
intelectual, e desse exerccio que nasce necessariamente a mais alta felicidade. Por isso, Espinosa
afirma na ltima proposio de sua tica: a felicidade no o prmio da virtude, mas a prpria
virtude.15
***
14 Cf. EVP41S 15 Cf. EVP42
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
62
No espao terico do pensamento de Espinosa, qual o significado que pode adquirir o tema
da eternidade da mente? Para respondermos a esta questo, comecemos por apresentar algumas
das principais teses metafsicas formuladas nas duas primeiras partes da tica.
A primeira parte da tica, cujo ttulo De Deus, dedicada construo da metafsica
de Espinosa, isto , formulao de sua concepo acerca da estrutura fundamental da realidade.
Nela Espinosa explica que tipos de coisas existem e que vnculos relacionam estas coisas entre si.
Sua tese central conhecida como uma forma de monismo panentesta. O que significa este
rtulo? A tese monista consiste na afirmao da existncia de uma nica substncia na Natureza,
substncia esta que Espinosa qualifica como absolutamente infinita e identifica a Deus. Dado que
tudo o que existe substncia ou modificao da substncia, segue-se desta tese que as coisas
finitas nada mais so que modificaes imanentes da prpria substncia divina. Esta conseqncia
remete ao tema do panentesmo.
Para melhor compreendermos o significado da tese monista, til contrast-la, ainda que
rapidamente, com a metafsica dualista defendida por Descartes, pois foi em grande parte
refletindo sobre ela que Espinosa formulou seu pensamento. Segundo a metafsica cartesiana, o
universo constitudo por uma multiplicidade de substncias finitas classificadas em dois tipos: as
substncias materiais ou corporais, cujo atributo ou propriedade essencial a extenso
tridimensional, e as substncias imateriais ou espirituais, cujo atributo ou propriedade essencial
o pensamento. Esses dois tipos de substncia no apenas so totalmente diferentes, mas esta
diferena radical acarreta para Descartes uma completa oposio entre a alma e o corpo. Apesar
dessa oposio, Descartes defende que essas duas substncias esto estreitamente unidas no
homem, embora ele mesmo reconhea que esta unio incompreensvel.
Alm das substncias finitas, Descartes sustenta ainda que Deus, criador do universo,
uma substncia espiritual infinita. Assim, o termo substncia se aplica tanto a Deus quanto a
certas criaturas finitas. Ora, um dos aspectos centrais de uma das definies cartesianas de
substncia a de ser uma coisa que necessita apenas de si para existir.16 Evidentemente, esta
definio, que remete independncia ou auto-suficincia existencial, no pode ser aplicada no
mesmo sentido a Deus e s criaturas, pois estas dependem continuamente dele para existir. Para
manter a coerncia de seu pensamento Descartes ento levado a fazer um uso analgico do
termo substncia, utilizando-o para designar tanto Deus quanto as criaturas que dependem
apenas dele para existir. Por sua vez, as criaturas cuja existncia depende tanto dele quanto de
outras criaturas recebem o nome de modos.
16 Cf. Princpios da Filosofia, primeira parte, artigo LI.
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
63
Ora, o racionalismo absoluto de Espinosa no apenas recusa a tese incompreensvel da
unio substancial da alma e do corpo, mas tampouco aceita o uso analgico do termo
substncia, pois este uso incapaz de evitar a confuso conceitual. Assim, partindo da
definio de substncia como aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo concebido,
Espinosa demonstra que uma anlise rigorosa de suas conseqncias lgicas conduz tese
monista. Contra Descartes, ele estabelece, em um primeiro momento, a total incompatibilidade
entre os conceitos de substancialidade e finitude. Coisas finitas no podem ter auto-suficincia
existencial, e no pode haver vrias substncias de mesmo atributo (p.ex., vrias substncias
corporais e vrias substncias pensantes), mas apenas uma substncia infinita por atributo (p.ex.,
uma substncia material infinita e uma substncia pensante infinita). Em um segundo momento,
Espinosa demonstra, ainda contra Descartes, que a diferena entre os atributos substanciais
(pensamento e extenso) no acarreta nenhuma oposio entre eles, e argumenta que s pode
haver uma nica substncia para todos os atributos, cada um dos quais infinito no seu gnero.
essa substncia nica, constituda por infinitos atributos, que Espinosa identifica a Deus. Assim, o
pensamento e a extenso (os dois nicos atributos conhecidos por ns) no constituem
substncias distintas, mas duas expresses diferentes e infinitas de uma nica realidade
substancial. Com isso, Espinosa, contra Descartes e a tradio filosfica e teolgica, eleva a
matria dignidade de atributo divino e sustenta que o universo material infinito e o universo
mental infinito so duas expresses diferentes de uma mesma realidade.
Essa tese monista se completa com a tese panentesta. Com efeito, como s existe uma
nica substncia, Deus, e como tudo o que existe substncia ou modificao da substncia, as
coisas particulares nada mais so que modificaes que Deus produz em si mesmo, isto , as
coisas naturais (tanto materiais quanto mentais) de que ele a causa imanente. Com essa noo de
causa imanente, ou seja, de uma causa que no age do exterior e que no se separa de seu efeito,
Espinosa rompe com a concepo tradicional de Deus como um ser transcendente que cria a
Natureza ex nihilo. Porm, a distino que Espinosa estabelece entre o plano dos atributos que
constituem a essncia de Deus plano que ele denomina Natureza Naturante e o plano dos
modos que so os efeitos produzidos pela substncia divina plano que ele denomina Natureza
Naturada permite caracterizar sua famosa identificao entre Deus e a Natureza no
propriamente como uma forma de pantesmo, mas sim como uma forma de panentesmo. Com
efeito, a expresso pantesmo freqentemente entendida como estabelecendo uma identidade
no matizada entre Deus e as coisas finitas, enquanto a expresso panentesmo enfatiza a
distino de essncia que preservada no seio da relao que vincula a substncia aos seus
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
64
modos. Assim, segundo a tese panentesta, todas as coisas existem em Deus e Deus existe em
todas as coisas, sem que esta relao imanente acarrete qualquer confuso entre a essncia de
Deus e as essncias dos modos.
a relao de causalidade que explica a passagem da Natureza Naturante Natureza
Naturada. Esta relao, por sua vez, se enraza no fato da essncia da substncia divina ser uma
potncia causal inesgotvel. O conceito de potncia, que desempenha uma funo capital em toda
a filosofia de Espinosa, no designa uma capacidade cujo exerccio seria contingente, isto , que
poderia se exercer ou no, mas uma atividade causal necessariamente determinada pela essncia
da prpria substncia divina a produzir tudo o que concebvel. Como a expresso tudo o que
concebvel abarca uma infinidade de coisas, a atividade causal de Deus dotada de uma
plenitude inesgotvel. Por outro lado, como Espinosa assimila a relao de causalidade a uma
relao de natureza matemtica, os efeitos imanentes produzidos pela substncia so to
necessrios quanto as propriedades derivadas de uma figura geomtrica, e, assim como estas, so
desprovidos de qualquer finalidade. Deus, ou seja, a Natureza Naturante, uma espontaneidade
regrada e livre que produz sem nenhuma finalidade as essncias e existncias de tudo o que
concebvel.
Como a potncia o aspecto dinmico da essncia de Deus, e como essa essncia
constituda por seus diferentes atributos, cada um dos atributos exerce essa potncia em
conformidade com seu gnero de ser de forma totalmente autnoma, isto , sem interao causal
com os outros atributos. Assim, a matria infinita produz corpos e o pensamento infinito produz
idias. Porm, esta produo autnoma dos modos no exclui a existncia de uma rigorosa
correlao entre eles, pois, como demonstra Espinosa, todos os atributos expressam uma mesma
substncia e agem segundo um mesmo princpio de ordenao causal. Por isso, ele afirma que
quer concebamos a Natureza sob o atributo da extenso, quer sob outro atributo qualquer,
encontraremos sempre uma s e mesma ordem, em outras palavras, uma s e mesma conexo de
causas, isto , encontraremos sempre as mesmas coisas seguindo-se umas das outras.17 Portanto,
assim como a extenso e o pensamento so expresses distintas da mesma substncia, assim
tambm um modo da extenso e a idia deste modo so uma e a mesma coisa, mas expressa de
duas maneiras diferentes. Esta tese importantssima designada pela maioria dos intrpretes de
Espinosa com o nome de tese do paralelismo.
Na produo de um modo finito, dois aspectos distintos devem ser considerados. Por um
lado, as essncias desses modos so produzidas de maneira direta e incondicional pela substncia
17 Cf. EIIP7S
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
65
divina.18 Assim, essas essncias dependem causalmente da substncia, mas independem umas das
outras. Como as coisas finitas so modificaes certas e determinadas da essncia de Deus, e
como esta essncia uma potncia causal inesgotvel, Espinosa demonstra que as essncias das
coisas finitas so expresses certas e determinadas da potncia de Deus, de forma que no existe
coisa alguma de cuja natureza no resulte qualquer efeito.19 Assim, por meio de suas essncias,
todas as coisas finitas participam em graus diversos do dinamismo causal da Natureza, sendo
dotadas de uma potncia de agir. Ou seja, toda coisa uma causa. Por outro lado, a produo da
existncia espao-temporal dos modos finitos condicionada por um nexo infinito de causas
finitas, de maneira que cada coisa ou evento espao-temporal remete a outra coisa ou evento
espao-temporal. As coisas finitas, portanto, no existem no espao e no tempo de forma isolada,
mas sempre entrelaadas com outras que com elas interagem favorecendo ou impedindo o pleno
exerccio de sua potncia de agir. Por isso, esta potncia se exerce necessariamente sob a forma
de um esforo. Este esforo o fundamento ltimo de toda a tica de Espinosa.
Na segunda parte da tica, intitulada Da natureza e origem da mente, Espinosa aplica
suas teses metafsicas gerais ao caso particular do homem. Como h uma nica substncia, Deus,
a mente humana no uma substncia pensante finita, como pensava Descartes, mas um modo
finito do atributo pensamento, determinado pelas leis lgicas e psicolgicas que regem este
atributo. Ou seja, a mente humana uma idia, a saber, idia do corpo humano existindo em
ato.20 O corpo, por sua vez, tampouco uma substncia extensa finita, mas apenas um modo
finito do atributo extenso, determinado pelas leis do movimento que regem o mundo fsico. A
unio da mente e do corpo, portanto, no , como para Descartes, a mistura incompreensvel de
duas substncias metafisicamente independentes, mas, em conformidade com a tese do
paralelismo, a dupla expresso de uma nica modificao da substncia absoluta.
Uma conseqncia importante da tese do paralelismo a tese do pan-psiquismo, segundo
a qual todos os seres so animados em diversos graus.21 Afinal, todo corpo possui uma
expresso mental no atributo pensamento. Assim, para determinar em que a mente humana
difere das outras e as supera, precisamos conhecer a natureza do seu objeto, isto , do corpo
humano, pois a complexidade de cada mente diretamente proporcional complexidade do
corpo que o seu correlato. Ora, o corpo humano um corpo extremamente complexo, pois
composto por vrios corpos dotados de alto grau de composio. Conseqentemente, a mente
18 Cf. EIP25: Deus causa eficiente no apenas da existncia das coisas, mas tambm de sua essncia. 19 Cf. EIP36 20 Cf. EIIP13 21 Cf. EIIP13S
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
66
humana possui uma complexidade equivalente ao corpo, sendo tambm ela composta de vrias
idias. Como afirma Espinosa: a idia que constitui o ser formal da mente humana no
simples, mas composta de muitas idias.22 Ora, esta afirmao implica uma clara ruptura com a
tese clssica da simplicidade da alma. Assim, comeamos a ver como o monismo e o paralelismo,
ao romperem com o postulado da substancialidade e da simplicidade da alma, levam Espinosa a
excluir a primeira tese constitutiva da teoria tradicional da imortalidade da alma.
Porm, da tese do paralelismo segue-se igualmente que, se o corpo perece, a alma tambm
perece. Como, ento, Espinosa pode afirmar que a mente humana no pode ser inteiramente
destruda com o corpo, mas algo dela permanece que eterno?23 A nica resposta compatvel
com a tese do paralelismo consiste em defender que h tambm no corpo algo que eterno. No
se trata, no entanto, de defender a doutrina tradicional da ressurreio do corpo aps a morte. O
que Espinosa defende que a essncia do corpo, como a essncia de qualquer coisa, por ser
derivada de forma direta e incondicional da essncia eterna da substncia divina dotada de uma
realidade eterna que no se confunde com a existncia temporal do prprio corpo. Qual a
natureza desta realidade eterna?
Espinosa sustenta que toda coisa concebida como possuindo duas formas de existncia
atual, uma existncia eterna e uma existncia temporal:
Concebemos as coisas como atuais de duas maneiras: ou enquanto existem em relao com um tempo e um local determinados, ou enquanto esto contidas em Deus e se seguem da necessidade da natureza divina. Ora, as que so concebidas como verdadeiras ou reais desta segunda maneira ns as concebemos sob a perspectiva da eternidade (sub specie aeternitatis).24
A passagem acima deixa claro que a existncia concebida sub specie aeternitatis no uma
existncia caracterizvel pelo tempo, no sendo, portanto, uma durao indefinida. Segundo
Espinosa, a eternidade no pode ser explicada pela durao ou pelo tempo, mesmo quando a
durao concebida como no tendo princpio nem fim.25 Ou seja, a eternidade no definida,
22 Cf. EIIP15 23 Cf. EVP23 24 Cf. EVP29 25 Cf. EI Def.8: Por eternidade compreendo a prpria existncia, enquanto concebida como se seguindo, necessariamente, apenas da definio de uma coisa eterna. Explicao: Com efeito, uma tal existncia , assim como a essncia da coisa, concebida como uma verdade eterna e no pode, por isso, ser explicada pela durao ou pelo tempo, mesmo que se conceba uma durao sem princpio nem fim. Cabe observar que Espinosa distingue as noes de tempo e durao. O tempo apenas um ente de Razo, isto , um modo de pensar meramente subjetivo que serve para explicar a durao mediante procedimentos comparativos (Cf. Pensamentos Metafsicos, Parte I, cap.1). A durao, por sua vez, a continuao indefinida na existncia (Cf. EII def.5), ou seja, um tipo de existncia real distinto da existncia eterna. Por isso, o uso que muitos comentadores fazem da expresso atemporalidade para
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
67
como ocorre na tradio aristotlica, como omnitemporalidade ou sempiternidade, mas como
atemporalidade, de modo que a ela no se aplica propriamente nenhuma categoria temporal: na
eternidade no h nem quando, nem antes, nem depois....26 Espinosa adota uma concepo
segundo a qual a realidade eterna deve ser compreendida como uma verdade necessria (como,
por exemplo, uma verdade matemtica) cuja validade totalmente independente do tempo e da
durao. A eternidade da essncia, portanto, como a eternidade do objeto de uma frmula
geomtrica que define a construo de uma figura e permite deduzir suas propriedades intrnsecas
necessrias.27 Ora, a principal conseqncia desta compreenso atemporal e matemtica da
eternidade que a vida eterna, contrariamente ao que sustenta a segunda tese da concepo
tradicional, no pode ser pensada como um prolongamento ou continuao da durao aps a
vida presente. Mas se a eternidade no pode ser pensada temporalmente como uma continuao
da vida aps a dissoluo do corpo, ento no cabe caracteriz-la como uma forma de
imortalidade, pois esta noo se define pela referncia a um acontecimento eminentemente
temporal, a saber: a morte do corpo.28 Esta parece ser a razo pela qual Espinosa exclui o termo
imortalidade do lxico da tica.
Vimos acima que a mente a idia do corpo existindo em ato. Como nada pode existir
nem ser concebido sem a sua essncia, pois a essncia que determina o que uma coisa , a
existncia do corpo na durao envolve a sua essncia. Como as essncias de todas as coisas so
conseqncias necessrias e diretas da essncia eterna de Deus, todas as essncias herdam de sua
causa divina uma realidade eterna. Por isso, Espinosa pode demonstrar que uma idia
necessariamente dada em Deus que exprime a essncia de tal ou tal corpo sob um aspecto da
eternidade, e que esta idia pertence prpria essncia da mente.29 Assim, a mente constituda
por duas partes coexistentes: uma parte temporal e uma parte eterna. Sua parte temporal consiste
na idia do corpo existindo em ato na durao. Sua parte eterna consiste na idia da essncia
eterna do corpo.
referir-se eternidade no deve ser tomado como significando apenas a impossibilidade de medir uma durao infinita, mas como significando um tipo de existncia desprovido de durao. 26 Cf. EIP33S2. 27 No Tratado da reforma do entendimento Espinosa elabora uma teoria da definio gentica em conformidade com a qual a definio perfeita aquela que define um objeto a partir de sua regra de construo. Assim, por exemplo, a definio gentica da esfera a de uma figura engendrada pelo movimento de um semicrculo em torno do dimetro. A definio gentica, ao nos oferecer o cdigo gentico pelo qual se constri um determinado objeto, como a frmula que representa a essncia eterna deste objeto. 28 Parece-me, assim, que Chantal Jaquet tem razo ao sublinhar com insistncia que a caracterizao da eternidade como imortalidade conduz a defini-la negativamente pela referncia morte e, assim, a mant-la quoi quon dise, toujours confusment lie des considrations temporelles (Sub Specie Aeternitatis: tudes ds concepts de temps, dure et trnit chez Spinoza; ditions Kim, 1997, p.83-84). 29 Cf. EVP22
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
68
Ora, dadas as teses do paralelismo e do pan-psiquismo, fica claro que esta demonstrao
vlida universalmente. A mente de qualquer corpo possui uma parte eterna que expressa no
pensamento a essncia eterna deste corpo. Deste ponto de vista, todas as mentes participam
igualmente da eternidade, no existindo entre elas nenhuma diferena. No entanto, h uma
segunda forma de participao na eternidade que permite a Espinosa estabelecer uma diferena
no apenas entre a mente humana e as outras mentes, mas tambm entre a mente do sbio e a do
ignorante. Esta participao na eternidade depende das idias que a mente possui, o que, por sua
vez, depende do seu grau de complexidade e de sua respectiva potncia de pensar. esta segunda
perspectiva que permite a Espinosa estabelecer uma conexo entre o progresso intelectual
realizado por cada indivduo, o aumento quantitativo da parte eterna de sua mente, seu grau de
autoconscincia e seu aperfeioamento tico.30
Com efeito, Espinosa demonstra que a parte eterna da mente consiste no intelecto, cujas
idias representam adequadamente a realidade sob o aspecto da eternidade. A parte temporal da
mente, por sua vez, contm as idias que constituem a imaginao, idias pelas quais a mente
percebe confusamente os corpos exteriores a partir das diversas maneiras como seu prprio
corpo afetado por eles. Dentre estes dois tipos de idias, so as idias adequadas do intelecto
que nos permitem conhecer a verdade. Assim, quanto mais a mente progride no exerccio de sua
capacidade intelectual, mais ela amplia o conjunto de idias adequadas que constituem sua parte
eterna e mais ela se torna consciente dos aspectos eternos e imutveis da Natureza: quanto
maior o nmero de coisas que a mente conhece pelo segundo e pelo terceiro gneros de
conhecimento, tanto maior a parte dela que permanece ilesa.31
Todas as idias da parte eterna da mente, ou seja, do intelecto, nos permitem conhecer
aspectos eternos, necessrios e imutveis da realidade. Porm, estas idias se dividem em dois
gneros de conhecimento: a razo (segundo gnero de conhecimento) e a cincia intuitiva
(terceiro gnero de conhecimento). As idias da razo, chamadas de noes comuns, representam
as propriedades comuns das coisas. Por isso, elas nos fazem conhec-las no em sua
singularidade, mas apenas como instncias particulares de leis naturais, tais como as leis do
movimento dos corpos. Sendo universais e necessrias, estas noes constituem contedos
comuns a todos os homens e, por isso, fonte de acordo entre eles. J as idias adequadas da 30 Para a correlao entre o grau de autoconscincia e a superioridade tica do sbio, cf. EVP42S: O ignorante, alm de ser agitado, de muitas maneiras, pelas causas exteriores, e de nunca gozar da verdadeira satisfao de nimo, vive, ainda, quase inconsciente de si mesmo, de Deus e das coisas, e to logo deixa de padecer, deixa tambm de ser. Por outro lado, o sbio, enquanto considerado como tal, dificilmente tem o nimo perturbado. Em vez disso, consciente de si mesmo, de Deus e das coisas, em virtude de uma certa necessidade eterna, nunca deixa de ser, mas desfruta, sempre, da verdadeira satisfao do nimo. 31 Cf. EVP38
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
69
cincia intuitiva, gnero supremo de conhecimento, nos permitem conhecer as coisas em sua
singularidade, deduzindo as idias de suas essncias singulares a partir da idia da essncia eterna
e infinita de algum atributo de Deus. a cincia intuitiva que nos permite conhecer as essncias
das coisas singulares como efeitos necessrios, diretos e imanentes da produtividade inesgotvel
de Deus, ou seja, da plenitude da Natureza. Por isso, ela que promove o conhecimento de nossa
eternidade em Deus e gera o mais alto contentamento interior que podemos almejar. Para
Espinosa, todo conhecimento intelectual gera um contentamento, mas no caso da cincia
intuitiva o contentamento nasce da compreenso de nossa potncia intelectual como parte da
potncia de Deus e, por isso, acompanhado da idia de Deus como causa. Ora, uma alegria
acompanhada da idia de sua causa o que define o amor. Assim, a cincia intuitiva gera o amor
intelectual de Deus. dela, portanto, que nasce nossa suprema felicidade.
Ora, o progresso do conhecimento intelectual um processo que ocorre na durao, de
modo que a conscincia dos aspectos eternos da realidade que este conhecimento proporciona e
a felicidade suprema que ele engendra podem ser conquistadas durante a existncia temporal.
Com isso, vemos como a quarta tese da doutrina tradicional da imortalidade pessoal rejeitada
por Espinosa. A conscincia da eternidade uma experincia cognitiva e afetiva que podemos
desfrutar nesta vida se ns a vivermos racionalmente, e no algo que esperamos atingir em outra
vida se agirmos contra a nossa natureza nesta vida.
H ainda dois pontos que precisamos abordar. O primeiro diz respeito questo do
carter pessoal ou no da parte eterna da mente, ou seja, do intelecto. Afinal, que relao o ncleo
de idias adequadas que constituem a parte eterna da mente tem com minha identidade e com o
que sou na durao? O segundo tem a ver com a funo tica exercida pela teoria da eternidade.
Vejamos o primeiro ponto.
Espinosa sustenta que todas as idias da imaginao (o que inclui as idias da memria)
dependem das idias das afeces do corpo humano, isto , das idias das imagens que so
produzidas e registradas no corpo a partir de sua interao com os corpos exteriores. Por isso, um
indivduo s pode ter imaginao e lembranas na medida em que o seu corpo existe na durao.
Ou seja, a imaginao e a memria esto inteiramente conectadas parte temporal da mente, de
modo que no h nenhuma memria especificamente intelectual vinculada sua parte eterna.
Como afirma Espinosa: a mente no pode imaginar nada, nem recordar-se das coisas passadas,
seno enquanto dura o corpo.32
32 Cf. EVP21
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
70
Ora, h uma importante passagem da quarta parte da tica em que Espinosa parece
indicar que a memria uma condio necessria da identidade pessoal. Nesta passagem,
Espinosa afirma no ver nenhuma razo para considerar que a transformao do corpo em
cadver seja uma condio necessria da morte, e sugere que basta para tal que o corpo sofra uma
transformao radical de sua natureza. Esta transformao exemplificada com o caso de um
poeta espanhol que, em virtude de uma amnsia profunda, esqueceu-se to completamente de sua
vida passada que dificilmente poderia ser considerado como sendo a mesma pessoa.33
Ora, se a memria constitutiva da personalidade, e se ela depende exclusivamente das
idias que constituem a parte temporal da mente, parte esta que destruda com o corpo, ento a
parte eterna da mente desprovida de identidade pessoal, pois nela no h registros biogrficos.
Esta conseqncia nos permite ver como a recusa da tese da memria intelectual se articula com
a excluso de qualquer interpretao moralizadora da doutrina da eternidade da mente e faz parte
do conjunto de teses mediante as quais Espinosa rompe com as concepes tradicionais da
imortalidade. Com efeito, a capacidade de nos lembrarmos de nossas aes passadas condio
necessria de sua imputabilidade, pois alguma lembrana dessas aes passadas necessria para
que ns sejamos as mesmas pessoas que as realizaram e para que possamos arcar com as suas
conseqncias em uma suposta vida aps a morte. Junto com as crenas imaginativas no livre-
arbtrio, na substancialidade da alma, na continuao de sua existncia na durao aps a
destruio do corpo e na existncia de um Deus pessoal, legislador moral e juiz supremo, a tese
da memria funda o temor do castigo eterno e a esperana de uma recompensa por termos
suportado nesta vida o fardo da moralidade. Ora, como vimos, Espinosa rejeita radicalmente
estas crenas.
Mas ser que a dissoluo de uma identidade pessoal fundada nas lembranas biogrficas
significa a supresso de todo e qualquer tipo de individualidade da parte eterna da mente? Alguns
intrpretes sustentam que a despersonalizao do intelecto equivale abolio de qualquer
individualidade real. Dentre estes intrpretes h aqueles, como Nadler, que defendem que
Espinosa reduz a parte eterna da mente a uma mera coleo annima de idias adequadas, e que
33 Cf. EIVP39S: Compreendo que a morte do corpo sobrevm quando suas partes se dispem de uma maneira tal que adquirem, entre si, outra proporo entre movimento e repouso. Pois no ouso negar que o corpo humano, ainda que mantenha a circulao sangunea e outras coisas, em funo das quais se julga que ele ainda vive, pode, no obstante, ter sua natureza transformada em outra inteiramente diferente da sua. Com efeito, nenhuma razo me obriga a afirmar que o corpo no morre a no se quando se transforma em cadver. Na verdade, a prpria experincia parece sugerir o contrrio. Pois ocorre que um homem passa, s vezes, por transformaes tais que no seria fcil dizer que ele o mesmo. Tal como ouvi contarem de um poeta espanhol, que fora atingido por uma doena e que, embora dela tenha se curado, esqueceu-se, entretanto, de tal forma de sua vida passada que acreditava que no eram suas as comdias e tragdias que havia escrito; e, certamente, se tivesse esquecido tambm sua lngua materna, se poderia julg-lo uma criana adulta.
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
71
ao proceder desta forma ele estaria levando s suas ltimas conseqncias lgicas uma posio
que j se encontra em dois dos mais importantes filsofos judeus racionalistas do perodo
medieval: Maimnides e Gersnides.34 Outros intrpretes sustentam, em contradio direta com
as exigncias do racionalismo naturalista de Espinosa, que a experincia da eternidade se realizaria
mediante uma fuso ou dissoluo mstica da individualidade na substncia divina.35
No entanto, estas concluses me parecem equivocadas. Com efeito, a parte eterna da
mente no se limita a conhecer contedos cognitivos comuns mediante idias adequadas que so
idnticas em todas as mentes36, pois Espinosa enfatiza que esta parte eterna exprime a essncia de
tal e tal corpo humano, de forma que a expresso dessa essncia singular eterna lhe confere
uma irredutvel individualidade.37 Ou seja, a prpria essncia eterna de cada coisa finita dotada
de uma singularidade que independe das afeces adquiridas por esta coisa ao longo de sua
histria na durao. Alm disso, toda a potncia que o intelecto possui para conhecer
adequadamente a realidade, seja pelo segundo seja pelo terceiro gneros de conhecimento,
derivada do fato dele conceber a essncia singular do seu corpo sub specie aeternitatis38, o que
garante que no apenas a mente tem uma parte eterna singular, mas que ela capaz de tornar-se
consciente desta singularidade eterna ao apreender a multiplicidade de seus conhecimentos
34 Esta leitura minuciosamente defendida por Nadler em seu livro Spinozas Heresy: Immortality and the Jewish Mind (Oxford, 2000, cap. 4 e 5), e resumida da seguinte forma em seu livro Spinozas Ethics: an Introduction (Cambridge, 2006, p.269): In fact, we can regard Spinozas doctrine as a kind of natural and logical culmination of earlier Jewish philosophical approaches to immortality. Spinozas third kind of knowledge, the body of adequate ideas that persist after ones death, is, for all intends and purposes, the acquired intellect posited by Maimonides and others and which they used to explain what they call immortality. For Spinoza, as well as for those medieval thinkers, the eternal (or immortal) element of the mind consists only in the sum of a persons intellectual achievements in this life. [] But, Spinoza seems to be saying, if that is all you mean by immortality, a persisting body of intellectual knowledge, then here is what you must ultimately conclude namely, that the traditional and highly personal doctrine of the immortality of the soul is a myth grounded in superstition. A mesma assimilao da parte eterna da mente a um mero conjunto abstrato de idias adequadas defendida por Daniel Garber em seu artigo A Free Man Thinks of Nothing Less than of Death (publicado em Mercer, C. and ONeill E. (eds), Early Modern Philosophy: Mind, Matter, and Metaphysics, Oxford University Press, Oxford, 2005, p.108): the real me, warts (i.e., inadequate ideas) and all, does not really exist in Gods intellect [] For Spinoza, the eternal existence we attain by becoming more and more rational is simply the existence of an idea or collection of ideas in the infinite intellect of God. 35 Vrias so as linhas interpretativas do sistema de Espinosa como uma forma de misticismo. Para um exame crtico detalhado destas diversas abordagens remeto a Chau (A idia de Parte da Natureza em Espinosa; in Discurso, 24, 1994, p.57-127). 36 Estes contedos cognitivos comuns a todas as mentes tanto podem ser noes comuns constitutivas da Razo quanto idias dos atributos de Deus que fornecem o ponto de partida da Cincia Intuitiva. Em ambos os casos estas idias adequadas esto igualmente presentes em todas as mentes humanas (Cf. EIIP38C e EIIP47S). 37 Cf. EVP22: ...hujus & illius Corporis humani essentiam sub aeternitatis specie exprimit. Espinosa no utiliza na tica a expresso essncia singular da coisa, mas apenas a expresso essncia da coisa singular. Porm, como as propriedades comuns no constituem a essncia de nenhuma coisa singular (cf.EIIP37), e como ele utiliza no T.R.E. as expresses essncia particular (93 e 98) e essncia ntima da coisa (95), perfeitamente possvel defender a legitimidade da primeira expresso para dar conta de sua posio. 38 Cf. EVP29: Tudo o que a mente compreende sob a perspectiva da eternidade no o compreende por conceber a existncia atual e presente do corpo, mas por conceber a essncia do corpo sob a perspectiva da eternidade.
-
Marcos Andr Gleizer
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
72
intelectuais. por isso que Espinosa pode concluir a tica mencionando o elo eterno que vincula
a sabedoria e a satisfao interior conscincia de si: o sbio, enquanto considerado com tal,
dificilmente tem o nimo perturbado. Em vez disso, consciente de si mesmo, de Deus e das
coisas, em virtude de uma certa necessidade eterna, nunca deixa de ser, mas desfruta, sempre, da
verdadeira satisfao de nimo.39
Passemos, por fim, funo tica exercida pela teoria da eternidade. A preservao de um
cerne individual constitutivo da parte eterna da mente crucial para determinar esta funo.
Afinal, se minha essncia eterna em nada coincidisse comigo, por que a conscincia de sua
eternidade me afetaria e me alegraria? Qual seria o sentido do esforo para conquistar a
conscincia de uma eternidade que em nada me concerne?
Vimos acima que a recusa em assimilar a individualidade do intelecto identidade pessoal
fundada na memria se articula claramente com a excluso do conjunto de teses que caracterizam
as concepes tradicionais e moralizadoras da imortalidade. Com isso, a teoria da eternidade
exerce uma funo crtica liberadora, pois ela destri o temor que nasce da incerteza do que nos
espera em uma ilusria vida post mortem. Porm, a teoria da eternidade no se esgota em sua
funo crtica, mas exerce tambm uma tarefa liberadora positiva na transformao de nossa
relao com a morte.
Uma das teses mais importantes e mais famosas da tica consiste na afirmao de que
um homem livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria uma meditao da vida e
no da morte.40 Esta tese, demonstrada por Espinosa antes e independentemente de qualquer
considerao sobre o tema da eternidade da mente, repousa sobre o fato de que o homem livre
aquele cuja conduta internamente determinada pelas idias do intelecto, idias das quais nascem
apenas afetos ativos de alegria. Por isso, na medida em que o homem racional e livre, sua
conduta no pode ser determinada por paixes tristes como o medo da morte. Porm, nenhum
homem totalmente racional e livre, pois, na medida em que ele existe na durao, seu corpo
afetado por coisas exteriores, sua mente possui idias imaginativas e ele est necessariamente
exposto s paixes. Na filosofia de Espinosa, tudo o que ocorre aos seres finitos questo de
39 Cf. EVP42S. A defesa da preservao de um tipo de individualidade eterna que no se confunde com a identidade pessoal ou biogrfica exige evidentemente uma anlise pormenorizada dos diferentes critrios de identidade aplicveis a um ente humano segundo Espinosa. Esta anlise, que pretendemos desenvolver em um prximo artigo, deve elucidar o critrio ontolgico geral responsvel pela individuao de corpos e mentes (a essncia singular eterna que define estruturalmente e dinamicamente o indivduo e que se expressa, na durao, atravs do esforo para preservar sua forma), e o critrio especfico (ligado s afeces passivas, formao de hbitos e preservao da memria) que, em acrscimo ao primeiro, constitui a identidade pessoal ou biogrfica que o indivduo adquire na durao. 40 Cf. EIVP67
-
A heresia de Espinosa: eternidade da mente X imortalidade pessoal
Revista ndice [http://www.revistaindice.com.br], vol. 03, n. 01, 2011/1
73
graus, dosagens e propores. A liberdade humana um processo de liberao no qual as idias
do intelecto progressivamente vo predominando sobre as idias da imaginao, invertendo,
assim, as relaes de fora que tendem naturalmente a favorecer estas ltimas. Ora, a reflexo
sobre a eternidade completa este processo. Com efeito, ela nos ensina que as idias do intelecto
derivam da parte eterna da mente, de modo que o aumento quantitativo do conhecimento
intelectual torna cada vez mais insignificante os contedos imaginativos e passionais que
perdemos com a morte. Como diz Espinosa: Quanto mais a mente conhece as coisas pelo
segundo e terceiro gneros de conhecimento menos ela teme a morte.41 Alm disso, e
independentemente de consideraes quantitativas, a teoria demonstra que o contedo da parte
eterna da mente intrinsecamente mais perfeito e, portanto, qualitativamente superior, ao de sua
parte temporal.42 Assim, a intensidade da experincia cognitiva e afetiva que a atividade intelectual
proporciona intrinsecamente mais valiosa do que a continuao indefinida de uma existncia
marcada pela passividade e pela servido. Com isso, a tristeza decorrente da conscincia de que
nossa existncia na durao inevitavelmente ter um fim se revela impotente diante da alegria
suprema que resulta da compreenso de que a essncia singular de cada coisa finita concebvel
uma conseqncia necessria da essncia eterna de Deus, e da compreenso de que uma
verdade eterna que a produo de cada essncia singular na durao condio para a realizao
da plenitude e riqueza inesgotveis da Natureza.
41 Cf. EVP38 e EVP39 42 Cf. EVP40C