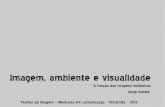Mídia Mediaçao Visualidade-2
-
Upload
debora-jesus -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of Mídia Mediaçao Visualidade-2
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 1
A Visualidade como Paradigma da Comunicao enquanto Cincia Moderna e PsModerna1
Lucrcia DAlessio Ferrara 2
Resumo: Tomando como eixo de reflexo e anlise os conceitos de sociedade do espetculo e simulao, respectivamente de Debord e de Baudrillard a fim de estudar as mediaes que ocorrem atravs dos apelos da visualidade, investiga-se a diferena entre a imagem caracterstica da sociedade moderna e suas prticas comunicativas e a imagem tcnica estudada por Flusser, onde se detalham as diferenas epistemolgicas que se estabelecem entre a imagem tradicional, entendida como linear, e a prpria imagem tcnica, entendida como de superfcie. Este ensaio confronta as epistemologias e metodologias da comunicao inerentes imagem adotada pelo consumo modernista e a imagem digital que, exageradamente tcnica, mais do que imagem porque pela ausncia de iconicidade atinge caractersticas de visualidade que apresentam desafios perceptivos e cognitivos e a transformam em imagem ps-moderna. Confrontam-se, portanto, as epistemologias da imagem e da visualidade, a cincia moderna e a psmoderna. Palavras-chave: epistemologia, comunicao, imagem, visualidade
1. A comunicao entre o moderno e a modernidade
A cincia, como a cultura, sofre as consequncias das transformaes sociais que decorrem
dos processos econmicos, polticos e tecnolgicos de produo da sobrevivncia: a
passagem do moderno para a psmodernidade cenrio das profundas mudanas do nosso
tempo. Na evidncia dessa mudana, Boaventura de Sousa Santos prope a emergncia de 1 Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Epistemologia da Comunicao, do XVIII Encontro da Comps, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em junho de 2009. 2 Professor doutor do Programa de PsGraduao em Comunicao e Semitica/Pucsp [email protected]
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 2
uma dupla ruptura epistemolgica que, secundando uma primeira virada epistemolgica,
garantiria cincia, a possibilidade que poderia apontar para para uma cincia psmoderna
voltada para o reencontro do senso comum em uma espcie de reedio da revoluo
copernicana que garantiria:
um trabalho de transformao tanto do senso comum como da cincia. Enquanto a primeira ruptura imprescindvel para constituir a cincia, mas deixa o senso comum tal
como estava entes dela, a segunda ruptura transforma o senso comum com base na
cincia constituda e, no mesmo processo, transforma a cincia. Com essa dupla
transformao pretende-se um senso comum esclarecido e uma cincia prudente, ou
melhor, uma nova configurao do saber que se aproxima da phronesis aristotlica, ou
seja, um saber prtico que d sentido e orientao existncia e cria o hbito de decidir
bem. ( Sousa Santos, 1989:33)
Ressuscita-se, portanto, a phronesis aristotlica que prope uma possvel conexo entre a
cincia e o senso comum, entre a prtica e a conhecimento, mantendo contudo as
distines e as diferenas entre a realidade e a reflexo ou entre o conhecimento e aquela
realidade que se faz visvel e se concretiza pela palavra e a linguagem.
Essa relao que nos remete ao sculo IV A.C. fortssima porque sobre ela se concentram
as bases da retrica, da mediao entre interlocutores e, no limite, da comunicao. Com a
autoridade de estudioso da cultura grega, Jean Pierre Vernant traa o percurso dessa troca
como sucednea da razo e, com ela, de construo das bases fundamentais da cultura:
A razo grega no se formou tanto no comrcio humano com as coisas quanto nas
relaes dos homens entre si. Desenvolveu-se menos com as tcnicas que operam no
mundo que por aquelas que do meios para domnio de outrem e cujo instrumento
comum a linguagem: a arte do poltico, do reitor, do professor. A razo grega a que
de maneira positiva, refletida, metdica, permite agir sobre os homens, no transformar a
natureza. Dentro de seus limites como em suas inovaes. filha da cidade (Vernant,
2008: 143)
Na retrica encontra-se, portanto, o incio oficioso da comunicao e na phronesis, a
possibilidade da sua epistemologia. Retrica e phronesis seriam, portanto, bases oficiosas
da comunicao e da sua cincia. Nas relaes de trocas que percorrem todos os planos do
trabalho da produo ao consumo, se estrutura a vida coletiva onde os homens aparecem,
simultneamente, como produtores, como sujeitos e como objetos, como emissores e como
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 3
receptores. Na dinmica dessas trocas surge a causa e o efeito da vida coletiva e nela, a
verso oficiosa das mediaes que sero mais tarde, no sculo XIX, oficialmente
recuperadas pela comunicao como domnio cientfico especfico de estudo das relaes
sociais atravs de mediaes. Na construo daquela razo retrica, encontrava-se a
capacidade de argumentar, de expressar, de comunicar com destreza e habilidade;
manifestava-se o antigo conceito de techn que, quela altura, nada tinha em comum com a
manipulao de suportes tcnicos da comunicao. Com a retrica encontra-se a base da
comunicao e o incio de um nome que faz da construo do estar em comum, a raz de
um modo de ser social e individual que encontra na plis seu lugar de exposio e
construo que se quer pblica, coletiva, social, enfim.
Roland Barthes em artigo clebre ( 1970) de indispensvel leitura, no hesita em classificar
a retrica como metalinguagem onde se coordenam uma prtica social que inaugura a
propriedade da palavra que desenvolve uma proto-cinciae coloca em atividade prticas
bsicas como observao e classificao dos fenmenos para distinguir homogeneidades e
diferenas. Sobre a eficincia dessa metalinguagem, se projeta a tcnica argumentativa que
permite convencer, persuadir e se intensificar atravs do aparato instrumental que congrega
as capacidades de reproduo e de multiplicao capazes de transformar a realidade
sujeitanto-a, no mais ao jgo da seduo argumentativa, mas eficincia de um verbal
passvel de ser modelizado de modo cada vez mais direcionado, medida em que o apelo
visual surge como recurso sensvel cada vez mais afeito a previsibilidades e interesses
comunicativos.
Da relao face a face ao vnculo comunicativo, recrudesce a dimenso programada de
uma comunicao como instrumento para atingir um efeito. Sem equvoco, possvel
afirmar que da comunicao face a face quela vinculativa/veculativa caminha-se da
retrica tecnologia, da comunicao argumentativa, quela reiterativa e redundante, da
prtica social e coletiva de produzir consensos, sociedade da comunicao que esquece
sua base oficiosa para restringir-se a um aparato tecnolgico e instrumental que faz da
comunicao um tautismo social como quer Lucien Sfez (1994) ao apontar, entre
sociedade e tecnologia da comunicao, tal dependncia que reduz a primeira segunda, a
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 4
fim de gerar uma totalidade explicativa, capaz de simplificar o fenmeno comunicativo, os
desvios da sua prtica e suas perspectivas epistemolgicas.
Essa simplificao explicativa acaba por valorizar o fenmeno comunicativo como
realidade social de vinculao entre os homens, marca-se o nascimento oficial da
comunicao como tcnica que emerge no final do sculo XIX ao lado dos dispositivos
decorrentes da primeira revoluo industrial mecnica e das suas consequncias sociais que
levaram os homens concentrao populacional em cidades e a outras maneiras de
produzir, ganhar a vida e estabelecer relacionamentos.
Estamos no final do sculo XIX com o aparecimento dos primeiros instrumentos tcnicos
de comunicao, com os sistemas de transporte fluvial, martimo e terrestre e sua
decorrentes facilidades e rapidez de contatos, ao lado do correio e do desenvolvimento da
imprensa e, como consequncia, do jornal e da democratizao da informao a expandir-
se, com rapidez e eficincia, na massa social que evolui para a rede e substitui a romntica
multido do incio do sculo XIX e dos albores modernistas.
Aderindo ideologia de um progresso inalienvel, certeiro e inquestionvel como meta a
ser atingida, a comunicao se perfila, sem hesitao, necessidade de planejar, divulgar e
disseminar estratgicamente as diretrizes de uma sociedade cada vez mais articulada e
organizada em um plano de objetivos centralizados que devem ser propagadas,
comunicados. Com a eficincia desse programa, necessrio convir que a comunicao
uma cincia moderna. Porm, se esse incio histrico constitui marca da comunicao
como cincia social, tambm e paradoxalmente, seu estigma.
Ao lado dessa marca histrica, a comunicao enfrentou, de um lado, o confronto entre o
moderno e a modernidade ou psmodernidade entendidas como contradies socias e
humanas e, de outro lado, o difcil dilogo entre compromisso histrico da comunicao e
sua teoria que procura a phronesis entre a prtica e a reflexo.
O confronto entre o moderno e a modernidade como conceitos histricos e sociais est no
cerne do desenvolvimento de uma Teoria de Comunicao e enfrentar esse desafio supe
entender o que significam aqueles conceitos e, sobretudo, as relaes que propem que
eles se articulem a fim de produzir uma teoria crtica da comunicao. Essa crtica
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 5
possibilitaria entender a comunicao atravs de caminhos que esto muito alm de um
aparato tcnico e tecnolgico ou de sua manipulao estratgica como instrumento linear
de uma adequao social programada. A abertura desse horizonte crtico obriga o
desenvolvimento de uma anlise que, inventariando as consequncias da comunicao
como cincia moderna, leva a enfrentar suas caractersticas como cincia psmoderna.
Ignorante das suas internas contradies, o moderno coeso na edificao de uma ordem
planejada na reflexo e na ao e defendida atravs da comunicao. Entre inteno e ao,
se consolida a defesa moderna da ordem e essa atmosfera embala o bero da comunicao
como cincia social situada no mago de aporia entre o moderno e o psmoderno, entre a
ordem e sua ambivalncia.
Nesse ambiente unnime uma pressuposio tcita: ser e escolher o que se deve ser. Na
proposio, veiculao e conservao dessa ordem, se situa a gnese da comunicao como
cincia social que se coloca como instrumento do Estado e, como consequncia, que ensina
a ver aquilo que se deve ser, ou que se deve ver.
Surgindo nesse contexto, a comunicao como cincia moderna assume, sem
constrangimento, sua pretenso de levar o pblico a adotar crenas e comportamentos
adequados ordem. Uma clara postura administrada do legislador apontado por Bauman,
embora travestida de cincia empiricamente conduzida, que no desdenha um efeito
objetivo a ser atingido junto ao pblico. Esse o cenrio em que a Histria da
Comunicao situa os empiricismos cientficos que deram origem quilo que se chamou
comunicao de massa.
Entre seu efeito e seu objeto cientfico, a comunicao contaminada pela natureza
pragmtica que a faz, ao mesmo tempo, instrumento da ordem moderna, mas em trnsito
ambivalente para a psmodernidade. O objetivo desse trabalho o estudo dessa natureza
cientfica que confunde objetivos com objeto cientfico e admite que os efeitos de um
instrumento possam ser a base argumentativa de uma cincia.
Enquanto cincia social, a comunicao assume a estranha ambiguidade que a leva, de um
lado, a assumir a funo administrativa da veiculao da ordem atuando, portanto, como
intermediria entre o coletivo e o intersse do Estado e desenhando-se como infra-cincia
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 6
social. De outro lado, no desconhece a capacidade que, inerente aos meios tcnicos, pode
leva-la a aderir mediao, troca que superaria a passividade de um receptor
unidimensional, como o nomeou Marcuse em sua obra.
Mas o homem no unidimensional e comunicao no cabe reduzir-se quela funo
administrativa e instrumental: aqui o mago da dimenso social da comunicao surge de
modo definitivo. Em uma complexa relao social que se intensifica de meados para o fim
do seculo XX, as relaes comunicativas surgem como foras sociais, coletivas, produtivas
e reprodutivas:
Estamos ento no mago da questo, ou seja, preciso considerar o mundo da comunicao como lugar no qual as grandes foras sociais do saber e da comunicao se
colocam como as nicas foras produtivas. O trabalho coletivo da humanidade toma
consistncia na comunicao e o paradigma comunicacional se identifica pouco a pouco,
mas com uma evidncia cada vez maior, com o do trabalho social, com o da
produtividade social. A comunicao se torna a forma pela qual se organiza o mundo da
vida com toda a sua riqueza...... O trabalho humano de produo de uma nova
subjetividade ganha toda a sua consistncia no horizonte virtual aberto cada vez mais
pelas tecnologias da comunicao. (Negri, 1993: 174 e 175)
Esse o inabalvel caminho da comunicao que evolui, de uma cincia moderna
transparente norteada por uma coordenao centralizadora que submete aos seus apelos o
homem, a sociedade e a realidade, para uma outra que procura ser agente da sua prpria
histria social, no progressiva e linear, mas evolutiva pois se apresenta na trilha de
caminhos no rotineiros ou administrados:
Antes de mais a impossibilidade de pensar a histria como um curso unitrio,
impossibilidade que, segundo a tese aqui sustentada, d lugar ao fim da modernidade,
no surge apenas da crise do colonialismo e do imperialismo europeu: tambem e talvez
mais, o resultado do nascimento dos meios de comunicao de massa. Estes meios
jornais, rdio, televiso, em geral o que se chama hoje em dia telemtica foram
determinates no processo de dissoluo de pontos de vista centrais, daqueles que um
filsofo francs, Jean Franois Lyotard, designa como as grandes narrativas ( Vattimo,
1992: 10 e 11)
A emergncia definitiva de uma sociedade da comunicao abre quela cincia, o
complexo horizonte social, no mais transparente e moderno, mas ambiguo e psmoderno:
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 7
A tese que pretendo propor que, na sociedade dos media, em vez de um ideal de
emancipao modelado pela auto-conscincia completamente definida, conforme o
perfeito conhecimento de quem sabe como esto as coisas( seja ele o Esprito Absoluto
de Hegel ou o homem mais escravo da ideologia como o pensa Marx) abre caminho a um
ideal de emancipao que tem antes na sua base a oscilao, a pluralidade, e por fim, o
desgaste do prprio princpio de realidade ( Vattimo, 1992: 13)
Distanciando-se de uma transparncia instrumental manipuladora e alienada, surge a
comunicao como cincia psmoderna, s voltas com o desafio de definir a
fenomenologia dos meios que a fazem comunicante e, sobretudo, definitivamente social.
Superando qualquer tendncia de periofizao scio-hisstrica, essa posmodernidade
entendida como estado de desconforto epistemolgico do pesquisador ante a necessidade
de definio de um campo cientfico:
A ambivalncia, possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma
categorioa, uma desordem especfica da linguagem, uma falha da funoo nomeadora
(segregadora) que a linguagem deve desempenhar. O principal sintoma de desordem o
agudo desconforto que sentimos quando somos incapazes de ler adequadamente a
situao e optar entre aes alternativas ( Bauman:1999:09)
2.Comunicao: meio e mediao
Da antiga raiz social que emerge na gora grega atravs de argumentaes e mediaes
procura da construo do bem coletivo, a cincia da comunicao no conservou ntida
lembrana. Ao contrrio, entre os sculos XIX e XX, aturdida com a emergncia e
expanso social e territorial das novas tecnologias que deram origem aos veculos de massa
como os jornais, o rdio e, mais tarde, a televiso; a nascente cincia social da
comunicao adere, sobretudo, eficincia transmissiva daqueles veculos e parece se
confundir com as prprias tecnologias que os caracteriza. Portanto, ao passar de um
instrumento linear de transmisso para a dimenso que a faz partcipe de uma sociedade
mais complexa porque menos transparente, a cincia da comunicao encontra na
definio de meio comunicativo seu primeiro obstculo.
Embora os meios no se confundam com a tecnologia dos suportes, h necessidade de
serem delimitados, porm no como objeto, mas como aes que se desenvolvem
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 8
motivadas pelas tecnologias dos suportes. Aquelas aes se ampliam e se expandem pelo
processo interativo que faz implodir repertrios, valores culturais, tenses sociais e
polticas que, sediadas nos contextos exclusivos de realidades particulares de recepo,
assumem caractersticas distintas, mas sempre desconcertantes e imprevisveis. Desse
modo, se de um lado, imprescindvel a discriminao evolutiva das caractersticas
tecnolgicas dos suportes, de outro lado, necessrio e urgente estudar o modo como
aquelas caractersticas so recebidas e, sobretudo, como interferem e so interferidas pelos
processos culturais e polticos contextualizados em distintos territrios ou grupos sociais.
Esse processo de dupla mo que caracteriza os meios os transforma em processos
agenciadores da dinmica comunicativa e, por isso mesmo, em desafio epistemolgico
insubmisso a teorias explicativas ou a mtodos que, mecnicamente, procuram reduzir
aquela dinmica.
Na histria circular dos meios enquanto agenciadores de espacialidades comunicativas,
observa-se que a imagem tem sido apontada como elemento que, explorada pelos meios de
massa e, notadamente pela televiso, desenvolve a atuao manipulativa do imaginrio
receptivo, massageado pelos interesses polticos ou mercantis daquela comunicao
entendida como instrumento passivo a servio daqueles interesses.
Mas no contexto dessa habitual interpretao, possvel perceber que a imagem no um
produto de comunicao programada, mas decorrncia de um meio que, na consecuo do
seu ambiente interativo, patrocinado pela visualidade e no apenas pelo seu produto. Ou
seja, entende-se que a visualidade mais ampla e complexa do que a imagem que,
estudada como instrumento comunicativo, est claramente marcada como manifestao de
transparncia e ordem exigida por uma cincia moderna.
3. A comunicao como imagem
No h como negar que a visualidade o meio central da sociedade que se expande de
meados do sculo XIX aos anos 80 do sculo XX onde se assinala o fim da metanarrativa
moderna para dar lugar sua transformao que se vem nomeando sociedade psmoderna.
Entretanto se, na sociedade moderna, a visualidade se manifesta como imagem e articula
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 9
uma lgica da comunicao de massa; depois dos anos 80, essa lgica desmontada por
uma avalanche comunicativa que invade e constri os ambientes vitais e se manifesta
prpriamente como uma visualidade hbrida e sinestsica que se oferece, mas no se impe
percepo e ateno.
O american way of life, baseado na racionalidade industrial e no valor de troca
comercial expandido pela publicidade e pelo consumismo, reduziu a visualidade como
meio comunicativo imagem que, consumida sem cessar, sintetiza e revela a dinmica
social e cultural que chamou a ateno da cincia, desencantada com a insuficincia
pragmtica do marxismo e com a sociedade definitivamente rendida seduo do valor de
troca e da sua imagem.
No parmetro dessa seduo, Dbord e Baudrillard, pelo menos na primeira fase das
respectivas produes tericas, criam, respectivamente, os conceitos chaves para a
compreenso da dinmica mediativa dos meios de massa ou da indstria cultural:
sociedade do espetculo e simulao. Nos dois conceitos, enfrenta-se a dimenso da
imagem como produto de uma razo comunicativa voltada para a culturalizao
instrumental das sociedades e dos comportamentos. Nos dois tericos encontram-se
snteses reveladoras dessa instrumentalizao:
O esperculo no um conjunto de imagens, mas uma relao social entre pessoas,
mediada por imagens( Dbord, 1997: 14)
Em Baudrillard, encontra-se o desenvolvimento de uma idia similar:
Dissimular fingir no ter o que se tem. Simular fingir ter o que no se tem. O
primeiro refere-se a uma presena, o segundo a uma ausncia( Baudrillard,1991: 14)
Nos dois casos, prevalece a comunicao mediada pelos seus efeitos de natureza simblica
que eficientemente mediada pelo valor de troca e pelo faz-de-conta da publicidade e
substitui a realidade pela imagem que a comercializa. A sociedade do espetculo, conceito
chave da obra clssica de Dbord, reduz a vida social e suas relaes comunicativas ao
consumo de imagens entendidas como produto inexorvel do modo de produo capitalista
onde a comunicao aparece no cerne de uma sociologia marxista que concebe o capital na
gesto totalitria das relaes sociais:
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 10
O espetculo o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma,
seu monlogo laudatrio. o auto-retrato do poder na poca de sua gesto totalitria das
condies de existncia...... Se o espetculo, tomado sob o aspecto restrito dos meios de
comunicao de massa, que so sua manisfeatao superficial mais esmagadora, d a
impresso de invadir a sociedade como simples instrumentao, tal instrumentao nada
tem de neutra: ela convm ao automovimento total da sociedade. ( Dbord, 1997: 20 e
21)
Intensamente planificada para atender razo operatria do consumo, a imagem a
dimenso de uma visualidade que reduz sua capacidade interativa ao consumo a servio da
totalidade comercial do capital: portanto, essa imagem produto expandido do capital.
Baudrillard em O Sistema de Objetos (1968), Para uma Crtica da Economia Poltica do
Signo(1972) e Simulacros e Simulao(1981), desenvolve aquela teoria social da
comunicao situando-a em um outro patamar ao dimensionar, atravs do objeto, o
consumo no domnio da vida privada e das relaes sociais familiares: o consumo do
objeto j se impunha como a melhor forma de assumir valores simplesmente simulados:
A passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos signos que dissimulam que
no h nada, marca a viragem decisiva. Os primeiros referem-se a uma teologia da
verdade e do segredo ( de que faz ainda parte a ideologia). Os segundos inauguram a era
dos simulacros e da simulao, onde j no existe Deus para reconhecer os seus, onde j
no existe Juzo Final para separar o falso do verdadeiro, o real da sua ressureioa
artificial, pois tudo est j antecipadamente morto e ressuscitado. ( Baudrillard,
1981:14)
Expandindo o espetculo desencantado de Dbord, a simulao de Baudrillard reduz, mais
uma vez, a visualidade dimenso produtiva da imagem e a copacidade do meio ao efeito
social de uma comunicao instrumental. Nos dois casos, temos uma teoria social da
comunicao e no uma teoria dos meios comunicativos; temos uma teoria dos efeitos da
imagem e no uma teoria da visualidade como meio comunicativo, temos uma cincia da
contingncia social que fica aqum das contradies modernas finalmente reveladas pela
psmodernidade.
Enquanto efeito, a imagem est a servio de uma causa que a agencia e subordina, fazendo-
a simulao do real e do social, fazendo-a simulao de uma comunicao realmente
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 11
interativa. Enquanto efeito, a imagem se circunscreve lgica linear que patrocina relaes
de causa e consequncia e banalizam o processo comunicativo, na medida em que o reduz
ao simples efeito hegemnico de uma imagem redundante do prprio consumo ou da
crena no poder do capital.
4. A comunicao como visualidade
Enquanto meio comunicativo, a visualidade vai muito alm da imagem e, como
consequncia, no apenas visual, mas polissensvel e hbrida, pois convoca a energia de
todos os sentidos que, em dilogo, orientam-se para a mediao, para a troca que no
linear porque, no planejada, pode encontrar paradoxos que assinalam incomunicao ou
sua estril realidade:
Nunca antes na histria, a comunicao foi to boa e funcionou de forma to extensiva
como hoje. O que as pessoas pensam na dificuldade de produzir dilogos efetivos, isto
de trocar informaes com o objetivo de adquirir novas informaes. E essa dificuldade
deve ser conduzida diretamente ao funcionalmento hoje em dia to perfeito da
comunicao, a saber, deve ser dirigida para a onipresena dos discursos predominantes,
que tornam todo dilogo impossvel e ao mesmo tempo desnecessrio ( Flusser, 2007:
98)
Por essa citao, virifica-se que Flusser ilustra com clareza os impasses da visualidade
como meio comunicativo. Entretanto, necessrio percorrer detalhes do desenvolvimento
do seu pensamento para perceber que sua diferena fundamental, no considerar a
imagem um produto comunicativo como ocorre com os dois autores anteriores, ao
contrrio, parece-nos que Flusser procura em textos amplamente conhecidos do meio
acadmico nacional como Ensaio sobre a Fotografia(1998), Filosofia da Caixa Preta(2002),
O Mundo Codificado( 2007) O Universo das Imagens Tcnicas ( 2008), uma teoria da
visualidade enquanto meio que gera um ambiente que envolve relaes sociais, trocas
simblicas, comportamentos e valores porm na desintegrao espontnea da linearidade:
Os fios condutores que ordenam o universo em processos e os conceitos em juzos
estariam se desintegrando espontaneamente e no por terem sido cortados. Estariam se
desintegrando precisamente por termos nos agarrado a eles e por termos permitido a eles
que nos guiem. Ao termos seguido tais fios at o ncleo de universo, teramos descoberto
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 12
que, nesse ncleo, os processos ( causais e outros) se desintegram e os colares se
desfazem em partculas soltas. ( Flusser, 2008: 23)
Enquanto teoria da visualidade que se plasma na dificuldade perceptiva de uma
espacialidade circular que se ope facilidade de percepes imediatas e lineares,
possivel identificar as razes da imagem tradicional e da imagem tcnica oriunda do
desenvolvimento dos suportes tecnolgicos da informao e da comunicao. Nos dois
casos, a visualidade no simples produto planejado para atingir um efeito, ao contrrio,
registra, marca, assinala a espacialidade comunicativa embora, com distintas matrizes
construtivas. O registro da imagem tradicional se faz pela analogia e sua capacidade de,
com o recurso do imaginrio, multiplicar imagens ou produzir imagens de imagens; o
registro da imagem tcnica se faz pela possibilidade de reproduzir o referente. Porm, nos
dois casos, trata-se de visualidade que registra uma possibilidade da expanso
comunicativa, embora inusitada e imprevisvel no seu ritmo, fora e consequncia.
Assinala-se, portanto, a diferena entre a imagem como efeito programado e aquela que
decorre da visualidade como meio comunicativo flexvel e mvel:
Com toda imagem nova o universo imaginrio da sociedade transformado, e o poder
da imaginao faz com que a rigidez da circunstncia, anterior produo de imagens,
seja substituda pela fluidez e maleabilidade ( Flusser, 2008: 21)
Entretanto, enquanto visualidade, a imagem tradicional se ope imagem tcnica: se a
primeira sobretudo registro adaptado contemplao ou exponibilidade em muitos
casos ritual e mtica( Belting, 2004:42 e 189), a segunda sobretudo, operativa como
artefato de uma espacilaidade cognitiva que registra uma nova maneira no s de ver, mas
sobretudo de estar no mundo:
....tal imaginao produtora de imagens tradicionais diametralmente oposta
imaginao produtora de tecno-imagens. De fato, a oposio de tal ordem que parece
fonte de confuso chamar as duas pelo mesmo termo. Talvez devamos inventar termo
novo para designar essa nova capacidade que est nascendo, emergindo da conscincia
histrica e modificando nosso estar-no-mundo ( Flusser, 2008: 22)
Como se observa, Flusser desenvolve uma outra matriz para compreender a visualidade,
trata-se de uma dimenso cognitiva que se distancia da contemplao ou do consumo.
Porm, para compreendermos essa diferena, necessrio distanciarmos esse modo de ver
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 13
daquele que caracteriza a imagem que se consome. Mais do que uma teoria da imagem,
Flusser desenvolve uma teoria da visualidade que no se confunde com a espetacularidade
anterior ou seu efeito social como anestsico perceptivo. Diferem a imagem e a
visualidade, mas ambas, caracterizam epistemologias distintas da comunicao:
transformamos uma cincia moderna em outra, psmoderna.
5. A visualidade como cincia psmoderna
A extenso dessa visualidade vai da imagem tradicional para aquela tcnica que supera a
linearidade para desenvolver-se em superfcie e indo alm da sua adequao mimtica em
relao ao mundo:
No se trata mais apenas do problema da adequao do pensamento coisa, mas do
pensamento expresso em superfcies coisa, de um lado, e do pensamento expresso em
linha do outro ( Flusser, 2007: 104)
O homem ente que, desde que estendeu a sua mo contra o mundo, procura preservar
informaes herdadas e adquiridas, e ainda criar informaes novas. Esta a sua resposta
`a morte trmica, ou, mais exataemnte, morte. Informar a resposta que o homem
lana contra a morte ( Flusser, 2008: 26)
Da linha superfcie ou da imagem simblica visualidade em processo de semiose,
temos uma mudana no modo de conhecer; uma transformao epistemolgica que coloca
para a comunicao um novo caminho, pois desafia o modo como se pode comunicar:
Imagens tcnicas so pois produtos de aparelhos que foram inventados com o propsito
de informarem, mas que acabam produzindo situaes previsveis, provveis.
Precisamente, tal contradio inerente s imagens tcnicas desafia os produtores das
imagens. O seu desafio o de fazer imagens que sejam pouco provveis do ponto de
vista do programa dos aparelhos. O seu desafio o de agir contra o programa dos
aparelhos no interior do prprio programa. (Flusser, 23008: 28)
Esta desprogramao no ocorre apenas no nvel tcnico, mas se desenvolve na percepo
que, em juzo cognitivo, exige que se passe do reconhecimento de um efeito para a
cognio de distinta visualidade dos meios, quando ultrapassam a tecnologia da
comunicao de massa para aquela digital com lgicas totalmente distintas que no nos
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 14
permitem confundir comunicao de massa e a possibilidade apenas possvel da
comunicao atravs dos meios digitais:
Decifrar imagens tcnicas implica revelar o programa do qual e contra o qual surgiram,
decifrar imagens tradicionais impleica revelar a viso do produtor, sua
ideologia....Neste ponto do argumento preciso abandonarmos o modelo da histria da
cultura que serviu at aqui para localizarmos a posio das imagens tcnicas na cultura, e
tentarmos captar, fenomenologicamente a maneira pela qual estamos atualmente no
mundo. preciso tentar captar como nos movimentamos atualmente no mundo, para
podermos compreender como tomamos conscincia do mundo e de ns mesmos (
Flusser, 2008: 29/30)
Na fenomenologia dessa mudana, sugere-se outras epistemolgia e metodolgia do modo
de conhecer porque os dois nveis se embaralham: se h mudana no objeto do
conhecimento que se desenvolve entre o concreto e o abstrato, entre o visvel e o invisvel,
exige-se que esse estranho objeto em quase dissoluo, seja enfrentado atravs de outros
cuidados metodolgicos. Essa mudana nos leva a ultrapassar o simples ver contemplativo
da imagem para enxergar a mudana e a ela reagir, favorvel ou desfavorvelmente. Passa-
se da visualidade para a visibilidade. ( Ferrara, 2002: 94)
Superando a ambiguidade que as duas palavras apresentam em portugus, esta diferena
est contida no conceito de superficialidade:
Em suma: a definio de imaginar foi formulada para articular a revoluo
epistemolgica, tico-poltica e esttica pela qual estamos passando. Para articular a nova
sensao vital emergente.
A definio faz o elogio da superficialidade ( Flusser, 2008: 45)
Essa traduo do objeto cientfico em superficialidade aderente superfcie de uma
cognio dispersa, transforma a produo do conhecimento em aventura heurstica e livre
de certezas tericas ou empricas. Surge uma nova metodologia: trata-se do tatear que,
curiosamente, expande a visualidade para o ttil e vem confirmar a dimenso sinestsica e
hbrida da visualidade quando passa do efeito ideolgico da mensagem para revelar o meio
movente e em expanso comunicativa. Esse tatear supe tecer a inferncia cognitiva,
enredando o visvel e o invisvel, o epistemolgico e o metodolgico.
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 15
Sobretudo se considerarmos a comunicao que decorre do digital, esse tatear supe um
estranho questionamento histrico, porque os objetos a tatear no chegam jamais a ser
tateados, visto que, sem lugar e sem referentes, so hiper-reais, conforme quer
Baudrillard, e oferecem-se ao conhecimento revelia da histria que poderia localiz-los
ou lugariz-los:
O homem histrico, informado por textos e com conscincia estruturada linearmente
por textos, vive em universo que exige ser lido: natura libellum. O universo se
apresenta, ao homem histrico, enquanto sries de sinais codificados que precisam ser
decifrados ( explicados, interpretados)....Depois da decomposio do universo em
elementos pontuais ( e depois da decomposio da conscincia em bits de informao)
essa postura histrica se tornou inoperante: como os fios ordenadores dos sinais em
cdigos se desintegraram, o universo perdeu o seu carter de texto, tornou-se ilegvel.
Nada h a explicar e a interpretar em mundo que consiste de partculas soltas. ( Flusser,
2008: 50)
Porm, esse objeto digital, tateado na sua contra-referencialidade imaginada e imaginria,
se situa em um panorama vazio de cognio, porque no reproduz qualquer conhecimento
anterior, surge sempre como novo e intocado e se apresenta como uma metfora, um
devaneio visual muito distante daquela dimenso espetacular da imagem-consumo. Ante
os bits digitais, tudo mnimo, transitrio e sem ambio de sobrevivncia, embora
altamente participativo como estmulo cognitivo ou acmulo de experincias. Essa
estranha epistemologia de situaes imprevistas, carregadas de estmulos afetivos exige o
mtodo do tatear ou um mtodo deriva, conforme Guy Dbord ( 1956) o batizou e
atravs do qual pretendia, no s explorar epistemologicamente a cidade como meio
comunicativo, mas sobretudo exorcizar, poltica e socialmente a sociedade do
espetculo. Assim v-se que o psmoderno est dentro do moderno ou a imagem, dentro
da visualidade, como o novo no velho.
6. Referncias bibliogrficas
Barbero, Jesus Martin- Dos Meios s Mediaes. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2006 (4 ed)
Barthes, Roland- LAncienne Rhtorique em Communications, 16. Paris, Seuil, 1970
-
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
www.compos.org.br 16
Baudrillard, Jean. Simulacros e Simulao. Lisboa: Relgio dAgua, 1991
Bauman, Zygmunt. Modernidade e Ambivalncia. Rio de Janeiro, Zahar, 1999
Belting, Hans. Pour une anthropologie des images. Paris: Gallimard, 2004
Bourdieu, Pierre. Por uma Sociologia da Cincia. Lisboa, Ed. 70, 2004
Dbord, Guy. A Sociedade do Espetculo.Rio de Janeiro: Contraponto, 1997
Dbord, Guy. Teoria da Deriva ( 1956) em Apologia da Deriva Escritos Situacionistas
sobre a Cidade (Paola Berenstein Jacques, org). Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003
Ferrara. Lucrcia dAlessio. Design em Espaos. So Paulo: Rosari, 2002
Flusser, Vilm. O Mundo Codificado. So Paulo: Cosac Naify, 2007
Flusser, Vilm. O Universo das Imagens Tcnicas. So Paulo: Annablume, 2008
Negri, Antonio. Infinitude da Comunicao/Finitude do Desejo em Imagem Mquina
(Andr Parente, org). Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993
Santos, Boaventura de Sousa. Introduo a uma Cincia Ps-Moderna. Porto,
Afrontamento, 1989
Sfez, Lucien. Crtica da Comunicao. So Paulo, Loyola, 1994
Vattimo, Gianni. A Sociedade Transparente. Lisboa, Relgio dAgua, 1992
Vernant, Jean Pierre. As Origens do Pensamento Grego- Rio de Janeiro, Difel, 2008 (17
ed)